You are currently browsing the category archive for the ‘A Minha Aldeia’ category.
Requeijão até fartar, iscas de fígado, molho de escabeche, taborna, caldudo, roupa velha, sei lá… são recordações, são saudades na pituitária. São sabores arreigados, entranhados em nós. Alguns deles, hoje proibidos: nunca mais os provarei. Eram comidas do arco-da-velha…

 Começo com um aviso prévio ao leitor. Hoje alguns autores escrevem, e põem no fim dos textos uma notinha assim: «Este artigo não respeita o novo Acordo Ortográfico por expressa vontade do autor». Pois bem, eu quero fazer uma declaração bem mais abrangente: «Este texto não só não respeita o tal Acordo, como ainda acrescento que não respeita as normas de escrita da língua portuguesa oficial nalguns casos concretos de rigorosa expressão oral do Casteleiro. Isto, para dispensar a dispersão de aspas a cada pé de passada.»
Começo com um aviso prévio ao leitor. Hoje alguns autores escrevem, e põem no fim dos textos uma notinha assim: «Este artigo não respeita o novo Acordo Ortográfico por expressa vontade do autor». Pois bem, eu quero fazer uma declaração bem mais abrangente: «Este texto não só não respeita o tal Acordo, como ainda acrescento que não respeita as normas de escrita da língua portuguesa oficial nalguns casos concretos de rigorosa expressão oral do Casteleiro. Isto, para dispensar a dispersão de aspas a cada pé de passada.»
Vamos, então, aos sabores especiais…
 Alguns destes pitéus tinham um circuito muito específico: passavam pelas tascas, pelos reservados das tascas – melhor ainda, enquanto se jogava às cartas a doer, dias inteiros (não tanto nós, mas mais a geração anterior à nossa que, tida e achada era na tasca. Muitas vezes, a petiscar pratinhos deliciosos destes que aqui refiro hoje).
Alguns destes pitéus tinham um circuito muito específico: passavam pelas tascas, pelos reservados das tascas – melhor ainda, enquanto se jogava às cartas a doer, dias inteiros (não tanto nós, mas mais a geração anterior à nossa que, tida e achada era na tasca. Muitas vezes, a petiscar pratinhos deliciosos destes que aqui refiro hoje).
Outros tempos…
Até as batatas fritas com ovos estrelados parece que eram melhores do que as de hoje – e se calhar eram mesmo. E as baratas salteadas? Uih!
Mas há coisas que acabaram mesmo. Como o chicharro de escabeche, por exemplo. Ou jaquinzinhos de escabeche. Parece que o modo como esse molho era obtido o tornava explosivo dentro do organismo. Portanto, adeus, fala-se dele, mas nunca mais o provarei. Hoje sabe-se que faz muito mal. Isso, que se chama educação alimentar, junto com as naturais debilidades do organismo… tornam essas iguarias proibidas.
Ou seja: nunca mais me toca nos dentes.
Quando o Rei faz anos
 Comer uma bica, espalmada, saborosa. Comer um doce, espécie de biscoito popular, grande, alto ao centro – ou, melhor ainda, um esquecido. A mesma coisa mas com massa diferente e bem mais doce.
Comer uma bica, espalmada, saborosa. Comer um doce, espécie de biscoito popular, grande, alto ao centro – ou, melhor ainda, um esquecido. A mesma coisa mas com massa diferente e bem mais doce.
Papas, aquele pitéu à base de carolo (farinha de milho) – que delícia. Eram feitas pelas ceifas e pela malha.
Ou então uma roupa velha, mistura especial de batata partida aos quadradinhos pequenos, couve, alho etc.. Também se chamam batatas salteadas, batatas arranjadas – era assim que se chamava este prato. São um pitéu que «faxavor»…
Miga de feijão com trigo – que coisa boa!
Disto, ainda se vai provando agora de vez em quando, quando o Rei faz anos.
Comidas do outro mundo
 Torresmos, que se chamavam carne gorda bem retchinada – eis algo absolutamente proibido hoje. Queijo curado a sério, daquele de apeguilhar com o pão.
Torresmos, que se chamavam carne gorda bem retchinada – eis algo absolutamente proibido hoje. Queijo curado a sério, daquele de apeguilhar com o pão.
Lá de vez em quando, uns tartulhos e talvez até uns míscaros. Sempre com muito cuidado, por causa dos venenos destes «bichinhos». Para prevenir, punha-se um objecto de prata dentro da panela quando estavam a cozer. Se escurecesse – alto e pára o baile, que é venenoso…
E o requeijão. Ena! Que maravilha.
As iscas de fígado, a taborna (pão frito em azeite, mas de forma muito especial). A verdadeira taborna era aquela que se fazia no lagar no dia em que se ia lá fazer o azeite.
O caldudo ainda nos lembra de vez em quando. Era um sabor especial: as castanhas secas, piladas, feitas em caldo. Uma coisa castanha, bem líquida, com as castanhas a boiar. Delícia, também.
 Por vezes alguém recorda:
Por vezes alguém recorda:
– E as sopas de cavalo cansado?
Sabe o que é isso? Água, um pouco de vinho, açúcar, pão lá dentro… Muito bom!
Do porco, três especialidades muito apreciadas cá para estes lados, sem deitar fora nada do resto: a bucheira, a morcela (a única feita a sério é a da minha terra, mas a daqueles tempos de quando eu era jovem: sem artifícios: só sangue, gorduras, pão e cominhos); e ainda os ossos do porco (a coluna vertebral do bicho), que se comiam pelo Carnaval.
Consegui impressioná-lo, leitor?
Era mesmo essa a intenção: pô-lo a lamber os lábios de saudade ou de inveja…
Bom proveito.
Nota final: Quero registar com grande alívio que uma tal «Anabela» poderá afinal ser mulher ou homem, ser do PSD ou do CDS mas nunca do PS, ao que me dizem; que afinal a minha intuição inicial me guiou bem; e que oficialmente o PS se desvinculou do comentário insidioso ou pior ainda. Refiro-me, naturalmente, a alguns dos comentários inseridos aqui. Leia e pense pela sua cabeça, como é sempre aconselhável.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Brejeirice – mas desta vez no tratamento de umas pessoas a outras. Adoro estes modos de falar do Povo, quando em acção no dia-a-dia, isto é, sem a pessoa estar preocupada «ai, ai, o que é que vão pensar de mim».

 Ninguém tem receio do que vão pensar terceiros. Fala-se e pronto. Sem rebuço. Não há qualquer retraimento. Não: quando se está ali no ambiente bem conhecido, sem mirones, não há esses cuidados. Sai cada uma, que até ferve…
Ninguém tem receio do que vão pensar terceiros. Fala-se e pronto. Sem rebuço. Não há qualquer retraimento. Não: quando se está ali no ambiente bem conhecido, sem mirones, não há esses cuidados. Sai cada uma, que até ferve…
São apodos meio brejeiros, meio sérios.
São saltos de língua rápida, dos quais em geral não vem mal ao mundo.
Os ditos nestes casos são formas de falar. Trazem elogios e pancada de meia-noite, tudo de língua. São momentos únicos de má-língua, de língua afiada. O autor ou se dirige expressamente ao visado ou fala de outrem que não está presente. Não que faça muita diferença. Mas faz alguma. Se eu bem entendo, os apodos mais «ofensivos» são dirigidos por mulheres a outras mulheres ou falando de uma terceira.
Um aviso prévio: às tantas deixei de colocar aspas nas expressões populares e na sua transcrição fonética por duas razões: antes de mais por uma questão de respeito pela linguagem popular, depois, para evitar aquele ar superior de intelectual de meia figa que põe aspas como que para dizer «Olha, estes tipos falam assim, mas eu bem sei que isto está errado e não segue a norma gramatical». As pessoas sempre se estiveram nas tintas para isso e são elas que fazem a língua. O resto da malta vai atrás e vai colocando as coisas nos eixos… apenas.
 Língua forte
Língua forte
«Aquilo é uma tchecória», dizia-se quando se queria chamar porca à pessoa visada. É um exemplo. Mas julgam que uma mãe não é capaz de dizer isso a uma filha? Se estivesse mesmo zangada, ia tudo à frente.
Outra muito frequente: «Tás cá c’ma gosma» (estás cá com uma gosma). Quer dizer:
– Estás muito constipado.
Mas a palavra gosma também tem outro sentido:
– Aquilo é um gosma, um chupista.
Quer dizer: está sempre à espera que lhe dêem alguma coisa ou de cravar um copo – seja lá o que for…
Verifico que há uma dose valente de qualificativos mais ou menos maldosos (aqui e ali um ou outro assim-assim, elogioso que seja) que têm aplicação geral por sexo do/a referido/a.
Assim, como adiante exemplifico.
Masculinos
Sei lá porquê, não há muitos assim, digamos, ofensivos para os rapazes. Mas há alguns. Por exemplo: «Fulano é um desasado» (não tem jeito para as coisas), que não tem ritmo, que faz tudo ao «ralanti» ( do francês «au ralenti» = muito, muito devagar).
Ou o inverso: para dizer que tem jeito diziam: «É muito àsado», ou, com mais carinho: «É muito àsadinho». Para dizer que a pessoa estava sempre disponível e fazia tudo: «É uma cestinha de mão».
Agora duas ou três mesmo no gozo, a deitar a pessoa abaixo:
– Aquilo é um babanca (não sabe o que diz).
Ou.
– Ah, malandro. Ah, candágua / cão de água… (rufia, um mal enjorcado que faz tudo mal e dá preocupações à família).
Pior:
– Esse? Esse é um colhana.
Significado: um tipo que não sabe fazer, um desajeitado.
Uma pessoa que não tem porte para nada, muito lento, quase um colhana:
– É um tchoninhas
 Femininos
Femininos
Há muitos que só se aplicam a mulheres. Estranhamente. Mas é assim. Não tenho noção de alguma vez ter ouvido estas coisas para referir ou para se dirigirem a um rapaz. Só para elas.
Mais: são elas que assim se referem a elas. Eles «tinham mais que fazer» do que estar ali ao sol / à sombra a treinar a língua (desenferrujar: era assim que se falava).
Parece misoginia mas não: é apenas história, pequena história do que era dantes… e era misógino, sim, embora sem qualquer consciência da coisa…
Por exemplo, e logo para arrasar:
– Aquilo é uma tchoca. Tem lá a casa numa tchoquice…
Isto, para dizer que a pessoa é uma valente porca que nem a casa limpa.
Já quando se queria dizer que a mulher era muito magra, dizia-se:
– É um bacalhau sueco.
E se a pessoa andava mal arranjada:
– És uma boa tchafesga das grelhas.
Já quando se chamava a uma mulher «badagoneira», isso queria dizer que a pessoa andava de porta em porta a dizer mal de umas e de outras.
– Aquela é cá um mostrunço…
Ou então:
– Manhusco…
Isso era para dizer que a pessoa é pouco arrumada e pouco limpa.
Nota
Apesar de já terem passado uns dias, não posso deixar de lhe chamar a atenção para um comentário que escrevi aqui (clique no azul para ler) – comentário por mim assinado com o meu nome verdadeiro.
Essa minha opinião versa sobre um comportamento que considero grave: alguém, a coberto de anonimato, abusou do «Capeia» e dos seus leitores para cometer o crime de fraude de informação. Acho isso imperdoável, e combato esse tipo de coisas em minha defesa e na do leitor.
Hoje trago aqui a referência para que mais pessoas possam detestar o crime cometido.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
No meio das agruras da vida, ao Povo restou sempre uma veia de piada. Uma enorme vontade de viver e de não se deixar derrotar. E isso, o instinto da sobrevivência levado ao extremo e no dia-a-dia, é fundamental. O Povo tem mesmo uma grande, enorme vontade de ser feliz, de estar bem, de contrariar as agruras da vida, custe o que custar.

 Muitos ditos populares têm por base a ironia, o sarcasmo. O bom humor anda sempre por ali, nos ditos, naquelas frases que me diziam quando era pequeno e que estão cá gravadas até hoje: as frases e as circunstâncias em que eram atiradas à criança que eu era. Mas há também os ditados muito irónicos e cheios de malandrice…
Muitos ditos populares têm por base a ironia, o sarcasmo. O bom humor anda sempre por ali, nos ditos, naquelas frases que me diziam quando era pequeno e que estão cá gravadas até hoje: as frases e as circunstâncias em que eram atiradas à criança que eu era. Mas há também os ditados muito irónicos e cheios de malandrice…
Se pensarmos que a maioria desses ditos vêm de tempos de grande dificuldade de vida, ainda nos admiramos mais.
Ditados e ditos. Acho que um ditado popular é um dito que se refere a situações pré-determinadas e que se constituem em regras de vivência e de sabedoria. Exemplo: «Pelo São Martinho, / Vai à adega e prova o vinho».
Um dito é em minha opinião uma frase que se baseia em estória antiga que nunca é contada mas que está por detrás de muitas dessas palavras que juntas numa sentença dizem tudo o que o autor quer dizer mas que muitas vezes em seu sentido profundo e em seu alcance mais lato escapam a muitos dos interlocutores – mas há sempre alguns que entendem muito bem. E, assim, a sentença ganha o dobro da força. As risadinhas e o sarcasmo rodeiam a «vítima».
 Rebelhos
Rebelhos
Primeiro dito de hoje:
– Este foi como o Manel Leitão a Rebelhos.
Era-me dito quando ia a um sítio sem objectivo ou se me enganava no que me pediam ou se me esquecia do que ia fazer.
Que história era essa, afinal, do tal Manel Leitão que terá ido a Rebelhos sem objectivo?
Parece que o rapazola era de facto muito bem mandado: fazia tudo o que lhe pediam, mesmo que se precipitasse e fosse fazer recados até antes de lhe dizerem o que era preciso ir fazer.
Então um dia alguém lhe disse:
– Ó Manel, amanhã hás-de ir a Rebelhos.
E pronto. Era preciso ir e ele foi.
Nem deu tempo de lhe dizerem o que devia ir fazer a Rebelhos nem ele perguntou.
Foi.
Do Casteleiro a Rebelhos são para lá de sete quilómetros, parece-me.
Foi.
E, quando lá chegou, é que se deu conta de que afinal nem sabia o que ia fazer.
Voltou ao Casteleiro e perguntou então o que é que tinha de ir fazer a Rebelhos…
Coitado…
A caminhada dupla e a estouvadice fizeram dele uma referência negativa: ir como o Manel Leitão a Rebelhos significou sempre na minha terra fazer primeiro e pensar depois, sobretudo se se tratar de uma caminhada.
Vai-se para o campo e não se levam as batatas para semear? È como o Manel Leitão a Rebelhos.
Chegava à minha madrinha (e avó) e não me lembrava o que ia buscar? É como o Manuel Leitão a Rebelhos…
 Edital
Edital
Esta frase sempre a ouvi chateado, porque era dita quando fazia asneira da grossa e me dava mal com o resultado.
Exemplo: estar a tentar arranjar a bicicleta mas afinal acabar por estragar ainda mais.
Aí, ou me diziam aquela do «Não te metas a mordomo sem devoção».
Mas aquela sentença que mais vezes me lembra e que mais me incomodava: «Está um edital à porta da igreja: / Quem é burro, não o seja».
Já em tempos aqui escrevi quanto esta me irritava… talvez por me chamarem burro, mesmo que indirectamente.
Qualquer das duas sentenças é, como se vê, bastante irónica e bastante brincalhona. No fundo, trata-se de chamar a atenção de forma forte mas meio a brincar, como quem dissesse: «Tens de aprender à tua custa».
Mas ambas transmitem duas coisas que em meu entender são a base da filosofia popular: por um lado, a referência religiosa que é uma constante na vida rural daqueles tempos, por outro, a imensa vontade de sorrir no meio das dificuldades da mesma vida rural da mesma época…
Abafado
Agora, uma piada minha que nunca fiz vinho – mas vi fazer muito, e aguardente e jeropiga e abafado – tudo…
E agora até aprendi que se fazem de modo diferente e que é nessa pequena diferença que está a diferença. A piada, para mim mesmo, é eu falar disto como se soubesse do que estou a falar…
Já ouviu falar de jeropiga? E de vinho abafado? Você pensa que é a mesma coisa??? Engana-se.
É isso.
Neste São Martinho até deu para provar ambos…
E sabe qual a diferença entre as duas bebidas no fabrico artesanal?
Eu explico em resumo, pelo que perguntei e me responderam.
Quando se pisa a uva, começa aí um processo de fermentação. O líquido vai ferver. Depois de ferver, começa o processo de «consolidação» do vinho, que vai durar na pipa mais de mês e meio até ser provado.
Vindima-se em Setembro e prova-se o vinho pelo São Martinho.
Ora bem: antes de o vinho ferver, ou seja, logo que está pisado, mas sem que comece a fermentar, quem quiser fazer abafado ou jeropiga tira a quantidade desejada de mosto e envereda de um dos dois processos:
– Para fazer jeropiga: mistura-se o mosto com aguardente, na proporção de 3 para 1 (25% de aguardente), mete-se no pipo ou vasilha que se quer, espera-se um dia e tapa-se antes de ferver. Passadas umas semanas valentes, abre-se e… bebe-se com estalar de lábios…
– Para fazer abafado, é tudo igualzinho, mas com uma enorme diferença: tapa-se logo que se tira da dorna onde foi pisado. O resto segue igual: como fica logo tapado, ainda fermenta menos do que a jeropiga (jurpia, no linguajar do Casteleiro!…). Depois prova-se e… é de estalar a língua.
Há muito quem escreva que abafado e jeropiga é a mesma coisa. Há quem escreva: «vinho abafado, vulgo, jeropiga». Erro. São feitos de modos ligeiramente diferentes.
Imagens
Quem ler com atenção o artigo entende a selecção das seguintes imagens:
Procissão no Casteleiro.
Rebelhos, freguesia vizinha.
Uvas pretas e belas.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Todos adoramos a nossa terra. Para cada um, a sua é a melhor, a mais bonita. Mas o Casteleiro é mesmo terra de encanto. «Em toda a Beira não há igual / É a mais bela de Portugal, / Mais pitoresca de todo o mundo.».

 Hoje trago-lhe três momentos da vivência da minha aldeia em tempos idos. Por aí se vê quão bela e diversificada era a vida na minha terra há umas décadas. Num dos temas, o Casteleiro aparece mesmo como «terra de encanto». Leia: vai gostar – e depois tenha a disponibilidade de contar também coisas da sua terra, de antanho.
Hoje trago-lhe três momentos da vivência da minha aldeia em tempos idos. Por aí se vê quão bela e diversificada era a vida na minha terra há umas décadas. Num dos temas, o Casteleiro aparece mesmo como «terra de encanto». Leia: vai gostar – e depois tenha a disponibilidade de contar também coisas da sua terra, de antanho.
Estas referências às festas e à sabedoria popular em matéria também de medicina, as restantes histórias de hoje já foram por mim abordadas noutros portais digitais. Designadamente, no ‘Viver Casteleiro’.
Talvez conte as coisas de outro modo, mas respeitando sempre a veracidade do acontecido.
1 – O mesmo número
Há dias, em roda de amigos, contei esta cena como conto muitas vezes, porque na altura me impressionou bastante. Por mais que o diga, não me canso de repetir: esta história é para mim marcante, lembro-me dela constantemente e, mesmo que quisesse, nunca conseguiria esquecê-la. Nem a história nem o seu protagonista. Estávamos em Setembro de 1968. Como já se tornara habitual, o Dr. Rosa (‘Toninho Rosa’, era como lhe chamávamos ao falar dele) dispunha-se sempre, a seguir ao jantar, a dar o seu passeio acompanhado por alguns rapazes até lá acima à escola nova (feminina). Nessas caminhadas, era um vê se te avias de perguntas ao professor de História que ele era – não sobre História, mas sobre a vida real, o que se passava aqui e na França etc.. Éramos três ou quatro amigos à beira das faculdades e alguns até já no ensino superior. Ele adorava brilhar. E tinha tiradas do arco-da-velha. Maneiras simples e sofisticadas de comunicar connosco.
Pois bem.
Nesse Setembro, como se sabe, Salazar cai da cadeira e é substituído por Marcelo Caetano.
Claro que nessa noite isso foi logo tema.
Lembro-me como se fosse há bocado.
Eu ia daí a uns dias para Direito, para a Faculdade onde Marcelo era Director e catedrático ate aí.
Com a maior das naturalidades, perguntei-lhe:
– Ó Dr. Rosa, como é que vai ser o Marcelo no Governo? Vai ser muito diferente do Salazar?
Resposta pronta dele:
– Olha: calçam o mesmo número. É só outra fôrma…
Saiu tão certo, que esta sentença me ficou para sempre.
(Na palavra «forma» não devia pôr o acento circunflexo, porque de facto a palavra não o leva: mas quis pôr, para o leitor ler correctamente).
 2 – Medicina popular
2 – Medicina popular
Há quem diga que nos encharcamos de químicos por tudo e por nada. Talvez. Exagerar é perigoso em todos os domínios. E neste caso dos medicamentos por tudo e por nada quando se tem uma constipaçãozeca (em teoria, esta palavra não devia levar o til, mas não consigo. Desculpem).
Ora bem: dantes não só não havia tanto químico à disposição, como não havia dinheiro para comprar. Assim, o Povo teve de se socorrer ao longo dos séculos de ervas e produtos da terra para minorar os efeitos das doenças.
Na minha terra, havia muitas soluções para isso.
Vamos então a duas ou três mezinhas simples que eram muito usadas no Casteleiro e que me foram relatadas por quem as conhecia bem:
Infecções graves por golpes profundos
Lavagem com borato (de sódio) – um pó branco como o bicarbonato, diz a minha fonte – e depois punha-se mel como se fosse uma pomada.
Dores de intestinos e dores menstruais
Chá de malvas e bredos mercuriais (parece erva cidreira e dá-se nas paredes. Tinha muitíssima fama há 50 anos).
Constipações e dores de garganta
Chá de sabugueiro misturado com leite. Era difícil de tomar. Tinha um sabor esquisito, diz a minha mãe.
Ou então: aguardente queimada, mel e chá de alecrim.
A propósito de ervas e poções: um dia escrevi que há ervas que não servem para nada: «Não têm utilidade: nem os cocilhos, nem as urtigas, nem as azedas». Pois bem, parece que em parte me enganei. Num «site» dedicado a estas coisas, encontrei uma pequena nota: «Da Ortiga faz-se o chorume que é uma maceração das plantas num recipiente com água e pode servir para adubar e prevenir doenças produto biológico por excelência. Se colocarmos Ortigas cortadas na cova onde se plantará a seguir os pés de tomates, serve de adubo e protege das doenças».
Mas o que é facto é que não conheço essa utilidade (nunca me foi relatada).
 3 – Inauguração da luz eléctrica
3 – Inauguração da luz eléctrica
Agora que a Junta, Câmara e EDP andam a melhorar a iluminação eléctrica das ruas principais da aldeia, vem bem a propósito recordar este episódio.
Vou lembrar o dia da inauguração da luz eléctrica.
Era assim mesmo que se dizia: a luz eléctrica. Foi em 1956. Meteu Governador Civil e tudo. Coisa séria. Coisa importante. Então era preciso receber a autoridade com pompa e circunstância. Aquilo foi uma farra, uma grande festa popular. Muita alegria, a electricidade era sem sombra de dúvida uma grande aquisição, mesmo com meia dúzia de lâmpadas na rua e de fraquíssima potência – muito sumidinhas, pareciam velas. Arranjou-se um grupo coral de jovens (rapazes e raparigas – coisa nem sempre aprovada, esta de misturar os sexos). Uma das responsáveis, Céu Mourinha, fez a letra e deve ter adaptado uma melodia, que ficou uma tal delícia que ainda hoje nos diverte quando a entoamos…
A letra era assim e foi depois usada noutras ocasiões:
Ó Casteleiro, terra de encanto,
Terra tão linda não há, não há.
É por ser bela que a amo tanto.
Nem que me paguem não vou de cá.
Quanto te deixo, ai que saudade…
Sinto os meus olhos brilhar de pranto,
Mas ao voltar que felicidade:
Sinto-me presa ao teu encanto
Em toda a Beira não há igual
Por isso a amo com amor profundo.
É a mais bela de Portugal,
Mais pitoresca de todo o mundo.
Nota sobre as imagens
Escolhi apenas imagens em que se vêem postes eléctricos por me parecer o tema mais importante.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Acreditem ou não, encontrei à venda no agora badalado portal OLX senhas de racionamento da Caparica datadas de 1945. Uma mera curiosidade. Mas isso leva-me a voltar à minha linha habitual: ligar o hoje aos ontens da nossa meninice e, neste caso, da geração anterior à minha. O racionamento deixou marcas fortes nessa geração no Casteleiro. De vez em quando, já alguém falava dos tempos do racionamento.

 Sempre ouvi falar do tempo em que havia racionamento na minha terra. Muitas vezes isso aparecia logo associado ao contrabando. Nunca percebi muito bem como é que isso era feito: está bem, para a minha casa só podiam vir umas colheres de açúcar por semana. Mas quem é que dizia quantas colheres?
Sempre ouvi falar do tempo em que havia racionamento na minha terra. Muitas vezes isso aparecia logo associado ao contrabando. Nunca percebi muito bem como é que isso era feito: está bem, para a minha casa só podiam vir umas colheres de açúcar por semana. Mas quem é que dizia quantas colheres?
Sempre ouvi dizer que uma sardinha era para três. Mas não sabia que isso se devia ao racionamento. Pensava que era mesmo porque não havia dinheiro para nada.
Hoje sei que se juntava tudo numa só década: a absoluta indigência das populações empobrecidas até ao limite mínimo, por um lado, e, por outro, o racionamento dos bens alimentares (e não só, mas era isso, basicamente, embora a gasolina e a electricidade também sofressem limitações).
A tudo isso somava-se o facto de para muitos bens haver uma espécie de requisição estatal permanente que se destinava a garantir que Portugal exportava para a Alemanha e para a Inglaterra uma determinada quota de pescado e de metais como o volfrâmio, por exemplo.
Tudo junto, deu uma situação de penúria total com as pessoas a terem de se defender com esquemas – cada um como podia.
 Guerras e racionamento
Guerras e racionamento
O Casteleiro sofreu como todos os recantos do País quando na década de 40 o Estado estabelece a venda de apenas pequenas quantidades de bens de consumo – foi o tempo do chamado racionamento».
Vamos por partes. Nesses dias duros da década de 40, a Guerra Civil na Espanha (1936-39) e a II Guerra Mundial (1939-45) deixaram na penúria os países afectados, directa ou indirectamente – como foi o caso de Portugal.
Mas essa não foi a primeira vez que gerações portuguesas conheceram os mecanismos do racionamento. Não. N a1ª República, e também depois da Guerra (I Guerra Mundial, 1914-18), também foi decretado o regime de racionamento de alguns bens. De facto, a História regista que até 1921 houve falta de produtos, designadamente de açúcar.
 Faltam produtos e dinheiro
Faltam produtos e dinheiro
Mas a época a que me vou referir é a das guerras em Espanha e na Europa (1936-45). Não havia que comer. O Estado requisitava produtos e levava-os a título de confisco. Pouco restava para as famílias que faziam a sua jeira de agricultura. Para as outras, nada havia. Eram os tempos em que a sardinha que era pescada no nosso mar ia direitinha quase toda para a Alemanha. Eram os tempos em que se havia dinheiro se comprava uma sardinha para três – história sempre repetida com o peso e a carga que se imagina da parte de quem passou pela situação e ainda se lembra dessa angústia.
Esta situação levava a que muitas pessoas produzissem e escondessem a produção a fim de sobreviverem. A GNR fiscalizava, mas nem tudo podia ver. Foi em 1943 que o regime procedeu à criação da Intendência Geral dos Abastecimentos (IGA), um organismo especial: a Intendência, como lhe chamavam. Era nos postos da Intendência que as pessoas recebiam as senhas de racionamento.
O contrabando veio ajudar e cresceu muito.
O racionamento
As famílias do Casteleiro não tinham dinheiro para comprar. Mas mesmo que tivessem, só podiam comprar muito pequenas quantidades de produtos alimentares essenciais. De que bens se fala quando se fala de racionamento nesses anos terríveis? Açúcar, azeite, leite, pão, milho, arroz, bacalhau, massa, sabão, óleo, manteiga, café, cacau, cereais, farinhas, mercearias em geral: tudo era contadinho.
As pessoas que tinham terras procuravam defender-se cultivando.
É contado que todos os bocadinhos de terra acabam por ser cultivados: quem tem e quem pode socorre-se dos legumes e dos cereais para se alimentar a si e aos filhos.
Era assim no Casteleiro e era assim no resto do país rural.
Produzia-se muito. Portugal não tem em muitas regiões solos muito ricos, sendo que a produção de searas é ainda mais rara.
Mas, mesmo assim, muita dessa produção era confiscada pelo Estado.
Ia para a tropa e para exportar para a Inglaterra e para a Alemanha, segundo se conta.
No Casteleiro, plantam-se mais legumes para consumo, criam-se coelhos, galinhas e porcos – quem pode defende-se assim.
Mas falta sempre a muitas famílias o pão e outros bens. O racionamento de pão é rigoroso. «Até o pão não escapa e passa a ser reduzido, o branco, a 120 gramas por dia e por pessoa ou, em alternativa, o pão escuro a 180 gramas. A batata é meio quilo por semana e por pessoa» (leio no «Coisas do Arco da Velha», que também acrescenta algo que corre nos contos de antigamente do Casteleiro: «A fruta e o peixe tornam-se praticamente proibitivos»).
As imagens:
1. A carta de racionamento / 1951 / Braga foi tirada do blog ‘Conta-me como era’.
2. A foto da fila de racionamento em Lisboa e a da carta de racionamento do pão foram captadas no blog ‘Citizen Grave’.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Fez há pouco 38 anos. Era o dia 2 de Outubro de 1974. O «meu» avião veio de Luanda e aterrou em Lisboa. Era um dos dois Boeings 744 da tropa. Tinha acabado o pesadelo. O maior pesadelo de sempre. Do Casteleiro a Buco Zau. Nada de muitos pormenores: só um cheirinho. Esta é uma parte não despicienda do património psicológico de cada uma das nossas aldeias.

 Por uma vez, e sem exemplo, por causa da efeméride do meu regresso da guerra, hoje saio da rotina desta rubrica e falo «de mim», mas sobretudo de nós, os que por lá passámos. Claro que o meu caso é igual a muitos. Mas é do meu que sei falar. Das marcas, dos traumas, das dores de espírito eternas e fundas. Tão fundas que ainda duram e durarão em mim e em todos nós.
Por uma vez, e sem exemplo, por causa da efeméride do meu regresso da guerra, hoje saio da rotina desta rubrica e falo «de mim», mas sobretudo de nós, os que por lá passámos. Claro que o meu caso é igual a muitos. Mas é do meu que sei falar. Das marcas, dos traumas, das dores de espírito eternas e fundas. Tão fundas que ainda duram e durarão em mim e em todos nós.
Eu, como tantos jovens da minha terra, tínhamos ido à guerra colonial.
No meu caso, o destino foi uma vilória no meio da floresta virgem do Maiombe, em Cabinda, a 14 km do Congo Brazzaville e a 21 do Congo Kinshasa.
Não vou contar desgraças da guerra. Isso, já está tudo espremido. Foram dias do diabo. 27 meses. Sempre a pensar que podia ser o último segundo. G3, granadas, bazookas, HK 21, lança-granadas-foguete… de tudo. E sempre tudo a rebentar, a disparar, a lembrar que não era treino mas coisa séria. Tudo marcadinho na memória até agora.
Mas não é por aí que quero ir, hoje.
Vou fixar o leitor e prendê-lo a dois ou três pormenores – menores, uma ova, são mas é «pormaiores», melhor: «pormáximos»: também cá estão até hoje.
Esta palavra Mendes
Há coisas que fora daquele contexto não têm qualquer importância. Mas ali tudo ganhou de repente tanto peso psicológico…
tudo ganhou de repente tanto peso psicológico…
Por exemplo – e só para começar este desvio inabitual em quem fala da sua guerra, dos seus traumas de guerra –, a questão de como me chamo e de como me chamam.
O meu nome de baptismo é assim: josé carlos mendes. Pus em minúsculas de propósito, para dizer que aqui se trata apenas de palavras, cada uma por si, sem reportarem à pessoa.
Antes da tropa, em todo o lado, o meu nome era apenas duas palavras. E assim voltou a ser depois daqueles malditos 37 meses. Zé Carlos.
Mas na tropa o meu nome não era esse, não, senhores: era Mendes.
Mendes.
Que estranho.
Aquilo na tropa não é (pelo menos não era) a brincar. Sim, para todos menos para mim, eu era agora Mendes.
Eu ouvia:
– … Mendes.
Ouvia «Mendes», mas não reagia logo.
Só depois é que o meu cérebro traduzia:
– Eh, pá, agora Mendes é igual a Zé Carlos.
E era então que respondia.
Ora aqueles décimos de segundo de atraso na resposta do cérebro foram tão importantes que me marcaram para o resto da vida: é uma situação que me incomodou sempre. Quando me lembro, essa memória ainda me arrasta outra vez para os cenários da tropa.
Muitos e cada um mais complexo que o outro.
Primeiro em Mafra em Julho de 1971, depois em Lamego, na Amadora (á espera de embarque), viagem para Luanda em 2 de Agosto de 1972 (nove horas de avião com o batalhão todo), por fim em Cabinda, junto do Rio Luáli (o que significa rio do ouro – e onde de facto havia, diziam, pepitas de ouro, e onde, sintomaticamente, fui encontrar um fazendeiro de Penamacor, Viriato de seu nome).
Claro que a questão do nome pelo qual me chamavam, visto no conjunto, não tem qualquer gravidade, se comparada com as emboscadas, os tiros, o fogo de reconhecimento, a defesa imediata ou a Curva da Morte, a caminho de Sangamongo e do Chimbete.
… Poupo os leitores a esses momentos horríveis…
Mas chamarem-me Mendes foi tão diferente que acabou por me marcar de forma surpreendente. Estranhamente, isso acabou por ganhar força dentro de mim.
 Anotações finais
Anotações finais
O Casteleiro e as nossas aldeias estão seguramente cheias de pessoas com memórias destas. Mas poucos falam delas. E menos ainda têm um local onde exprimir essas «mágoas» da vida real. Nesse aspecto, esta é uma história do Casteleiro mas é mais do que isso: é uma história do País todo.
Vejam como simplesmente o nosso nome, uma coisa que ao leitor parece tão simples, no meio das conhecidas misérias daquela desgraçada guerra, acabou por me marcar para sempre. Claro que tudo ali ganhava uma dimensão enorme porque corríamos perigo de vida e isso é que marcava cada segundo.
E, milagre dos milagres, passados estes anos todos, tudo está tão nítido cá dentro. Tudo, em cada pormenor.
… Desculpem ter trazido isto para aqui, mas não pude evitar, por uma vez. É que tudo aquilo ainda dói muito. Basta-me ouvir aqui passar um Puma (é um heli pesado da tropa) e volta tudo ao de cima. E passam aqui tanta vez…
Estive 20 anos sem falar do assunto, tal era o trauma. Um dia, a pedido, escrevi umas crónicas no «Notícias da Amadora». Depois, de forma esparsa, contei coisas destas há uns tempos aqui, aqui, aqui e aqui.
Se tiver algum interesse, dê um olhinho.
E nunca esqueça o mais importante: o meu caso é apenas um em muuuuuitos milhares.
Nota
O ‘Capeia’ tem muitas visitas – Quero deixar aqui um registo sobre as estatísticas deste blogue, porque vale a pena chamar a atenção do leitor. Trata-se das estatísticas principais de leitura e de popularidade. Registei-as no dia 25 de Outubro, às 10.30 h, e são as seguintes: 1- ESTATÍSTICAS: Visitas únicas – 1 885 159; Páginas lidas – 2 797 800. 2 – VISITANTES: On-line – 12 (em simultâneo naquele momento). 3 – ENTRADAS MAIS POPULARES: 1 – A casa onde nasceu Manuel António Pina; 2 – Praça Manuel António Pina; 3 – Casteleiro: o cultivo do linho; 4 – Sabugal tem fábrica de caldeiras a biomassa; 5 – Palace Hotel de Penamacor já está a funcionar.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
No Casteleiro, até há 40 anos, durante três ou quatro meses em cada ano, muita gente, desde que tivesse um pedaço de terra à beira da ribeira, tinha uma tarefa muito interessante – mas muito, muito trabalhosa: dedicava-se ao cultivo e tratamento do linho, desde a semente até ao lençol branquinho, às camisas ou às toalhas e panos.

 A Humanidade já conhecerá o linho há nada menos do que 5.000 anos A. C. e na Península haveria milho em 2.500 A.C.. Com o linho fazia-se roupa e diversas peças de uso doméstico, como camisas ou lençóis, e até religioso, como toalhas de altares.
A Humanidade já conhecerá o linho há nada menos do que 5.000 anos A. C. e na Península haveria milho em 2.500 A.C.. Com o linho fazia-se roupa e diversas peças de uso doméstico, como camisas ou lençóis, e até religioso, como toalhas de altares.
Tudo começava pela sementeira. O linho deve ser semeado em terreno húmido e com bastante água. Isso, semear o linho, acontecia em Março e Abril. Mas o linho tem um ciclo natural rápido: três a quatro meses depois, estava pronto a arrancar e… começar uma infindável série de operações até obter o tecido de linho.
Depois de semeado, o linho exige muita rega, muita água.
(Note. Eu estou a escrever como se ainda se cultivasse o linho no Casteleiro. Mas não. Já desde os anos 70 que a tarefa rareou na minha terra e hoje nem existe).
O que era o linho? Que aspecto tinha?
Deve haver leitores que se calhar nunca o viram a não ser já costurado…
O aspecto da planta é o dos cereais, de palha. A altura é um pouco menor do que a do centeio ou do trigo.
De resto, a «seara» de linho era idêntica a qualquer outra das searas que bem conhecemos.
Mas não é ceifado: é arrancado (com raiz e tudo).
Começa agora o cabo dos trabalhos
 O linho dava muito trabalho. Sobretudo depois de ser arrancado. Se não, leia: arrancar, levar para a ribeira para curtir, enterrado na água e tapado com areia durante quinze dias, estender na areia para secar em molhitos encostados uns aos outros, levar para casa… e aí outra série de tarefas infindáveis e duras, até à fiação e à feitura / costura das peças desejadas: lençóis, toalhas etc..
O linho dava muito trabalho. Sobretudo depois de ser arrancado. Se não, leia: arrancar, levar para a ribeira para curtir, enterrado na água e tapado com areia durante quinze dias, estender na areia para secar em molhitos encostados uns aos outros, levar para casa… e aí outra série de tarefas infindáveis e duras, até à fiação e à feitura / costura das peças desejadas: lençóis, toalhas etc..
Logo para começar, era preciso bater o linho de forma bem forte, com uma maça própria, de madeira e durante muito tempo. Havia até quem passasse dias inteiros a bater o linho num passeio de pedra que lá havia ou num banco de pedra. Bater muito. Quase até à exaustão.
Segue-se outra operação dura: esfregar à mão para limpar até saírem as praganas todas.
Depois, o linho era espadelado – com um instrumento específico chamado mesmo espadela. Essa operação era feita contra um cortiço, mas, fazem-me notar, sem bater na cortiça para não partir o linho.
É que, nestas operações de preparação do linho, ainda há mais isso: tarefas duras e feitas com cuidadinho, para que o produto não fosse adulterado…
Agora, atenção: do linho-caule saem pelo menos dois produtos finais: o linho ele mesmo, produto fino, mais delicado, e a estopa, mais grosseira, menos limpa de fibras, digamos.
Onde se faz essa bifurcação? Depois de espadelado, o linho era ripado «até ficar muito fininho e molinho». E separado: para um lado o que havia de ser o linho propriamente dito, mais fino, e para outro lado, os «tumentos», mais grosseiros, de que haveria de resultar a estopa.
Os teares da aldeia
Da fiação ao tear, vai ainda muito trabalho. Logo para começar, o linho era fiado, com roca adequada. Daí passava-se à dobadeira para fazer as meadas e ao argadilho para fazer os novelos.
Sabem o que era uma estriga de linho?
Nada menos do que a quantidade de linho ainda em «rolo», digamos, que  as mulheres punham na roca para depois o puxarem com os dedos, molhando-o, lambendo os dedos e dele fazerem os fios, enrolando-os no fuso (fiar é isso).
as mulheres punham na roca para depois o puxarem com os dedos, molhando-o, lambendo os dedos e dele fazerem os fios, enrolando-os no fuso (fiar é isso).
… Tudo ia depois à barrela em água a ferver com cinza num cesto, até o linho amolecer (o linho era um material muito duro – uma camisa ou um lençol de linho duravam uma vida).
Agora, então, os teares.
Havia na aldeia três ou quatro teares. Peças-chave do processo. Era aí que as artesãs populares, grandes artistas do ramo, exerciam com mestria o seu mester… Eram apreciadas por toda a gente e eram indispensáveis a quem, tendo linho, queria então fazer os lençóis, as camisas (dantes), as almofadas, as toalhas compridas e de rosto, em geral com franjas, os panos para tapar os tabuleiros dos presentes de casamento e similares.
No tear, o fio de linho era manobrado com a ajuda de um pequeno instrumento oval comprido chamado «canela».
As peças de tecido de linho iam por fim para a ribeira durante mais alguns dias para corar ainda mais ao sol – tinham de ser sempre regadas permanentemente.
Só depois é que eram cortadas em casa para fazer as utilidades (roupa de cama e outra, as utilidades para a casa etc.).
Um pequeno registo sensitivo final: o cheirinho dos lençóis de linho daqueles tempos é inesquecível. Perdura uma vida inteira.
1.
Nota sobre as fotos
Havia milhares de fotos que podiam ser seleccionadas para esta peça. Escolhi três:
– roupa de cama em linho,
– uma dobadeira,
– e, numa mesma foto, uma espadela e uma roca, utensílios guardados há décadas e expostos cá em casa.
2.
Aparte
Na sexta, na peça sobre a morte de Manuel António Pina, fiz um comentário. Mas esse texto ficou incompleto. Propositadamente incompleto, porque não era justo falar de outra coisa naquele momento. Mas ficou guardada e vai agora: a foto de MA Pina, da autoria de Kim Tomé, é especial. Muito especial, em meu entender.
Fica aí o aparte, porque é justo. Se quiser voltar lá, clique aqui.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
No Sabugal, ao que consigo apurar, houve três jornais no início do século XX e foram os primeiros a existir na nossa zona. Um deles foi criado, dirigido e impulsionado por um abastado lavrador do Casteleiro e aqui sempre sediado e activo: o Dr. Guerra.

 A peça que vai ler foi-me suscitada por um brilhante artigo, mesmo ao meu gosto, escrito há uns dias aqui no ‘Capeia’ por António Emídio – e que pode recordar aqui., e onde a dado passo se refere: «(…) já em 1926 os colaboradores do jornal «Gazeta do Sabugal», jornal do político integralista do Casteleiro, Joaquim Mendes Guerra, se queixavam do abandono do Concelho e davam a sua opinião para o melhorar».
A peça que vai ler foi-me suscitada por um brilhante artigo, mesmo ao meu gosto, escrito há uns dias aqui no ‘Capeia’ por António Emídio – e que pode recordar aqui., e onde a dado passo se refere: «(…) já em 1926 os colaboradores do jornal «Gazeta do Sabugal», jornal do político integralista do Casteleiro, Joaquim Mendes Guerra, se queixavam do abandono do Concelho e davam a sua opinião para o melhorar».
Já em tempos me dispus a investigar um pouco sobre esse jornal de 1926, o «Gazeta do Sabugal».
Por questões de proximidade, foi agora a altura de poder trazer aos leitores alguns dados sobre os primórdios da imprensa no Concelho.
Os periódicos chegam aqui muito tarde. No século XVIII já havia jornais em Portugal.
Mas, no Sabugal, isso só vai acontecer no século XX e em câmara lenta e com pouco sucesso. Mas foi assim e vale a pena enaltecer essas iniciativas.
 Primeiros passos da imprensa «bairrista»
Primeiros passos da imprensa «bairrista»
Quais os primeiros jornais do Concelho e quando «viveram»? Foram poucos, tardios e de vida curta, ao que parece – o que não se pode estranhar. Afinal, o Sabugal fica cá nos confins de um país pouco dado ao desenvolvimento regional e que já desde os dias do ouro do Brasil vivia centrado na sua costa e nas zonas litorais em geral.
Não admira pois que as questões ligadas à comunicação, à divulgação, à informação e aos valores da cultura em geral tenham ficado para o mais tarde possível na nossa zona. É por isso também que os atrasos se repetem em várias áreas naqueles tempos e infelizmente também nestes agora.
Há dois anos, o Dr. Francisco Manso escreveu no ‘Cinco Quinas’ em artigo sobre «O Sabugal, a Republica e a Maçonaria» uma pequena mas importante referência aos três primeiros títulos existentes no Sabugal: «O primeiro jornal de que há notícia, “A Estrella do Côa”, foi publicado já nos alvores do séc. XX, e, mesmo assim, não há conhecimento de nenhum exemplar. Os jornais que se lhe seguiram, “O Sabugal” e a “Gazeta do Sabugal”, são já muito posteriores, pois foram publicados em 1925 e 1926, respectivamente».
 Já este ano, o Dr. Júlio Marques, de Vilar Maior, escrevia algo parecido no seu blog ‘Vilar Maior’ acerca dos órgãos da imprensa regional do Sabugal: «O primeiro foi a ‘Estrella do Côa’, mais cometa do que estrela, porque de efémera existência, ou então a ser estrela seria cadente. Foi seu proprietário, director e editor Luis José Capello Barreiros, datando do ano de mil e novecentos. (…) em 1925, aparece o ‘Sabugal’, semanário regionalista, de propriedade, direcção e edição de um outro Capelo, José Capelo Martins.(…) Neste nosso mundo de efemérides, surgiu logo um outro semanário – bairrista e nacionalista – ao estilo tradicionalista. Foi a ‘Gazeta do Sabugal’ (…)».
Já este ano, o Dr. Júlio Marques, de Vilar Maior, escrevia algo parecido no seu blog ‘Vilar Maior’ acerca dos órgãos da imprensa regional do Sabugal: «O primeiro foi a ‘Estrella do Côa’, mais cometa do que estrela, porque de efémera existência, ou então a ser estrela seria cadente. Foi seu proprietário, director e editor Luis José Capello Barreiros, datando do ano de mil e novecentos. (…) em 1925, aparece o ‘Sabugal’, semanário regionalista, de propriedade, direcção e edição de um outro Capelo, José Capelo Martins.(…) Neste nosso mundo de efemérides, surgiu logo um outro semanário – bairrista e nacionalista – ao estilo tradicionalista. Foi a ‘Gazeta do Sabugal’ (…)».
Resta acrescentar que enquanto o ‘Sabugal’ era um jornal republicano, o ‘Gazeta do Sabugal’ era partidário do Integralismo Lusitano (ou seja, da monarquia tradicional), tal como o seu director, financiador e criador: o Dr. Joaquim Mendes Guerra, do Casteleiro.
1926/28: ‘Gazeta do Sabugal’
O ‘Gazeta do Sabugal’ foi um semanário regionalista, bairrista, de defesa dos interesses dos lavradores e da região. O jornal teve vida curta.
Nasceu em 1926, penso que em Abril. Note que o golpe de Estado militar de direita é de Maio desse ano. Saberá também que Salazar só vai chegar ao Governo, como titular da pasta das Finanças, em 1928 (já o ‘Gazeta’ tinha acabado, julgo).
53 números – Ao todo, foram publicados 53 números, ao que se sabe, entre Abril de 1926 e início de 1928 – ano em que são publicados apenas dois números.
Se era semanário, isso, 53 números, corresponde a pouco mais de um ano se saísse todas as semanas – mas espalhados então por quase três anos.
Três anos – Foi a seguinte a distribuição das edições, de acordo com a «hemeroteca» da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, da Guarda (com base nas «existências»): 1926 (nºs. 3, 5 a 32); 1927 (nºs. 33 a 47, 49, 50, 51); 1928 (nº. 52). Mas sabemos que há um número final, o 53. A informação é dada pela Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que qualifica o jornal da seguinte forma: «semanário bairrista» e «órgão dos lavradores do concelho».
Colaboradores – E quem colaborou no ‘Gazeta do Sabugal’?
Segundo o atrás referido Júlio Marques, «A nata do escol concelhio, triplamente filtrada – porque regionalista, descentralizadora e nacionalista, segundo o credo do integralismo – acorreu a colaborar. Casos, entre outros, dos futuros presidentes de câmara, o advogado Carlos Frazão e o médico Francisco Manso, do etnógrafo Lopes Dias, do pedagogo Reis Chorão, do político Martins Engrácia».
Joaquim Mendes Guerra
Uma nota final sobre a participação política do Dr. Joaquim Mendes Guerra nos assuntos regionais dos anos 20.
São elementos recolhidos no próprio ‘Capeia’.
De facto, aprendi agora, há 32 anos, Pinharanda Gomes escreveu e a Casa do Sabugal publicou um opusculozinho intitulado «O Motim do Aguilhão no Sabugal».
Estas notas foram-nos proporcionadas numa curta recensão muito oportuna feita no ‘Capeia Arraiana’ há cinco anos por Paulo Leitão Baptista, que pode ler aqui.
O livro, diz PLB, «evoca aquele que porventura foi o mais relevante acto de revolta do povo do concelho raiano face às injustiças de que era alvo por parte do governo». Foi o caso que, a 10 de Fevereiro de 1926, «cerca de mil e 500 manifestantes invadiram a Praça da República, onde se situa a Câmara Municipal do Sabugal, gritando palavras de ordem contra os impostos recentemente lançados, contra a licença dos cães e contra a licença para se ter vara com aguilhão». Houve carga séria da GNR.
Segundo PLB, Pinharanda Gomes, no livrinho, «analisa com profundidade as razões dos protestos. Mostra que pessoas gradas estiveram do lado do povo, como o deputado Joaquim Dinis da Fonseca e o lavrador abastado Joaquim Mendes Guerra», do Casteleiro e dono e director do tal jornal, o «Gazeta do Sabugal».
O atrás citado «motim do aguilhão», é preciso dizê-lo, foi também designado como «revolução dos nabos». Essa nota é-nos trazida num livro de 2009, da autoria de Regina Gouveia, publicado pela Universidade da Beira Interior. Trata-se do título «A Interacção entre o Universo Político e o campo da Comunicação / A imprensa e as elites beirãs (1900-1930)». Aí, nas últimas páginas, Regina Louro divulga uma interessante cronologia sintética onde, designadamente, podemos ler: «1926, Fevereiro, 10 – ocorre no Sabugal a «revolução dos nabos», ou motim do aguilhão, contra os impostos».
Nota para os meus conterrâneos – Este director do jornal, o Dr. Guerra, era o marido da D. Maria do Céu (Mendes Guerra), dona da Quinta das Mimosas.
Post Scriptum
I. ‘Gazeta do Sabugal’, como muitos saberão, é também o nome de um blogue «actual», embora não actualizado desde há ano e meio. Foi criado em Novembro de 2010 e viveu meio ano. Será sina das gazetas do Sabugal, esta de terem curta vida? II. Sobre as imagens desta peça: para além da imagem do ‘Gazeta’, procurei outras. Assim: 1 – Houve em Portugal muitos jornais chamados ‘Gazeta’. O mais antigo deles, talvez inspirador de muitos, foi a ‘Gazeta de Lisboa’, de 1715 (numa das imagens). Repare: 1715. Mais de dois séculos antes do ‘Gazeta do sabugal’. Foto da Hemeroteca de Lisboa, no portal Hemeroteca Digital. 2 – Mas publicamos também a primeira página de outro periódico bem nosso conhecido: ‘A Guarda’, fundado em 1904 e, na altura, chamado «Boletim Quinzenal» (de inspiração católica). Foto da Biblioteca Municipal da Guarda.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Artista é quem domina uma arte. Artista é quem vive uma arte. Artista é quem vive de uma arte. Hoje quando dizemos artista falamos de palcos, telas pintadas, pedras esculpidas. Há 40 anos, artista era essencialmente alguém do cinema.

 Mas nem sempre foi assim: dantes, no Casteleiro, artistas eram os profissionais que iam às casas das pessoas resolver problemas bem concretos: um cano, uma parede, uma porta… E também havia outros artistas, os da «troupe» Delfim Pedro Paixão – que nos deliciavam de quando em vez.
Mas nem sempre foi assim: dantes, no Casteleiro, artistas eram os profissionais que iam às casas das pessoas resolver problemas bem concretos: um cano, uma parede, uma porta… E também havia outros artistas, os da «troupe» Delfim Pedro Paixão – que nos deliciavam de quando em vez.
«É preciso arranjar a parede. Temos de cá chamar um artista». Ou então: «É melhor chamar cá o artista para arranjar a mesa». Este tipo de frases era uma constante naqueles idos de 50. O artista era o profissional que sabia reparar aquelas coisas e que a troco de quase nada dava um jeito no que funcionava mal.

Mas havia artistas de vários ramos:
– latoaria,
– serralharia,
– vidros e companhia,
– portas, soalhos, escadas («o balcão»),
– pinturas de paredes,
– impermeabilizações contra a água e contra o frio…
Sei lá.
O pedreiro vinha tapar algum buraco. O taneiro (hoje sei que é assim que se chama aquele artista e que ao seu ofício devo chamar tanoaria) arranjava tudo o que era dorna, pipo ou barrico.
O artista é aquele que se chama para remendos, para pequenas obras, pequenas reparações.
Usa ferramentas muito apropriadas às suas tarefas. O verdadeiro artista tem as suas ferramentas específicas, adequadas à sua arte. Por exemplo, o carpinteiro: quem mais tem aquela maravilha de trado, aquele operacional serrote ou aqueles martelos feitos de madeira, para já não falar daquela magnífica plaina?
 Momento importante: o artista chega ao local da obra e tem toda a autonomia. Põe e dispõe. Faz o que precisa de fazer e tem carta branca. Traz a maleta da ferramenta, se a sua profissão assim o recomenda.
Momento importante: o artista chega ao local da obra e tem toda a autonomia. Põe e dispõe. Faz o que precisa de fazer e tem carta branca. Traz a maleta da ferramenta, se a sua profissão assim o recomenda.
Tira cada apetrecho necessário, mexe-se com prontidão e com exactidão. Em serviço, conversa menos do que é habitual.
Tem todo o espaço por sua conta. Toda a gente se afasta. Ninguém dá palpites. Por definição, a arte é uma espécie de mundo à parte, algo de superior. Quase etéreo. Só o artista é que domina esse mundo. As outras pessoas, mesmo que estejam mesmo a ver como é que a coisa se deve resolver, fazem aquele alarido meio disfarçado de quem nada sabe e toda a gente mostra surpresa e não há quem não fique muito admirado porque o problema está em vias de solução. É um ambiente típico. O artista é um dos habitantes do Olimpo: sabe da poda e os mortais admiram a arte, a habilidade, a eficácia.
O artista é o artista – e fica tudo dito.
 Progresso traz novos artistas
Progresso traz novos artistas
Mais tarde, seguramente depois de 1955/56 aparece, por imposição do progresso, outro ramo de «artistas». Nessa altura foi inaugurada a electricidade nas ruas. A pouco e pouco, as casas foram sendo dotadas desse benefício. Aí, começaram a surgir as novas avarias decorrentes… e surge uma nova casta de «artistas»: os que mexiam naquele misterioso complexo chamado «quadro» e nas suas derivações, designadamente naquela coisa chamado fio que parece perfeitamente inócuo e inofensivo mas que dava cá cada coice, mal se lhe tocava…
O artista «eléctrico», esse, tinha outra aura ainda mais mítica, se era possível: percebia de coisas perigosas e mexia nelas sem levar sapatada nem formigueiro. E ao fim de alguns minutos, onde não havia luz passava a haver. Milagre caseiro. Tudo da responsabilidade e por obra e graça do «artista».
O circo e seus artistas
Esta é uma fotografia muito forte na minha memória. Trata-se de um grupo de artistas de rua que vinham divertir-nos a todos no Casteleiro dos mesmos anos 50. Não era bem um circo: era mais uma mescla de várias artes circenses. Um pouco de música, um pouco de trapézio, umas piadas, muita expectativa de todos – e uma grande noitada de correrias dos pequenos pelo meio daquela multidão de mais de 30 pessoas em volta dos artistas.
Eram outros artistas que apareciam no Casteleiro três ou quatro vezes por ano, uma «troupe» de sete ou oito pessoas, cada qual com sua arte – todos dirigidos e organizados pelo patriarca (jovem, talvez 40 anos): Delfim Pedro Paixão.
Uma carrinha muito velha transportava-os a todos e fazia parte da encenação.
As comédias arrancavam, as cenas seguiam-se, a mulher de Delfim (Maria Estrela) a todos impressionava com as suas peripécias no trapézio.
Fosse no Terreiro (de São Francisco), fosse nos «Italianos», um edifício construído no tempo da II Guerra para separadora de minério, mas que não chegou a sê-lo.
De todas estas coisas já escrevi aqui. Porque são imagens de primeiro plano da nossa meninice.
No intervalo da actuação, uma caixa recolhia os contributos de cada um – dávamos o que queríamos / podíamos…
Vidas complicadas, todas elas: os artistas e os espectadores…
Nota de actualidade
Há no Casteleiro uma prestigiada instituição, o Lar de São Salvador, que, além de prestar um serviço essencial de apoio à terceira idade, tem outras actividades de louvar. A última delas foi um passeio dos idosos a Sortelha, no âmbito do projecto «Muralhas com História». Dirão: «Oh, tão pertinho». Mas eu respondo que isso não interessa. Para quem está ali internado ou isolado, nada melhor do que dar de comer aos olhos. Não é a viagem ser grande ou pequena que importa. É, sim, ir lá fora, a outra terra, ver mais mundo. Parabéns. Não desistam nunca, por favor.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Ainda são vistas cegonhas no Casteleiro todos os anos, parece. Pelo menos nos últimos dois ciclos da presença delas, foram vistas. Um bom sinal. E um encantador regresso ao passado. Segundo sei, faltarão algumas semanas para estes magníficos pilotos do ar «darem à pista» na nossa terra… Atenção, voluntários: leiam estas linhas com espírito de defesa da Natureza, combinado?

 No meu cérebro, a cegonha é um ícone do Casteleiro antigo. Um casal de cegonhas sempre veio acasalar na torre da igreja. Torre que é outro dos ícones da minha infância, pelo fascínio da altura mas também pelo som inconfundível e regular do bater das horas do relógio da época.
No meu cérebro, a cegonha é um ícone do Casteleiro antigo. Um casal de cegonhas sempre veio acasalar na torre da igreja. Torre que é outro dos ícones da minha infância, pelo fascínio da altura mas também pelo som inconfundível e regular do bater das horas do relógio da época.
Tanto quanto sei, a cegonha só gosta de terras quentes. Talvez por isso, na nossa região, só são registadas no Casteleiro, em Figueira de Castelo Rodrigo e no Fundão.
Leio que é um animal monogâmico (o casal, macho e fêmea, mantém-se sempre), chega a ter um metro de altura e a pesar quase três quilos.
Põe entre 3 e 5 ovos por ano.
E depois vêm os pequeninos, que são muito indefesos e muito protegidos. Era célebre o vai-vem do macho para ir buscar comida enquanto a mãe continuava no alto da torre, no ninho feito de vides.
Ah!, a cegonha é um animal mudo. Manifesta-se batendo as «carchanetas», ou seja, batem as duas partes do bico, fazendo um barulho ritmado muito característico.
 Censos de cegonhas
Censos de cegonhas
Não sabia mas fiquei muito satisfeito em saber: há um grupo de observadores de cegonhas do Distrito da Guarda. Na época de chegada das cegonhas à zona, ali por alturas de meio inverno, eles entram em acção e o seu «blog» reanima-se a cada ano até à sua partida para as Áfricas, ao que parece na entrada do Verão.
Quem quiser aceder ao sítio deste grupo de verdadeiro serviço público e até com eles colaborar pode entrar e procurar o que mais lhe interesse na plataforma «Censos da Cegonha». Aqui.
Um jovem da minha aldeia, Ricardo Nabais, autor de uma das fotos com que se ilustra esta peça, é colaborador da página citada.
Este grupo tem registos de presença de cegonhas no Casteleiro nas duas últimas épocas. Mais propriamente em Fevereiro de 2010 e em Janeiro e Junho de 2011.
E regista, até, o carinho com que são «tratadas» e ajudadas. Um exemplo: «Na freguesia do Casteleiro, Concelho do Sabugal, há já alguns anos que existe um ninho numa quinta com exploração de vacas que agora passou a exploração de ovelhas. Foi o próprio proprietário que colocou uma plataforma para elas fazerem o ninho, e este ano já chegaram, andando arrumar a casa para criarem mais uns filhotes».
 No ano passado, lia-se o seguinte: «As crias das cegonhas já se começam a ver dentro dos ninhos. Hoje fizemos a monitorização de dois ninhos: o da Freguesia do Casteleiro tem duas crias, bem como o do Sabugal, que também tem duas crias».
No ano passado, lia-se o seguinte: «As crias das cegonhas já se começam a ver dentro dos ninhos. Hoje fizemos a monitorização de dois ninhos: o da Freguesia do Casteleiro tem duas crias, bem como o do Sabugal, que também tem duas crias».
E um apelo do grupo de voluntários: «Quem tiver informação e quiser colaborar, contacte-nos».
É de apreciar esta dedicação às cegonhas da nossa região. E é de apoiar esta actividade cívica essencial.
Aguardemos a vinda das cegonhas este ano e a retoma do ciclo. É sinal de vida saudável e diversificada no planeta.
Nota
Se desejar ter acesso a mais informação sobre a vida e migrações das cegonhas pode visitar a página online da Naturlink. Vale mesmo a pena. Aqui.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Hoje, nem se percebe como é que pode ser importante esse facto, a chegada da roupa já feita. Hoje notícia seria irmos outra vez ao alfaiate e à modista ou costureira. Mas como era há 50 anos?

 Naqueles dias, era assim: nas grandes festas, de quando em vez, íamos ter umas calças novas, um vestido novo, uma blusa nova… Então o processo começava: primeiro: ida ao comércio, escolha das peças (espécie de rolos grandes) de tecidos e de fazendas. Depois: corte do comprimento necessário. O comerciante media com o seu metro feito de um pedaço de madeira «quadrada» castanha escura, com os números muito grandes.
Naqueles dias, era assim: nas grandes festas, de quando em vez, íamos ter umas calças novas, um vestido novo, uma blusa nova… Então o processo começava: primeiro: ida ao comércio, escolha das peças (espécie de rolos grandes) de tecidos e de fazendas. Depois: corte do comprimento necessário. O comerciante media com o seu metro feito de um pedaço de madeira «quadrada» castanha escura, com os números muito grandes.
Entretanto os pais tinham combinado com o alfaiate ou a modista / costureira e lá íamos tirar as medidas: altura da perna por fora, altura da perna por dentro, largura da calça em baixo, cintura, anca… sei lá: as medidas todas, tipo modelos das revistas cor-de-rosa de hoje…
As raparigas lá tirariam outras medidas. Eu não estava lá para ver. Mas o método não devia ser muito diferente.
 Estranha variedade de tecidos
Estranha variedade de tecidos
Num país tão pobre, eu sempre estranhei a grande diversidade de tecidos à escolha. Não na altura. Mas sobretudo quando cresci e tomei consciência da pobreza franciscana do Portugal desses tempos.
De facto, estranhamente, os tipos de tecidos que havia nesse tempo eram muito variados. Os vestidos, as saias e as blusas, as calças e os casacos, as combinações com a sua rendinha obrigatória ou os saiotes podiam feitos de (escrevo a grafia da pronúncia popular, claro – isso é que tem piada), por exemplo:
– riscado,
– crepe,
– organza,
– sarja,
– popeline,
– gargorina,
– flanela,
– vual de lã,
– jorgete,
– chita,
– cretone,
– piqué,
– sarrebeque,
– cotim,
– fazenda de lã,
– fazenda fina,
– tirilene,
– seda,
– nylon,
– fioco (mistura barata à base de lã),
– merino de algodão.
Etc. Etc..
Ah, e o afamado linho e a estopa, com o seu complexo ciclo de manufactura.
Resumindo: estes e outros tecidos eram comprados a metro nas lojas que havia (estabelecimentos comerciais).
A roupa era depois costurada pelos alfaiates e pelas costureiras.
Havia sempre duas provas, para que tudo ficasse bem.
E no dia da Festa era uma festa.
Só me incomoda uma coisa, hoje, quando olho para essas imagens de antanho: as cores usadas no vestuário eram em geral muito escuras. Azul-escuro, cinzento-escuro, preto. Com as raparigas era diferente. Aclaravam a esta imagem. Ainda bem.
Não foi fácil encontrar fotos que se aproximem da imagem que tenho dessas realidades. Mas tentei, para completar o quadro. Agradeço aos autores dos blogues de onde foram «sacadas».
 E chega o pronto-a-vestir
E chega o pronto-a-vestir
Mas isso era o antes. Um dia, eis a revolução no vestuário: chega a notícia de que já há roupa feita e que ficava sempre bem, sem tantas questões de medidas individuais. Um milagre. Surpresa geral. Havia pessoas que nem acreditavam. Então já não era preciso ir à Senhora Maria Augusta tirar medidas?
E não, não era preciso.
Era tudo verdade: podia comprar-se roupa já pronta a usar na Festa de Flores.
Ali por alturas de 1960, o pronto-a-vestir chega á nossa região. Ainda que timidamente. Primeiro, nos grandes centros urbanos da zona: ia-se à Covilhã ou a Castelo Branco comprar uma saia plissada.
Mas a revolução vai chegar rapidamente ao Casteleiro: em dois ou três anos, os comércios do Casteleiro começaram também a ter casacos de malha, camisolas de malha, saias, batas.
Vestidos é que não. Isso ainda era cedo.
Para os rapazes, só um puloverzito de vez em quando.
O resto continuava tudo como dantes: compra o tecido, tira as medidas, vai provar, veste a roupa, faz a festa…
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Perguntam-me se não há notícias no Casteleiro, sejam boas, sejam más, uma vez que tenho escrito mais sobre o antigamente. Há. Há boas notícias. E hoje trago aqui algumas delas. Mas entendo que conhecer de onde e de quem vimos e como evoluímos é também muito importante. Vamos então à actualidade.

 Uma aldeia como o Casteleiro tem o seu ritmo próprio. Anda na sua cadência, como cada terra. Nem de mais nem de menos: ao ritmo exacto da vida. Não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Mas vale a pena referir novas ideias e novas actividades.
Uma aldeia como o Casteleiro tem o seu ritmo próprio. Anda na sua cadência, como cada terra. Nem de mais nem de menos: ao ritmo exacto da vida. Não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Mas vale a pena referir novas ideias e novas actividades.
É por aí que hoje passa esta crónica: pelas notícias que fazem a aldeia e que se fazem na aldeia…
Estas e outras novidades podem ser sempre consultadas aqui, no «Viver Casteleiro».
A Junta de Freguesia: novos serviços
Numa terra basicamente de idosos, a prestação de serviços é fundamental porque facilita a vida diária das pessoas. A mobilidade já não é muita. Poder resolver na Junta os problemas de pagamentos e recebimentos é fundamental. Desde o início deste mandato, António Marques, Presidente da JF, instituiu serviços essenciais: desde Janeiro de 2010, «a Junta de Freguesia de Casteleiro pass(ou) a disponibilizar a todos os casteleirenses os serviços de pagamento das facturas da EDP, PT e Água, bem como o pagamento de reformas».
Recentemente, e pela primeira vez, foi feita uma limpeza à ribeira do Casteleiro: «Cerca de 16 Km de extensão da ribeira e ribeiros envolventes da Freguesia foram objecto de intervenção com acções de controlo e limpeza das denominadas galerias ripícolas». A ribeira limpa é muito agradável (ver foto).
O Centro Cultural está vivo
O CACC, Centro de Animação Cultural do Casteleiro, promove todos os anos a 15 de Agosto um almoço de convívio. Aproveita-se a presença dos emigrantes, para se estreitarem os laços ao torrão.
Este ano correu também muito bem.
A ementa, que meteu «arroz com feijão, acompanhado com febras e carne entremeada, teve, como sobremesa, melão e queijo, tudo com fartura e à discrição, não faltando, é claro, as variadas bebidas», como escreveu Daniel Machado, o actual Presidente da Assembleia Geral do CACC.
Actividade no Lar
Em benefício dos utentes e de todos os que se deslocam ao Lar, há de vez em quando umas sessões de animação no Lar do Casteleiro.
Este ano, a 14 de Agosto, houve novamente uma tarde de convívio.
«O Conjunto Rosinha com o seu repertório animou os utentes da Instituição e a população da aldeia do Casteleiro que, com grande entusiasmo, aderiram e participaram».
Recordo que o Lar disponibiliza três opções: centro de dia, apoio domiciliário, «24 horas» (utentes que permanecem dia e noite no Lar).
 Festa de Santo António
Festa de Santo António
Leio que eram três os mordomos deste ano. E fizeram um grande trabalho.
Os conteúdos da Festa foram os mesmos de sempre: procissão (ver foto), comes e bebes, muito convívio (o melhor da vida) e música q.b..
Bombos, dois conjuntos, um rancho folclórico e um grupo etnográfico completaram os três dias de festa na aldeia: 10, 11 e 12 de Agosto.
Para quem tenha interesse, pode ser simpático «folhear» os vídeos da Festa de Santo António. Para aceder aos filmes de José Manuel Machado, pode clicar aqui.
Maçã certificada
Sempre houve muita maçã na zona do Casteleiro. Em determinada época, houve imensos pomares. Agora chega a notícia de que um produtor está a garantir certificação de qualidade no seu pomar de Santo Amaro para maçãs Bravo de Esmolfe, Golden Delicious, Starkrimson e Oregon Spur.
São ao todo sete hectares, o que é obra.
Esta é uma boa prova de que algo é possível. De que nem tudo está perdido na Cova da Beira ou na zona de Riba Coa.
Bolsa de terras
Uma boa ideia. Oxalá resulte. Uma ideia que foi premiada num concurso na Guarda. O autor do projecto, Ricardo Nabais, do Casteleiro, descreve-o assim: «É um projeto que visa a criação de bolsa de terrenos e gestão de terrenos abandonados, que tem como missão promover o desenvolvimento local e rural, fomentando a agricultura, propiciando as práticas agrícolas e a preservação da floresta».
Combate ao desemprego e fixação de pessoas são outros objectivos explícitos, naturalmente.
Quem tiver interesse, pode aceder ao «site» do Projecto Gesterra, aqui.
Nota
Já que o meu tema de hoje é este (notícias da terra), volto à estatística. Quantas referências registou o «Capeia Arraiana» para cada freguesia? O Casteleiro, com 50 referências há dois anos, tem hoje 150 e, no momento em que me está a ler, pelo menos 151 (+ 200%). Acho que foi o maior crescimento, o que só significa que estava abaixo da sua «performance» regional, creio.
E as outras?
Com menos de 10 registos – são ainda 9 aldeias, que merecem menção individual, para as compensar dos silêncios: Escabralhado, Espinhal, Abitureira, Batocas, Carvalhal, Lameiras de Cima, Martim Pêga, Peroficós, Vale Mourisco.
Com 10 a 20 – ainda são 8.
Entre 20 e 50 – 14, a maioria, nesta minha tabela.
50 a 100 – 7.
100 a 200 – 4: Aldeia da Ponte, Aldeia do Bispo, Casteleiro, Sortelha.
Mais de 200 – 2: Fóios (mais de 270), Soito e Sabugal (com mais de 1300, também por ser a sede do concelho, claro).
Registo que o Soito subiu 40%, de 199 para 270 – 71 em dois anos. E Sortelha subiu de 133 para 160 (um aumento de cerca de 25%). Acho que tem crescido pouco, mas tem muitas referências – neste caso, também, e ainda bem, por se tratar de uma aldeia histórica.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Santos roubados de uma terra para outra, de certeza? O Santo Antão era do Casteleiro? Era nosso? Roubaram-no os de Sortelha no princípio do século XVIII? E nestes mais de 200 anos ninguém nunca foi lá buscá-lo? Oh, diabo! E a Senhora da Póvoa também não era do Vale, mas sim da Póvoa, ao pé do Meimão e também foi roubado na mesma altura?

 As rivalidades entre terras eram indiscutíveis. Eram eternas, metiam malícia nos versos, mas metiam mais do que isso: metiam porrada de criar bicho quando a malta se juntava nas romarias, por exemplo.
As rivalidades entre terras eram indiscutíveis. Eram eternas, metiam malícia nos versos, mas metiam mais do que isso: metiam porrada de criar bicho quando a malta se juntava nas romarias, por exemplo.
O Povo é terrível. Tão depressa se juntavam todos a beber uns copos, como se enfrentavam a doer na Festa da Senhora do Bom Parto, no Terreiro das Bruxas. E era cá cada arrochada! Quem contra quem? Basicamente, todos contra todos. Aliás, as romarias anuais, essencialmente, serviam para isso. Incluindo a Senhora da Póvoa.
Os do Casteleiro iam já naquela de poder haver gambérria. Porquê? Porque era assim todos os anos, há muitos anos.
Mas o que nessa altura nunca ouvi foi que os santos e as imagens deles não eram de onde se dizia. Que tivessem sido roubados.
Recentemente fui alertado para essas histórias – umas mais antigas, outras mais recentes.
Histórias de roubos de imagens da devoção do Povo há muitas. Umas são reais, outras são contos de fadas.
O Senhor Roubado
Nunca ouviu essa designação «O Senhor Roubado»? Parece que é um exemplo tão grande que até deu para mudar o nome à imagem e ficar mesmo como roubada. E isso já aconteceu em 1671, dizem: vários artigos religiosos foram roubados, dando azo a uma perseguição louca dos cristãos-novos (leia-se: judeus convertidos, quase todos por medo da Inquisição). Teve de intervir o Papa e tudo.
Mais tarde apareceram naquela que hoje é a Calçada de Carriche alguns dos objectos roubados e lá foi construído o Padrão do Senhor Roubado – objectos que tinham sido tirados da Matriz de Odivelas, entenda-se.

Casos recentes
Na nossa zona, há registos recentes de roubos de objectos religiosos que ficaram para contar também. Alguns casos:
– Em 2009, no Vale da Senhora da Póvoa, a «veneranda e antiga imagem» foi «roubada do seu santuário». Foi depois encontrada por um pastor num silvado, debaixo de uma oliveira, segundo informou um membro do clero;
– Em 2008, «desapareceu a imagem da Sr.ª da Boa Viagem e duas pedras do cemitério» (…) isso, após «o roubo de duas pedras trabalhadas do cemitério da Rebolosa. Desta vez foi-nos comunicado que do cemitério de Vila Boa mais duas desapareceram bem como a imagem da Sr.ª da Boa Viagem (ou Sr.ª dos Caminhos)», lia-se no ‘Jornal Cinco Quinas’.
E, mais longe, uma história houve que foi muito badalada há três anos também:
– A imagem de Santo António roubada «por encomenda», em 2009, na Igreja do Cabo Espichel, perto de Sesimbra.
Não admira pois que, por umas razões ou por outras, haja histórias contadas de outras épocas e de roubos bem mais importantes de imagens de santos da devoção dos povos.
Conto duas só, daqui mesmo da nossa região, que podem ter mudado tudo em matéria de romarias – movimentos importantes de população sempre bons para o comércio e para a religiosidade popular, claro.
E o roubo das imagens dos santos?
Será mesmo verdade? O Santo Antão, tão celebrado em Sortelha, santo de festa anual e tudo, foi mesmo roubado ao Casteleiro? Aqueles malandros atreveram-se a isso?
E a Senhora da Póvoa, a da grande romaria anual no Vale de Lobo (hoje também da Senhora da Póvoa) foi mesmo roubada de uma capela perto do Meimão?
Ou são tudo contos de velha ao sol – que é como quem diz: estórias da Carochinha?
Santo Antão
Começo pela minha aldeia, o Casteleiro.
Disseram-me que no século XVIII, antes das respostas do Cura Padre Leal ao Marquês, o Santo Antão era o orago da minha freguesia. Mas a sua imagem terá sido roubada e levada para Sortelha onde ficou até hoje (ver a imagem do andor).
Não acho que isso tenha sido assim.
Se não, por que diabo as respostas do Cura iam omitir uma informação dessas? Mas posso admitir que o Cura estava a responder por ser obrigado (isso sabe-se da História que foi assim) e por isso despachou a coisa sem mais aquelas…
Mas se o Santo Antão era do Casteleiro, então por que carga-de-água os meus antepassados não foram lá buscá-lo, mesmo que fosse precisa uma escaramuça local? No século XX vi e ouvi falar de tantas bernardas com as terras vizinhas, como é que 200 e tal anos antes eram tão molezinhos?
Ná, não me parece… A verdade é que o Santo Antão transformou-se numa romaria regional da minha zona e muitas pessoas iam ao Santo Antão quando eu era miúdo. E nunca ouvi falar deste roubo. Mas há quem tenha uma vaga ideia de essa história ser contada na época.
Veja aqui as imagens da romaria anual, uma semana depois da Páscoa (há um pouco de publicidade antes: não desanime…). Dizem que esta festa é feita «em agradecimento dos lavradores, pelas boas colheitas e pela guarda dos animais contra as doenças». Até levavam os animais para serem benzidos na missa «campal», lá em Sortelha.
Senhora da Póvoa
A Senhora da Póvoa (numa das fotos que se publicam) é muito conhecida? É das romarias mais afamadas da região? Pois bem. Outra história, para mim ainda mais mirabolante, é a que conta que a imagem da Senhora da Póvoa não era originariamente do Vale de Lobo e sim da Póvoa, na Serra de Santo Estêvão, no caminho para o Meimão (pelo lado da estrada do Sabugal, digamos).
Foi-me garantido há tempos por uma amiga de Santo Estêvão que a imagem era dali e que há mais de 250 anos «foi roubada pelos do Vale e nunca mais voltou à Póvoa», como já referi antes.
Também acho estranha a moleza dos da Póvoa – mas enfim.
O cura Olival também diz ao Marquês, calmamente, que no Vale há uma Irmandade da Senhora da Póvoa. Nada de roubos. Mas refere a romaria.
E, curiosamente, do Santo Antão o cura do Casteleiro nem falou mas o do Vale «disse» ao Marquês: (O Vale de Lobo) «tem duas ermidas e uma Igreja caída que foi matriz, e uma capela de Nossa Senhora da Póvoa, e tem mais a imagem de Santa Sabina, está fora do lugar meia légua; e outra de S. Sebastião e tem mais a imagem de Santo Antão».
Portanto dá a ideia de que o Santo Antão ali era venerado, mas na capela de São Sebastião. Será?
Fica mais este registo.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Há quinze dias, trouxe aqui algumas palavras cujo sentido foi corrompido pelo uso popular. Por sugestões várias, hoje trago, sem organização nem sistematização, expressões onde palavras aparecem fora do seu significado de origem. Chamei-lhes palavras mutantes, só para brincar às expressões.
 Por exemplo:
Por exemplo:
– Aquele anda sempre com macacadas.
Quer dizer que ora diz uma coisa, ora diz outra; ora se comporta de uma maneira, ora de outra. Não se pode confiar muito no que ele diz e faz. Ou então que é pouco firme nas suas atitudes para com os outros.
Sendo macacada, em princípio, um conjunto de macacos, parece-me que a palavra aparece naquela expressão de algum modo abastardada também.
 – Ah, cão de água!
– Ah, cão de água!
Uma mãe, já farta das tropelias do filho, chama-o para vir para casa e comportar-se com juízo. Como ele não deixa de fazer asneiras, vai de rotulá-lo como cão-de-água. Como se o animal não fosse em si mesmo tão bem educado e tão meigo. Então os cães-de-água (como o da foto), coitadinho… Repare que, no apelo da mãe, não usei os traços que uso no nome da raça do animal. Porque para a mãe, não de trata de facto de chamar animal ao filho mas antes de o rotular como um grande rufia.
– Aquilo é um cepo.
Isto significa que a pessoa mal de mexe. Ou também que não tem grande habilidade manual.
– Estás um bom agoniado.
Ou:
– Aquela anda sempre agoniada.
Significado: a pessoa em causa anda sempre mal disposta, trombuda.
– Saíste-me um bom amigo da onça.
Isso significa que a pessoa se portou mal e que faltou aos deveres da amizade.
– Hoje dormi que nem um prego.
Dormi profundamente, não dei conta de nada. Podia passar-me um camião por cima que eu não acordava.
– Aquilo é que é um águia…
Quer dizer que é bom no que faz, que tem boas notas nos estudos ou que surpreende pela agilidade no discurso ou até no que transmite. «É um águia», como também «É um ás?», em geral quer dizer que é muito bom na sua área, ou muito esperto. «É um rato» significa que é mesmo rápido a perceber as coisas: que é muito vivaço.
– É um pato.
Deixa-se enganar com facilidade.
– Caiu que nem um patinho.
Deixou-se enganar e nem deu por ela.
Há muitas, mas muitas outras palavras com significado mutante. Por todas, recordo ao leitor estas:
Porco, bácoro, bacorada, reco – para significar pouca limpeza. Mas a palavra «bacorada» em geral é usada para falar de uma grande asneira. Note que a própria palavra «asneira» aparece aqui corrompida (que culpa têm os desgraçados dos asnos, os burros, que até nem fazem mal a ninguém?).
Nota:
Célio Rolinho Pires, nesta belíssima crónica (primeira de uma série de três – todas já publicadas e lidas com avidez, pelo menos no que me toca), chama à colação, no final do texto alguns versos de um Cancioneiro do Alto-Coa. Chama a nossa atenção para a ironia, o humor e a malícia com que cada terra trata as suas vizinhas.
Por isso, veio-me logo à mente, e não quero deixar de partilhar aqui com os leitores uma quadra popular da minha meninice sobre as terras em volta do Casteleiro.
Dizia assim:
Sortelha só tem barrocos;
A Moita, casarões;
Casteleiro, lindas moças;
Vale de Lobo, paspalhões.
Que perdoem os meus amigos destas terras, mas isto era mesmo assim: no Casteleiro diziam-se estes versinhos de brincar às rivalidades regionais.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Não deve haver terra nenhuma em Portugal em que os nomes que se davam dantes às crianças sejam matéria tão abstrusa como no Casteleiro. Tudo porque quer os padres, que dantes eram quem registava os nomes, como depois um delegado da Conservatória do Registo Civil com essa tarefa, seguiam caminhos ínvios. O resultado é o que se vê.
 No Casteleiro, acho que ninguém jamais se preocupou verdadeiramente com isto, mas é matéria algo estranha para mim desde que me conheço.
No Casteleiro, acho que ninguém jamais se preocupou verdadeiramente com isto, mas é matéria algo estranha para mim desde que me conheço.
Isso porque era até para mim fácil reconhecer grandes discrepâncias entre os nomes de irmãos em várias casas que conhecia.
Dou só um exemplo bem real:
Pai
Joaquim Augusto Catana.
Filhos
Vejam a disparidade e irregularidade de cada caso:
– José Augusto,
– Manuel Joaquim,
– António Catana,
– Augusto Catana.
(Sic: exactamente assim. Não inventei nada).
Como se vê, uns levam uma parte dos apelidos do pai, outros, nem isso. Manuel Joaquim é aquele que mais se afasta de todos os cânones, de qualquer regra. Uma pessoa receber apenas dois nomes próprios comuns e nenhum apelido de família é obra.
Isso deve ter-se passado há uns 80/90 e poucos anos (1920/30 e pouco).
E note que nenhum deles teve direito a qualquer nome de família da parte da mãe…
 Nome próprio e apelido
Nome próprio e apelido
Para nós hoje é fácil: “A escolha do nome próprio e dos apelidos do filho menor pertence aos pais; na falta de acordo decidirá o juiz, de harmonia com o interesse do filho” – artigo 1875.º, n.º 2 do Código Civil.
Mandam as boas normas que «os apelidos são escolhidos entre aqueles que os pais usem».
Mas noutros tempos como era?
Ao que sei, outra gente se metia nesse assunto: pelo menos o pároco e o tal delegado.
O resultado foi o que está à vista.
É rara a casa em que as regras foram seguidas.
E ninguém se preocupou nunca com isso.
Os miúdos ou levavam só o apelido da mãe ou só uma parte do apelido do pai.
O delegado chegava a impor que se a criança levava por exemplo o nome próprio José, igual ao do pai, então já não podia levar o apelido do pai pois «não podia ir duas vezes ao nome do pai». E aí ficava outro nome «coxo».
A minha geração deve ter sido a última mais «marcada» por estas anomalias.
A partir dali (1950) parece que as coisas entraram mais nos eixos.
Mas aí estamos hoje nós todos com estes fardos (nem leves nem pesados, mas que podiam bem ter-se evitado).
Se assim tivesse acontecido, o meu pai ter-se-ia chamado pelo menos José Augusto Catana e eu José Carlos Mendes Augusto Catana ou coisa no género – com ou sem o Augusto, admito, e ainda faltando o nome de família da minha avó, que não aparece no nome de ninguém lá de casa….
Nota
A pia baptismal que se publica não é a do Casteleiro – mas é idêntica.
Trouxe aqui apenas os exemplos do meu próprio nome e da minha família, pela via paterna, para que não haja dúvidas nem incómodos para ninguém.
PS 1
Era no baptismo que se fixava o nome das crianças. Conta-se até este diálogo já na pia baptismal do Casteleiro:
Padre:
– Que nome lhe pomos?
Mãe:
– Prantelhana, sr. Vigário.
Padre para o pai:
– O que é que ela disse?
Pai:
– Pescana, sr. Vigário.
Ana – era o nome que queriam. Só isso: Ana.
PS 2
Esta semana aprendi mais uma crendice popular da minha terra. Desconhecia por completo. Sei que há quem aprecie estas notas e por isso vou partilhar mais esta, que nunca tinha ouvido.
Já ouviram a expressão «bicho do ouvido»? Pois bem, soube agora que quando o bicho do ouvido mexe quer dizer que vai mudar o tempo. Isto foi-me contado depois de… uma mudança de tempo neste Agosto: o bicho do ouvido tinha mexido e zás: mudou o tempo…
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
«Aquilo é um Rei Herodes». Era assim que se dizia no Casteleiro para dizer «pessoa mesmo muito má». Isto tem a ver com a evolução corrompida do sentido de certas palavras.
 Vamos ver se me faço entender: há palavras cuja evolução foi corrompida ao longo dos tempos em razão de novas grafias ou até de nova sonorização. Estas são o que costumamos designar por corruptelas. Mas há outras que, por razões de cultura, quase sempre muito por influência do universo católico envolvente, foram corrompidas no seu significado. É dessas que hoje aqui falo.
Vamos ver se me faço entender: há palavras cuja evolução foi corrompida ao longo dos tempos em razão de novas grafias ou até de nova sonorização. Estas são o que costumamos designar por corruptelas. Mas há outras que, por razões de cultura, quase sempre muito por influência do universo católico envolvente, foram corrompidas no seu significado. É dessas que hoje aqui falo.
O que habitualmente chamamos corruptela é, por exemplo, o percurso da palavra «você» que resulta de «Vossa Mercê», que deu vossemecê e depois você. É um exemplo clássico.
Para deixar claro o modo como penso que estes fenómenos foram acontecendo em mais de 2 000 anos, volto atrás na grande História da nossa terra e da nossa língua.
Os eruditos falavam, falavam, mas os soldados romanos (sempre eles, para mim) não conseguiam pronunciar tudo – e vai de abreviar, compactar as sílabas. Deu resultados magníficos. Porque eles depois trouxeram essas sílabas para as nossas regiões. Misturou-se por aqui toda essa amálgama com o que já cá estava e que já era uma grande misturada e… eis a língua portuguesa no seu melhor.
Essas são as corruptelas – e diversos graus e modulações.
Mas do que eu aqui hoje quero falar é de outra coisa. É daqueles casos em que a palavra até é muito bem pronunciada (estranhamente bem), mas o seu significado foi completamente distorcido. Não pelo Povo, acho. Mas pelos seus habituais mentores, fossem os intelectuais, fossem os eclesiásticos. Eles tinham nas aldeias uma influência pesadíssima.
Realmente: onde é que seria possível (conhecendo nós o grau de acesso cultural normal numa aldeia do século XX, primeira parte) uma idosa aceder à palavra «maçónico»? Só com o empurrão dos homens letrados.
E foi assim que as coisas se passaram.
Nem vale a pena pôr muito mais na carta…
Palavras cujo sentido foi corrompido
Em muitos casos, as pessoas deram a certas palavras significados que nada têm a ver com a origem ou sentido lexicológico.
Em geral, tanto quanto conheço, para dizer mal de.
São palavras que originariamente iam num sentido mas acabaram por ganhar vida diferente. Muitas vezes, o Povo acabaria por lhes dar um significado diferente e mesmo contrário ao seu verdadeiro sentido. Em muitos casos, por influência religiosa.
O caso da palavra «maçónico» é para mim dos mais paradigmáticos.
Havia, claro, quem sempre tivesse odiado os maçãos originais (na origem, «maçons», pedreiros, operários – atenção)… vai de ensinar, apoiar e incentivar o Povo a dizer:
– Aquilo é que é um maçónico..
Isso, para dizer que a pessoa é de má índole, não presta.
Este é um caso de corrupção de significado de uma palavra.
Mas há muitos casos.
Trago aqui apenas meia dúzia de exemplos. Não vale a pena bater muito no ceguinho, nem gastar muita cera com tais defuntos.
São os tais casos de corruptela mas ao nível do sentido das palavras.
Eis alguns exemplos (muita influência bíblica, como não podia deixar de ser):
– Judeu. Sabemos que os habitantes da Judeia, uma das regiões da Palestina de antanho (as outras eram: Galileia e Samaria), eram de facto os judeus. Mas depois, por influência romana provavelmente, judeu passou a ser o habitante de toda aquela zona da Palestina.
Ora quando o Povo diz:
– Aquilo é um judeu…
Quer dizer: uma pessoa mesmo má.
Capaz de atraiçoar e falsear.
Digamos: capaz de matar Cristo, pronto.
Já que estamos naquela zona do Planeta:
 – Rei Herodes. É a figura da foto. Foi rei da Judeia, a mandado dos Romanos. Foi ele que condenou Cristo.
– Rei Herodes. É a figura da foto. Foi rei da Judeia, a mandado dos Romanos. Foi ele que condenou Cristo.
Dizia-se (diz-se) no Casteleiro para adjectivar certas pessoas:
– Aquilo é um Rei Herodes…
Quer dizer que é mau. Antes de mais, para a mulher e os filhos, em geral as grandes vítimas. Mas não só.
Agora o caso da palavra «maçónico» já acima referido «à ligeira»:
– Maçónico. De mação.
Quando a pessoa dizia:
– Aquilo é um maçónico..
Nem valia a pena discutir. Era pessoa nada de igrejas e portanto capaz de tudo. No Casteleiro havia uns quantos, bem conhecidos: uns maçónicos.
Mas depois maçónico passa a ser qualquer pessoa que não fosse praticante religiosa.
E agora eu pergunto: mas que mal fizeram os maçãos originais (não consigo dizer «mações», sei lá porquê) para merecerem tal epíteto?
Outras:
– Valdevinos. Da referência ao Rei Balduíno. Devia ser um tanto estroina.
– Aquilo é que é um valdevinos…
Quer dizer que a pessoa fazia vida de tascas e arredores das mesmas, com os condimentos que se adivinham… um vadio. Coitado do rei…
– Perua. Bebedeira a sério, tipo «gateira», mesmo.
– Estava cá com uma perua…
Estava bêbedo que nem um cacho.
Coitadas das peruas. Bebem, mas só quando os humanos as embebedam nem sei porquê.
Mais uma, finalmente, e bem sintomática:
– Azamel. Correcto seria dizer-se «azemel», mas o Povo, e bem, diz «azamel». Mas para mim isto não é assim tão líquido. Sobre este termo, antes de mais uma nota: a palavra talvez devesse mesmo ser «azamel»: originariamente vem do árabe (az-zammal – aquele que conduz as azémolas, os animais). Ainda há famílias árabes assim chamadas (Azhammal, se não estou em erro).
As pessoas diziam:
– Aquilo é um azamel…
Quer isto dizer: é uma pessoa que não tem jeito para nada que se veja, ou que está sempre doente, um fracote.
Que raio de mal tinham os azeméis (almocreves, carregadores de cargas das bestas)? A não ser que se fartavam de gemer debaixo dos pesos excessivos…
Termino com uma que toda a gente usa:
– Macaco. «Aquilo é um macaco» quer dizer que é um «charepe», que não é de fiar.
E agora pergunto eu: que culpa terão os macaquinhos, coitados? Pior ainda quando se diz(ia). «Aquilo é um macaquito reles» – aí, então, era o fim da linha contra a pessoa visada.
Ao fim e ao cabo: caminhos diversificados de uma língua que sempre esteve bem viva e se recomenda…
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Hoje, apanho uma boleia, com muito orgulho. António Emídio, no «Passeio pelo Côa» do passado dia 7, aqui mesmo no ‘Capeia’, dá-me, entre muita e útil informação, uma luz de caminho para comentário um pouco mais profundo e mais revivalista da minha parte, centrado, claro está, no que aconteceu na minha aldeia nas eleições de 1961.

 O que aqui me traz, desta vez, é então o caso das votações no Casteleiro e nas outras 39 freguesias. As percentagens pode recordá-las aqui (justiça seja feita ao autor da peça).
O que aqui me traz, desta vez, é então o caso das votações no Casteleiro e nas outras 39 freguesias. As percentagens pode recordá-las aqui (justiça seja feita ao autor da peça).
Quantas pessoas votaram em cada terra? Vejamos se nos entendemos: está-se em 1961.
14 anos antes do 25 de Abril.
Eu tinha então uns pequenos 13 anos.
Quando dizemos votar, é votar na União Nacional (UN), a organização política do regime liderado pelo ditador Salazar. A outra lista, a da oposição, como sempre naqueles tempos, não teve condições e desistiu antes das eleições.
Por isso, ficava sempre a UN sozinha – coitada!
Diz-nos António Emídio, transcrevendo notícias da data, que a terra que menos votou na lista da União Nacional foi o Casteleiro, das 53 do Concelho: 64,7%.
Motivo de orgulho
Para mim, esta votação foi mais um motivo de orgulho na minha terra.
Não me surpreende, como já vou explicar. No Casteleiro, sempre houve muita e boa oposição. Já o sabia. Mas agora tenho à minha frente os números, graças à recolha de A. Emídio.
E sei muito bem por que razão foram estes os números do Casteleiro – e já a exponho.
Mas, antes disso, uma referência às freguesias que, mesmo de longe, mais se aproximaram da minha aldeia: Soito, com 70.3%, Vale de Espinho, com 73.7% e Malcata, com 75.3%.
Quando a média de votação no concelho foi de 92%.
Claro que o regime de Salazar desejaria (e, em plena Beira esperaria, de certeza) que todas as aldeias votassem a 100% na União Nacional!
Sei que as pessoas que fizeram no Casteleiro com que os números fossem estes, os do meu orgulho, tiveram muita coragem. Um grupo de democratas da classe média, com base em comerciantes e pequenos empresários. Deram nas vistas. O regime conhecia-os. Talvez alguns leitores não saibam o que se arriscava nesse tempo por «enfrentar» o Regime.
As circunstâncias envolventes
Apenas uma pequena síntese para rememorar.
Em 1959, tinham acontecido as eleições em que Humberto Delgado tinha galvanizado esses mesmos cidadãos do Casteleiro. Mas sem resultado prático – com muitas dúvidas sobre as razões para tal, na opinião do tal grupo de «oposição» a Salazar, sem dúvida.
Estas eleições de que agora aqui se fala, seguindo António Emídio, realizam-se em Novembro de 1961.
Nove meses antes rebentara a guerra colonial em Angola: a 4 de Fevereiro.
Lembro-me muito bem de, nessas férias de Verão, haver imensas conversas à socapa, sem que eu então as entendesse muito bem nem por que é que tudo tinha de ser dito em segredo.
Depois percebi muito bem…
Mas as grandes eleições serão as de 1969: é então que entram na liça a CDE (comunistas e aliados), a CEUD (PS e aliados) e que aparece a ala liberal, mais aberta, da União Nacional com Sá Carneiro e companheiros, quatro dos quais então eleitos para a Assembleia Nacional e com grandes referências até hoje.
Mas isso será em 69 – já eu estava na Faculdade de Direito, em Lisboa.
No entanto, há que sublinhar, as «guerras» eleitorais no Casteleiro já vinham de longe.
Há uns tempos, escrevi uma história de 1890 que me comove sempre. Pode recordá-la aqui.
Ou seja: quanto mais conheço sobre as gerações da minha terra que antecederam a minha, mais me orgulho de ali ter nascido.
Volto então a 1961 e às eleições dessa altura.
Um pequeno grupo
Neste caso, em 1961, os opositores activos eram meia dúzia de pessoas.
Habituei-me, desde os meus cinco anos, a estar por ali, na loja do Senhor Tó Pinto (um estabelecimento comercial) a acompanhá-los, calado, a ouvi-los a lerem o ‘Século’ todos os dias, a discutirem as notícias, a trocarem ideias.
Poucas pessoas, como digo.
Mas era um grupo muito importante e, pelos vistos, muito influente.
Aquelas percentagens, resta voltar a sublinhar como o fez António Emídio, dizem respeito à votação na lista da União Nacional, criada em 1930 e que «viveu» até Fevereiro de 1970, data em que foi substituída pela Acção Nacional Popular de Marcelo Caetano (o tal de quem o Dr. Toninho Rosa me disse em Setembro de 1968 que «calça o mesmo número» – que Salazar, acabado de cair da cadeira, entenda-se). Por coincidência, esta mesma semana o blog do cantautor Samuel traz a capa do saudoso ‘Diário de Lisboa’ do dia seguinte à tomada de posse do Governo de Marcelo Caetano – um documento que se publica hoje e que fala por si…
Mas, voltando àquele Novembro de 1961: o simples facto de nem todos irem votar era tão importante para a Ditadura que , vejam bem, as desculpas para as «faltas» aparecem clarinhas na comunicação social (neste caso, no célebre ‘Amigo da Verdade’, que então já era dirigido há seis anos pelo Padre António Souta – Soita, para todos nós…), como foi também divulgado por António Emídio no ‘Capeia’ e entre aspas e tudo: «Muitos dos que não votaram, não o fizeram por estarem ausentes e alguns por já terem morrido». Malandros dos mortos: bem podiam ter votado – só falta a notícia dizê-lo.
Ou seja: só os ausentes e os mortos é que não votavam na União Nacional, na opinião do Regime…
Portanto não houve «chapelada»
Volto ao Casteleiro, para fechar.
Aquele pequeno grupo de opositores era composto de cidadãos de antes quebrar que torcer. Combinaram não ir votar e convencer muita gente a não ir à urna. A eles se deve o resultado.
Mas não só. Quero registar aqui outro facto importante.
Eram famosas as «chapeladas». Ou seja, os cidadãos que faziam a contagem dos votos aldrabavam habitualmente os números e no fim tudo batia certo com os desígnios do Regime.
Mas ali não (como em muitas freguesias do Concelho, em que não se registaram os confortáveis 100%…).
O que eu quero dizer é que quando, à noite, transmitiram os resultados, os escrutinadores do Casteleiro (não sei quem eram) também precisaram de coragem para não escreverem 100%, mentindo, e escreverem, respeitando o que aconteceu: «No Casteleiro, votaram só 64,7% na União Nacional».
Obrigado, geração desse tempo: os que não votaram e os que não mentiram.
A minha justa homenagem a eles.
E agradeço a António Emídio por me ter trazido agora esta nota importante.
Cada terra tem os seus motivos de vaidade. Eu tenho alguns – e este não é um dos mais pequenos…
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
… ou: uma pronúncia popular que me serviu sempre de guião para a escrita sem erro. Mas que nas últimas décadas, com neologismos e entradas novas de palavras na nossa escrita de cada dia, já não me serve de regra maior. Apenas mais um apontamento sobre a validade dos linguajares e das corruptelas que o Povo soberanamente foi introduzindo…

 Quem não se lembra deste dilema fulminante da sua escrita? Perante um som ch como vou ter de escrever? Com x ou com ch?
Quem não se lembra deste dilema fulminante da sua escrita? Perante um som ch como vou ter de escrever? Com x ou com ch?
É que se trata rigorosamente do mesmo som. Adiante, para aumentar ingenuamente o «suspense», vou substituir a grafia desse som por sh em vez de x ou de ch.
Só não teve dúvidas destas quem foi insensível às questões da escrita.
Faça desde já o seu teste – pense quais destas palavras se escrevem com x e quais com ch: ameisha, shapéu, sharca, shafariz, shefe, baisho, enshada, enshuto, shover, shapada, sheirar, shoquice, shamar, caisha, eisho, faisha,…
Adiante.
Não quero com isto dizer que todas as palavras, todas, se nos colocassem como dúvida.
Mas lá que havia muitas dúvidas, isso havia.
Não devo ser nenhum génio. Mas cedo descobri uma regra fundamental que tem a ver com palavras simples mas me ajudou sempre a resolver a questão de forma correcta.
De facto, descobri, sei lá quando, sei lá onde, que se o povo dizia de determinada forma, eu devia escrever com x. Se dizia de outra, era de escrever com ch.
A regra de ouro
Termino com um vocábulo bem simples. A palavra chave. Os mais velhos diziam e ainda dizem tchavi, uns, e outros tchave. Em todo o caso: tch era o primeiro som da palavra.
Ora vou pegar nesta palavrinha para contar como descobri a tal regra de escrita correcta naqueles anos, quando, nos primeiros anos da escola que hoje chamaríamos do segundo ciclo (nos então terceiro, quarto, quinto anos – anos da nossa sedimentação em certas áreas, e julgo que a da escrita é uma delas e não das menos importantes).
Volto à tchavi.
Aprendi que, quando os mais velhos lá da minha terra pronunciavam tch, então devia escrever a palavra com ch.
Mas quando o povo não metia o tal t no som, então devia escrever a palavra com x.
Os exemplos acima devem então escrever-se: caixa, ameixa, etc..
Vejam então como as pessoas do Casteleiro dizem estas palavras (recordo que em vez de ch ou de x, volto a colocar sh).
Exemplos que levam «t» na pronúncia popular: tshapéu, tsharca, tshafariz, tshefe, tshover, tshapada, tsheirar, tshoquice, tshamar.
Mas outras não levam t na pronúncia popular. Exemplos: ameisha, caisha, eisho, faisha, baisho, enshada, enshuto, etc..
Hoje, é no Lar do Casteleiro que se encontra a maioria das pessoas que assim falavam. Uma homenagem para elas: a foto que se publica.
Mas há excepções
Mas a vida moderna trouxe outras palavras onde esta regra já não entrou necessariamente. Foram palavras trazidas pelos emigrantes e por nós, os migrantes – os que passamos a vida nos centros urbanos e apenas algum tempo, uns mais e outros menos, no torrão natal. Razões de vida.
Palavras como, por exemplo: chaminé, churrasco, charuto, chanfana, etc.
Ninguém, que eu saiba, diz tchanfana ou tcharuto. Soa a ridículo, só de imaginar.
A seguir então a tal regra antiga, se o povo diz sem t, eu devia escrever xanfana, xaruto…
Mas, claro, nada disso.
Estas fogem à regra. Chegaram tarde à aldeia. Não vão por isso ao mesmo quadro de referência.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Mais uma abertura que havia em muitas casas do Casteleiro. O alçapão. Nas casas com dois pisos, por vezes lá estava um caminho abreviado entre um piso e o outro. Para que era o misterioso «buraco» e a escada anexa?
 Hoje vai para si um texto mínimo. É sobre uma peça bem especial das casas de muitas famílias na minha terra. Hoje já poucos haverá a funcionar. Mas há cinquenta anos…
Hoje vai para si um texto mínimo. É sobre uma peça bem especial das casas de muitas famílias na minha terra. Hoje já poucos haverá a funcionar. Mas há cinquenta anos…
Este escrito é produzido e enviado a pedido.
Quando, em roda de amigos beirões contava em síntese a história do «postigo» (que alguém logo emendou para «bestigo», forma bem mais genuína – como já aditei em comentário), houve quem dissesse logo:
– Então e os alçapões?
Aí, senti-me como que apanhado em falta.
O alçapão era fundamental nas casas em que existia.
Por acaso, nas casas da minha família, não havia.
Mas onde havia, era uma passagem fundamental.
Eu explico.
Passagem interior entre dois andares
O frio é muito, em certos meses, no Casteleiro. Isso, todos sabemos.
 As casas dantes por norma tinham, não uma escada interior, mas um balcão por fora, para ligar os dois andares habituais (quase todas as casas tinham dois andares e muitas ainda um sótão). Em geral, em baixo são as lojas (para lenha, vinhos, produtos agrícolas etc.). Em cima, a habitação. No sótão, quando havia, mais arrumos.
As casas dantes por norma tinham, não uma escada interior, mas um balcão por fora, para ligar os dois andares habituais (quase todas as casas tinham dois andares e muitas ainda um sótão). Em geral, em baixo são as lojas (para lenha, vinhos, produtos agrícolas etc.). Em cima, a habitação. No sótão, quando havia, mais arrumos.
Ora, no que se refere ao constante movimento entre a loja e a casa, a miudagem era particularmente «castigada». Era preciso cozinhar umas batatas, «Ó não sei quantos, vai lá buscar as batatas à loja». Era preciso queimar mais lenha, «Ó fulano, vai lá buscar uns cavaquinhos».
Claro que os adultos não eram poupados às viagens constantes entre os dois patamares…
Ora, é aí que entra o alçapão.
Muito mais frio se raparia se não houvesse essa passagem: um buraco quadrado de meio metro de lado ou pouco mais, uma escada quantas vezes bem tosca – e pronto, escusava de se ir à volta ela rua a perder mais tempo e a apanhar muito mais frio, muito mais.
É que naqueles dias de antanho ainda nevava no Casteleiro…
Notas
1. Lamento mas esta razão de oportunidade de juntar já o alçapão de hoje ao postigo da semana passada leva-me a adiar de novo a peça já pronta sobre aquele admirável som «tch» da minha terra e da Raia em geral, herdado das gerações que nos antecederam e por nós abandonado…
2. A foto que se publica é de um alçapão, de facto. Mas um dos modernos, com a madeira muito brilhante e aparadinha. Naquele tempo eram bem mais toscas. Foi o que se pôde arranjar como ilustração…
3. Fiquei muuuito satisfeito por descobrir esta semana que o mural do Vale da Senhora da Póvoa está atento e publica bastantes nacos de peças do ‘Capeia’, designadamente com a minha assinatura. E qual não foi o meu espanto ao verificar que mais de 200 leitores tinham manifestado que gostaram de um desses «nacos», como pode ver aqui. A nossa Beira agradece o interesse.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Hoje dedico estas poucas linhas a uma reminiscência que já mal se encontra e só deve ter subsistido nalguma casa velha ainda não recuperada. São os postigos. Peça engraçada cuja utilidade só percebi já com a juventude a ir-se embora. Primeiro: os postigos da minha terra são diferentes de outros. Porquê e para quê os postigos do Casteleiro?

 Coloco assim a questão porque os postigos ou o que se chama postigos são muito diferentes de terra para terra. Não encontrei nenhuma foto que retratasse exactamente os postigos que havia no Casteleiro. As fotos que se publicam neste artigo vão numeradas em cima à esquerda. A mais parecida com os postigos do Casteleiro é a foto número 1.
Coloco assim a questão porque os postigos ou o que se chama postigos são muito diferentes de terra para terra. Não encontrei nenhuma foto que retratasse exactamente os postigos que havia no Casteleiro. As fotos que se publicam neste artigo vão numeradas em cima à esquerda. A mais parecida com os postigos do Casteleiro é a foto número 1.
As fotos 2 e 3 referem-se a «postigos» também mas das zonas, respectivamente de Viseu (parece-me algo como uma janela especial em pedra, mas é chamado postigo) e de Évora (uma abertura na parte de cima da porta – o que no Casteleiro se chamaria um «janelo»).
No Casteleiro, era, pois, uma meia porta: do meio da porta para baixo, havia outra portada. Mesmo que se abrisse a porta inteiriça, ficava sempre fechada aquela meia porta.
 Para quê? Segurança? Não, na altura essa questão era completamente desconhecida nestas paragens. Mas tinha funções. Vamos vê-las.
Para quê? Segurança? Não, na altura essa questão era completamente desconhecida nestas paragens. Mas tinha funções. Vamos vê-las.
Arejar
Não sendo as casas muito arejadas nem tendo janelas grandes, o postigo servia para arejar o espaço. Mais: como as comidas eram sempre feitas ao lume de brasas e não havia exaustores – e por vezes nem chaminé –, então não admira que o postigo fosse o exaustor da época, pelo menos quando se podia ter essa meia porta aberta.
Iluminar
As janelas nas casas desse tempo eram poucas e pequenas. As casas eram escuras. Para entrar mais claridade, o postigo estava aberto em quase todo o ano, só se fechando nos dias muito frios.
Nesses dias, o postigo servia de reforço de isolamento da casa.
 Namorar
Namorar
Não menos importante poderá ter sido esta outra função especial que os postigos por arrastamento e já que ali estavam acabaram por desempenhar: a rapariga não passava para fora do postigo e o rapaz não passava para dentro.
Um jogo de prisões e grilhetas próprio de todas as épocas anteriores à nossa.
Por isso eu ouvia alguns homens falar do namoro e associarem as conversas com as raparigas com os postigos e muitas vezes com as janelas.
Para o caso da janela havia até aquela canção gozada do Casteleiro de 60: «Ó Ferreiro, casa a filha / Não a tenhas à janela / Que anda aí um rapazinho / Que não tira os olhos dela».
Para o postigo, no Casteleiro, não conheço esta «aplicação».
Mas mais a norte, cantava-se, segundo sei algo como «Eu quero namorar contigo / Da janela para o postigo / Eu quero namorar com ela / Do postigo para a janela».
Para tudo isso servia aquela meia porta de baixo, o postigo.
Notas
1. Soube, já depois de escrita a peça – melhor, foi-me lembrado –, que na parte de dentro de algumas casas havia também um postigo sem porta a separar a cozinha do corredor. Aí, a função era claramente manter a cozinha quente sem impedir os fumos de saírem. Mais uma solução inteligente, acho.
2. Tinha uma peça pronta sobre pronúncia popular, designadamente sobre um som espantoso do Casteleiro, da Raia e da Espanha aqui ao nosso lado: o som tch. Fica para a semana que vem. Hoje fui dominado por uma imagem vista na televisão: um postigo diferente dos do Casteleiro.
3. A propósito da origem do nome da Serra d’ Opa, queira dedicar uns segundos a pensar se a tese de Américo Valente (aqui) tem de facto pés para andar: viria da palavra Opes (ou Opas) – nome da deusa romana da abundância, por outros dada também como deusa protectora da Terra e da agricultura e até da fertilidade. Mas sabe-se que outros autores falam da deusa Abundantia. Ou de Ceres, deusa da terra cultivada e dos cereais. Enfim: mitos e mitologias…
4. Tal como prometi em comentário, faço hoje remissão para uma peça publicada há quinze dias, onde aproveito as pesquisas de Américo Valente (e de António Marques). Essa peça e comentários pode ser lida e reflectida aqui.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Hoje resolvi contar mais umas quantas estórias das muitas que a malta repete em reuniões de convívio. Mesmo repetidas, têm sempre imensa piada e a rapaziada ri a bandeiras despregadas – re-ganhando a ingenuidade de tempos idos, quando estas coisas nos encantavam a meninice. Divirta-se o leitor também. São historietas semelhantes às de qualquer aldeia de há 50 e tal anos.

 Mouras encantadas, buracos misteriosos nas rochas, rochas que falam, potes de ouro são o condimento do imaginário aldeão do interior beirão. O sublime maravilhoso equivalente ao das sereias das zonas costeiras.
Mouras encantadas, buracos misteriosos nas rochas, rochas que falam, potes de ouro são o condimento do imaginário aldeão do interior beirão. O sublime maravilhoso equivalente ao das sereias das zonas costeiras.
Mas há mais.
Há as estórias que metem pessoas reais. As dos quadrazenhos, as dos contrabandistas.
E não só.
Quando somos crianças há três ou quatro realidades que nos dominam: o fascínio pelos mais velhos, designadamente aqueles com os quais nos queremos parecer quando formos grandes; o imaginário maravilhoso popular no seu melhor que enforma quase sempre as estórias contadas pelos profissionais da narrativa que todas as aldeias têm; o prazer de sabermos que em muitas ocasiões somos o centro das atenções e do mundo destes adultos que nos parecem tão fortes, e até o gozo de sermos gozados – porque, acho, queremos entrar no jogo das brincadeiras dos adultos da aldeia. Somos assim uma espécie de protagonistas da nossa própria fragilidade.
O homem do tempo
Havia no Casteleiro um homem que sabia sempre se chovia ou fazia vento. As pessoas tinham o hábito de lhe perguntar isso porque ele acertava mesmo. O segredo dele eram os dias do governo. A palavra governo aqui significa apenas «orientação».
Explicando: a teoria nesse tempo – agora já não será assim, com as alterações climáticas – era a seguinte: cada um dos dias entre 2 e 13 de Agosto (o dia 1 estava excluído desta tese) correspondia a um mês do ano seguinte. Ele dava-se então ao trabalho de registar de memória o que se passava nesses dias de Agosto (acho que cada hora correspondia a dois dias ou coisa do género, já não me lembro). E com essa informação, caldeada depois com a observação astral do próprio dia, o homem conseguia hoje dizer que tempo fazia amanhã com grande probabilidade e muito acerto.
Para mim, isto era uma maravilha estranha. Mas ele não era vidente – era um observador popular. Provavelmente hoje teria uma daquelas equivalências a mestrado.
A pedra das agulhas
Esta estória tocou-me a mim muitas vezes. Um sapateiro mandava-nos levar uma saca atada com um pedregulho lá dentro a outro sapateiro seu colega. «Era» a pedra das agulhas. As oficinas distavam aí uns 200 metros uma da outra. Um dos sapateiros, ti Luís Pinto de seu nome, era um ponto danado, estava sempre com piadas e ditos engraçados e a criançada assentava ali arraiais.
Um dia, diz-me ele:
– Olha, vai lá levar esta pedra das agulhas ao ti António Martins, que precisa de afiar as agulhas dele e as sovelas.
Eu, como era muito bem mandado, agarro no saco com a pedra, faço-me forte, arranco por aí acima e… «ala» para a oficina do homem.
Eles faziam esta matreirice de malandragem.
E nós a cairmos na esparrela.
Às vezes ainda duplicavam ou triplicavam a dose porque o outro, quando lá chegávamos, ainda tinha a lata de dizer que o ti Luís se tinha enganado e…
– Leva-a lá e diz-lhe para mandar a outra.
Pés endurecidos
Na minha terra havia um homem, pastor, que esmagava os ouriços com os pés descalços. Parece mentira mas não é. Segundo me contam, os primeiros sapatos que alguma vez calçou foram as botas da tropa (foi para a Marinha e julgo que terá ido para a Primeira Guerra). Isso queria dizer que andou nada menos do que 20 anos descalço.
Era tal a dureza da pele, que «britava» os ouriços com os pés. Os ouriços são os invólucros das castanhas e como se sabe estão protegidos de picos agressivos. Imaginem a situação: o homem a pisar em cima daquela coisa e as castanhas a saltarem.
Convém saber que muitas pessoas depois contavam estas histórias e realidades da terra, cada qual à sua maneira, mas sempre com muita graça.
Acho hoje que istas eram, afinal, formas de literatura popular ingénua que faziam o dia-a-dia da aldeia. Literatura viva e interactiva: de cada vez que alguém as contava ou as sublinhava, as histórias iam-se compondo, ampliando e diversificando, nunca iguais de versão para versão.
Publico, aliás, com grande respeito, uma foto da geração adulta do tempo em que eu era criança no Casteleiro.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Vamos comparar como era dantes numa e noutra destas nossas duas aldeias. Pelo olhar de dois padres (curas), proponho hoje um exercício comparativo. Podemos ficar a conhecer melhor as duas aldeias que cercam a Serra d’ Opa. Estamos em 1758. Trata-se da organização paralela das respostas que os dois padres deram aos serviços de Lisboa / Marquês de Pombal, através do «interrogatório» de um Padre chamado Luís Cardoso.

 Primeira constatação: o Casteleiro era anexa de Sortelha, em termos religiosos, e dependia dessa sua então sede de concelho em termos civis; o Vale tinha autonomia religiosa. Mas havia cura (padre responsável) em ambas as freguesias.
Primeira constatação: o Casteleiro era anexa de Sortelha, em termos religiosos, e dependia dessa sua então sede de concelho em termos civis; o Vale tinha autonomia religiosa. Mas havia cura (padre responsável) em ambas as freguesias.
Um apontamentozinho pessoal: gosto mais da caneta de aparo mais fino do Padre Olival: dá melhor leitura. Publicamos hoje nesta peça a 1ª página. Quanto às respostas do padre do Casteleiro, já publiquei uma no «Capeia» e podem ser consultadas no «Viver Casteleiro» – ver link aí em baixo.
Mas acho que aquele cura (Padre Olival) era mais analfabeto que o do Casteleiro. Escreve, por exemplo, que há «sento» e doze fogos no Vale (assim mesmo: sento). Mesmo para o século XVIII, é obra… O outro, o Padre Leal, escreve bem a palavra e diz que no Casteleiro há «cento e cinquenta e dois fogos».
Portanto, e já agora: o Casteleiro tinha mais gente. Mas o Vale é mais rico: ao cura, o Vale assegurava uma renda anual de 200 mil réis e o Casteleiro apenas 20. Coitado do Padre Leal… Custa-me aliás a crer tamanha disparidade de rendimentos. Pode haver aqui ou dualidade de critérios ou erro de um deles. Acho estranho.
Depois, verifique-se que ambas as terras «pertencem a El Rei». Não têm nem senhores nem donatários.
As duas aldeias
O Vale desse tempo é contornado pela sua ribeira, que vem de Santo Estêvão e vai para a Benquerença mas que só corre durante alguns meses no ano. Portanto, parece-me que o Vale também se deslocalizou um pouco, tal como a minha terra. Mas têm de ser as pessoas do Vale a confirmar essa alteração e a explicá-la, claro. Falando com os mais velhos, em geral obtêm-se pistas que levam a outras pistas… e tal… e as conclusões por vezes surgem.
 O Casteleiro, confirmemos, ia até Cantargalo. Portanto, estendia-se pela ribeira (que pode ver na imagem). E só chegava a 30 passos da capela de São Francisco, onde hoje é o largo principal, à beira da actual estrada nacional.
O Casteleiro, confirmemos, ia até Cantargalo. Portanto, estendia-se pela ribeira (que pode ver na imagem). E só chegava a 30 passos da capela de São Francisco, onde hoje é o largo principal, à beira da actual estrada nacional.
Noto que o Padre Leal, do Casteleiro, não tem os seus paroquianos em grande conta. É que, perguntado pelos serviços de Lisboa «se há memória de que florescessem, ou dela saíssem, alguns homens insignes por virtudes, letras ou armas», o cura tem o desplante de se exprimir assim sobre os meus antepassados: «Nada por ser gente muito rústica e não se lembrarem de memória alguma».
Mas, pelos vistos, as pessoas, tanto do Casteleiro como do Vale, escrevem e lêem: ambas as terras se servem do correio de Penamacor – afirmam os dois curas.
As duas aldeias, como todos saberão, ficam uma de um lado e outra do outro de uma serra. Mas qual é o nome da serra? Para o Padre Olival (do Vale) é a Serra do Pa. Para o Padre Leal é a Serra d’ Opa. Vou pelo da minha terra: como já escrevi, foi assim que sempre ouvi chamar à serra.
No que eles também não se entendem totalmente é na caracterização do «temperamento» (clima, penso) da serra. Diz um, o do Vale, que é «quente e saudável». E diz o outro que «é frio mas saudável».
As duas terras são livres e pertencem a El Rei. Vê-se ao longo das perguntas a repetida preocupação sobre a existência de «senhores» e de «privilégios». E os padres sempre a darem a mesma resposta: «Nada». «É d’ El Rei». «As águas das ribeiras são livres».
Senhora da Póvoa e Santa Ana
Acho estranho que no relatório sobre o Casteleiro não haja uma letra sobre a Senhora da Póvoa. Mas, provavelmente, a Senhora da Póvoa não era ainda conhecida fora do Vale. Ao que li, isso só vai acontecer uns anos depois destes textos, lá mais para o fim do séc. XVIII (terá a imagem original realmente vindo à força da Póvoa, perto do Meimão?).
As romagens do Casteleiro eram efectuadas até meia encosta da Serra d’ Opa, à capela de Santa Ana. Quem ia a estas romagens a Santa Ana? «Somente os moradores do mesmo povo» do Casteleiro, diz o cura da terra.
Pelo contrário, as respostas do Padre Olival deixam claro que há muita devoção por ali: «Tem a Senhora da Póvoa muita gente em romaria em todo o decurso do ano e o maior concurso é na segunda e terça do Espírito Santo».
Duas constatações interessantes:
– primeiro: no Casteleiro, a capela de São Francisco (que à data ficava mesmo no limite da terra, repito) estava «sujeita» ao convento de Santo António, em Penamacor. Faço notar a propósito que, hoje, a maior festa anual é a de Santo António;
– segundo: ora, no Vale, a maior festa já era a da Sra. da Póvoa, mas há anotação de outra devoção: Santo Antão. Registo isso só para recordar que Santo Antão é o padroeiro de Sortelha – a maior festa anual da terra. Coincidência ou influência?
Economia farta para a época
Tenho escrito que havia muita actividade económica na minha terra. Agora acrescento que também no Vale. Leia:
Pergunta do Marquês:
Se tem moinhos, lagares de azeite, pisões, noras, ou outro algum engenho?
Respostas:
1. Vale – Tem esta ribeira de onde principia até à Benquerença quatro lagares de azeite e quatro moinhos.
2. Casteleiro – Tem dentro do limite desta freguesia esta ribeira sete moinhos e três lagares de azeite, dois pizoins e algum dia teve também um tinte, porém hoje se acha demolido.
Mas há algo em que o Padre Leal, do Casteleiro, falha. Quando lhe perguntam (como aliás ao do Vale) «se em algum tempo, ou no presente, se tirou ouro das suas areias», respondem ambos: «Nada».
Ora, a verdade é que 35 anos antes da data dos documentos destes padres, mais exactamente em 1723, houve uma tentativa de explorar ouro no Casteleiro. Pode ler isso aqui. E era obrigação do Padre Leal dizer isso ao poder central. O Marquês teria mandado abrir minas – e hoje o Casteleiro seria o El Dorado de Portugal!
Notas especiais sobre o Casteleiro
Permitam agora que me dedique um bocadinho só à minha terra. Para duas chamadas: uma sobre o que chamaria o mistério da Serra da Preza e outra sobre a Mitra e a Comenda, que levavam parte dos rendimentos da terra.
1º – Na serra da Preza, havia uma preza. Nada de mais. Mas antigamente (muito antes pois do século XVIII), alguém teria pensado em canalizar a água desse reservatório pois «queriam em tempo antigo levar essa água por canos onde chamam a Torre dos Namorados, distante dela quatro ou cinco léguas».
Este é como que um projecto antecessor do canal de regadio actualmente existente da Meimoa para Sul, para a Cova da Beira…
2º – O Padre Leal regista que aí para sul, nos limites da freguesia, lá para os lados do Escarigo, os rendimentos da terra são assim divididos: «tem a Mitra duas partes em todos os frutos e a Comenda uma». Mas lá para Gralhais, «das Portellas para baixo, tem a mitra duas partes e a Comenda uma, e das Portellas para cima terá a Comenda duas partes e a Mitra uma, em todos os frutos».
Leio na Wikipedia que «uma comenda é um benefício que antigamente era concedido a eclesiásticos» e que a Mitra é afinal também uma «dignidade ou jurisdição de um prelado eclesiástico».
Por fim, uma nota de humor do Padre do Casteleiro: acho que ele estava a gozar com o Terreiro do Paço quando escreveu que na terra há à beira da ribeira oliveiras e amieiros. Mas que os «amieiros, porém, não dão frutos»… Só pode estar a brincar com os lisboetas da altura e a chamar-lhes ignorantes. Deve ter sido uma pequena vingança, pois é sabido que os padres não queriam responder ao Marquês, o que só fizeram depois de ameaçados.
Se pretende aceder ao texto integral das respostas destes dois curas (o do Casteleiro e o do Vale de Lobo), clique aqui – portal para onde levei um cotejo de ambas.
Finalmente, uma nota de agradecimento: o texto sobre o Casteleiro foi trabalhado e disponibilizado por António Marques aqui e o do Vale por Américo Valente aqui (3º tema).
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Desde miúdos, sempre ouvimos:
– Amanhã à tarde, vamos para a Estrada.
Estes terrenos, «A Estrada», podem ter sido o «canal» por onde passou a antiga via romana principal que ligou Alcântara, na Espanha, a Brácara Augusta (Braga), por um lado, e a Aquae Flaviae (Chaves), por outro.
Isto, se calhar (não é mais que uma tese), e de acordo com uma série de dados que recolhi recentemente.
 Estas cerejas vieram da Estrada. Vamos regar as batatas da Estrada. Onde é que anda o padrinho? – Andam todos na Estrada.
Estas cerejas vieram da Estrada. Vamos regar as batatas da Estrada. Onde é que anda o padrinho? – Andam todos na Estrada.
Anos e anos de meninice foram passados ao som destas palavras e destes rituais.
Antes de mais, um aviso à navegação, pois a maioria dos que me lêem neste «blog» não são do Casteleiro e quando leram «Estrada», naturalmente pensaram logo na EN 355, a estrada nacional que hoje atravessa a minha aldeia.
Nada disso.
«A Estrada» de que hoje aqui estou a falar é um caminho muito conhecido pois muitas famílias ali exploram (exploravam) os seus terrenos.
Ali tudo se dava: batata, figos, uvas, cerejas, milho, cebola, tomate… sei lá: tudo.
Mas hoje não vou falar de agricultura e sim de rede viária do tempo dos romanos. Pelo que consegui apurar, e conjugando várias informações, entendo que o povo chama estrada a algo que entes de ser um sítio com muita agricultura foi também um sítio por onde passou de facto uma estrada e não um mero caminho para ligar o Casteleiro aos seus locais de agricultura: foi algo bem mais estrutural, mais importante, mais de carácter «nacional» e não apenas local.
Vamos lá então pensar essa tese.
 Uma grande via romana: Alcântara / Braga ou Chaves
Uma grande via romana: Alcântara / Braga ou Chaves
Antes de mais, analise o mapa das vias existentes no Portugal do tempo da ocupação romana, mapa esse disponibilizado por Américo Valente, que aliás o alterou, e bem, num determinado ponto – como veremos adiante.
Veja a via romana que parte de Alcântara, no território que hoje é Espanha, e que passando por Idanha-a-Velha, seguia para Monsanto, daí para a tão falada Lancia Oppidana (mais ou menos no Vale – de Lobo, hoje, da Senhora da Póvoa).
Daqui, esta grande via romana, seguia para Centum Cellae, subia até Abrunhosa, daí até Viseu, Castro Daire e daí dividia-se: por um lado até Aquae Flaviae; por outra grande via, até Brácara Augusta.
Portela, Ribeira, Casteleiro, Estrada, Santo Amaro
Vamos agora analisar esta via romana ao pormenor aqui na nossa região: veja o recorte do mapa onde podemos ver esta estrada entre Alcântara e Abrunhosa – mas claro que me interessa que se concentre neste pequeno troço: entre Lancia Oppidana e Centum Cellae.
Para a minha tese, vou precisar de concitar algumas informações que lhe pus ao dispor em artigos anteriores.
Primeiro: o Casteleiro antigo ficava bem mais abaixo, perto da Ribeira e eventualmente estendia-se ao lado da Ribeira até ao Tinte…
Segundo: uma via romana bastante importante, mas de carácter regional, vinha do Sul, passava em Caria, seguia pela Ribeira da Cal e para o Sabugal.
 Terceiro: o Padre Leal, ao responder ao marquês, em 1758, acentua bem a importância da «Portela», ou seja, o vale-intervalo entre as duas serras da zona da Ribeira: a Serra d’ Opa e a Serra da Preza.
Terceiro: o Padre Leal, ao responder ao marquês, em 1758, acentua bem a importância da «Portela», ou seja, o vale-intervalo entre as duas serras da zona da Ribeira: a Serra d’ Opa e a Serra da Preza.
Peço ainda que se recorde do que acima leu: «A Estrada», ligando o Casteleiro a Santo Amaro, era uma grande via, de certeza, e aqui vou agarrar esse ponto para estabelecer um possível traçado da tal Grande Via acima descrita.
Finalmente, quero dizer-lhe que, em miúdo, algumas vezes fui a pé para a romaria da Senhora da Póvoa. E íamos por aquela tal Portela, por «Balcastelões» (Vale de Castelões).
Recorde ainda que Lancia Oppidana, a tal cidade fortificada romana, ficava um pouco acima do actual Santuário da Senhora da Póvoa, a meia encosta da Serra d’ Opa. Isso, para se perceber que a via principal certamente seguia dali não para o que hoje é o Terreiro das Bruxas, mas sim pela tal Portela entre as duas serras.
Veja isso, como num filme em câmara lenta, aí adiante.
Possível traçado da Via Romana neste recanto
Penso então, considerando tudo o que conheço destes locais do Casteleiro e da habitual estrutura da rede viária romana, incluindo a forma como as vias passavam tantas vezes encostadas às encostas, que a Via pode ter passado nos seguintes locais que (agora sim) apenas a malta do Casteleiro vai poder acompanhar com conhecimento de causa (do Vale até Centum Cellae, que é o que ora me interessa):
– Vale / Lancia Oppidana,
– Serra d’ Opa,
– Portela (referida pelo Padre Leal),
– Vale de Castelões,
– Casteleiro antigo, lá em baixo ao pé da Ribeira,
– Caminho ao longo da ribeira,
– Alto das Cruzes,
– Descida para a «Estrada»,
– Percurso ao longo desses terrenos,
– Fundo da Ribeira da Cal,
– Santo Amaro,
– Enguias,
– passagem ao fundo de Belmonte,
– Colmeal da Torre (Centum Cellae),
– Guarda ou próximo,
– Abrunhosa… Etc..
Resumindo: «A Estrada» pode ter sido um troço da grande via romana que atravessou esta zona.
De facto, é preciso lembrar que, aparentemente, no século XVIII podia não existir a actual EN 355, a actual estrada nacional (o Padre Leal diz que a última casa do Casteleiro ficava «a 30 passos da Capela de São Francisco»).
Termino com a seguinte pergunta:
– Por que é que o Povo iria, aliás, chamar «Estrada» a um caminho que não tivesse dantes sido algo mais forte do que isso mesmo: um caminho?
Não. Se lhe chamam «Estrada», é porque ali passou mesmo uma estrada importante.
E hoje eu digo: ali passou seguramente a célebre via romana principal que atravessou toda esta região.
Notas de fecho
1. Com grande surpresa minha, soube esta semana, porque me foi contado por uma amiga de Santo Estêvão que sempre ouviu esta história, que afinal a Senhora da Póvoa (a imagem e a devoção enquanto tal) não surgiu no actual santuário mas sim noutro sítio da região. Onde? Num local chamado exactamente «Póvoa», perto do Meimão, a seguir a Santo Estêvão, de onde foi «roubada», penso que no século XVIII. Vou averiguar melhor tudo isto também, pois interessa-me.
2. Alguém me perguntou como pode ter acesso às peças sobre o Casteleiro. Nada mais simples: basta clicar aqui.
3. Sobre o nome real da Serra d’ Opa e sobre como devemos escrevê-lo, atrevo-me a sugerir que leia aqui a minha resposta a comentário sobre esta matéria.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Nas últimas semanas escrevi sobre questões sérias. Sobre temas históricos da nossa região. Confesso que preciso de mudar de assunto. Preciso de aliviar. É que as matérias históricas obrigam a um rigor e portanto um esforço – primeiro, de investigação, depois de rigor de escrita – que me afecta o descanso… Assim, hoje, trago duas personagens mirabolantes do Casteleiro.

 Eram pai e filho. O pai, o ti Nà’ciso, sobre o qual já escrevi, era de Alfaiates. Arraiano puro. Daqueles que, mesmo que vivesse mil anos, nunca perderia nem o sotaque nem as maneiras. Eu sempre gostei dele (menos quando me arrancava os dentes a frio – possa, como diz o outro!). Era o Sr. Narciso. Barbeiro, médico e enfermeiro da terra. Quando digo médico, não é daqueles que pertencem à Ordem. Não. Era daqueles que curavam as pessoas e sabiam o que receitar para cada caso. E as pessoas acreditavam nele, mesmo mais do que nos médicos, faziam religiosamente o que prescrevia – e as farmácias do Sabugal, de Caria, de Belmonte, aviavam as «receitas» dele, escritas em papel pardo ou em restos de folhas de caderno de escola. O que ele «receitava» era lei: para doentes e família, mas também para as farmácias.
Eram pai e filho. O pai, o ti Nà’ciso, sobre o qual já escrevi, era de Alfaiates. Arraiano puro. Daqueles que, mesmo que vivesse mil anos, nunca perderia nem o sotaque nem as maneiras. Eu sempre gostei dele (menos quando me arrancava os dentes a frio – possa, como diz o outro!). Era o Sr. Narciso. Barbeiro, médico e enfermeiro da terra. Quando digo médico, não é daqueles que pertencem à Ordem. Não. Era daqueles que curavam as pessoas e sabiam o que receitar para cada caso. E as pessoas acreditavam nele, mesmo mais do que nos médicos, faziam religiosamente o que prescrevia – e as farmácias do Sabugal, de Caria, de Belmonte, aviavam as «receitas» dele, escritas em papel pardo ou em restos de folhas de caderno de escola. O que ele «receitava» era lei: para doentes e família, mas também para as farmácias.
Um arraiano puro e bem disposto
O Sr. Narciso tinha vindo de Alfaiates com 20 e poucos anos, arregimentou-se no Casteleiro e por ali ficou para sempre. Tinha de tudo: momentos hilariantes, sempre com um sorriso, zangas monumentais e célebres, cada «turina» de caixão à cova…
Mais tarde, por via do meu casamento, tornei-me seu sobrinho. Para mim, passou a ser o ti Nàciso e pronto. Quando me lembro dele, vejo-o sempre a sorrir.
Como digo, era arraiano 100%.
Não só pelo «génio» arreganhado quando lhe chegava a mostarda ao nariz, mas também pelo modo de falar.
Era respeitado e quase endeusado, pelo bem que fazia como «médico» popular. Naquele tempo, não esquecer, não havia Serviço Nacional de Saúde… não havia transportes para as farmácias, não havia acesso fácil aos cuidados médicos, como há hoje, apesar de estarmos sempre a protestar… mas era bom que a malta soubesse que para trás estava uma grande miséria nestas e noutras matérias.
Tinha expressões únicas.
A malta nova adorava-o. Por muitas razões.
Há histórias do arco-da-velha com ele.
Conto uma porque esta se liga com os modos de falar.
Ele estava quase sempre a jogar às cartas, nos seus tempos livres, que eram muitos. Quando chegava a hora das refeições, a malta interrompia, ninguém mexia nas cartas e daí a meia horita, já comidos, retomava-se a coisa.
Umas situações repetidas com o ti Nàciso é a que segue.
O homem vem a correr rua abaixo, desde o café.
Chega ao meio da praceta, sempre em passo ligeiro, e grita com aquele seu modo de falar meio cantado, para a mulher, uma santa e mãe da paciência:
– Ó Zabeli, o qu’é que se come hoji?
E ela, com toda a calma, bonacheirona, como ela era mesmo, lá da varanda ou da janela:
– Caldo verde.
A resposta dele era sempre a mesma, todas as vezes que havia caldo verde:
– Caldo de queubis?? Còmi-o tu!
Escrevi o som eu de couves, como ele o pronunciava, «em francês», porque é o som mais aproximado que conheço e acho que a maioria dos leitores saberá pronunciar isto em francês…
Ainda hoje, quando se fala disto, toda a gente que o conheceu se ri a bom rir. Tanto mais quanto é certo que era famoso o gosto estranho do ti Nàciso em matéria de caldo verde: para o comer, tinha de lhe pôr açúcar.
«Ma Volvô»!
Os netos do ti’ Nàciso, ele com nove ou dez, ela com apenas seis ou sete anos de idade, vieram a Portugal pela primeira vez conhecer a terra do pai e dos avós. A mãe, cidadã francesa, também.
Uma tarde, o pai (filho, portanto, do ti Nàciso), emigrante há mais de 20 anos em Dijon mas que, como técnico de meios-frio, já tinha estado por essa África fora ao serviço da sua famosa empresa, a Japy, pegou no seu Volvo absolutamente novo e quis dar uma volta pelas ruas da aldeia. Aquele carro era enorme para aquelas ruas. Era parecido com o da foto – imaginem o furor que fez numa terra onde os carros locais iam da 4L (a célebre «càtrele» tão referida pelos emigrantes) até aos Austin, Ford Fiesta, sendo que mesmo os emigrantes não iam além do Peugeot 404 e do Renault 19.
Pois bem. O Balé de boa memória meteu então o luxuoso Volvo por aquelas ruas acima, pela parte antiga da aldeia, as ruelas ainda mais apertadas e às tantas chegou a uma curva onde o Volvo não cabia mesmo. Mas ao Balé nessa altura nada se lhe metia à frente. Sobretudo àquela hora e bem bebido como já estava e chateado. E vai de acelerar a apertar o carro contra as paredes de um lado e do outro. E recuava e o carro «encolhia».
Certo é que o carro novo e belo ficou todo amassado dos lados.
Vem a mulher, os filhos, a família, os vizinhos – todos para ver os efeitos da coisa.
E, por entre os «ah!s», sobressaía a vozita da miúda, horrorizada com a imagem do seu carro (digo em francês, para perceber o que vai seguir-se: «avec l’image de sa voiture». Ou seja, carro em francês diz-se «voiture» e é feminino).
Os gritos da miúda eram lancinantes naquela rua toda:
– Oh, ma Volvo, ma Volvo! Oh, ma Volvo, ma Volvo!
(Para melhor colorido, diga como ela dizia: «volvô», com acento nesse último ô).
Ficou célebre para sempre na família o «Oh, ma Volvo, ma Volvo!» da miúda.
Nota
Provavelmente escapou a muitos leitores o conteúdo dos comentários, alguns bem interessantes das duas últimas peças sobre a minha aldeia. Pode aceder a eles aqui e aqui. Vai gostar, se gosta destas coisas do muito antigamente (algumas de há 4 mil anos, veja lá…).
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Sabido que há na Raia sotaques e mesmo palavras diferentes das que usamos no Casteleiro e que na minha terra ninguém sabe o que significam, como poderemos explicar isso em terras tão próximas e que distam entre si apenas alguns quilómetros? Seremos, uns, descendentes dos «ocelenses» e, outros, descendentes dos «oppidenses» e/ou dos «transcudanos»? Talvez. Acho que é uma boa hipótese de trabalho.

 Há umas semanas escrevi num comentário neste mesmo blog que tenho uma intuição há muitos anos: «As diferenças entre o sotaque da Raia (mais cantado, mais aberto, mais espanholado) e do Casteleiro (mais fechado, mais átono, digamos) devem ter tido uma origem histórica: devem ter sido grupos humanos diferentes os que povoaram uma e outra zona».
Há umas semanas escrevi num comentário neste mesmo blog que tenho uma intuição há muitos anos: «As diferenças entre o sotaque da Raia (mais cantado, mais aberto, mais espanholado) e do Casteleiro (mais fechado, mais átono, digamos) devem ter tido uma origem histórica: devem ter sido grupos humanos diferentes os que povoaram uma e outra zona».
É que do Terreiro das Bruxas ou quando muito de Santo Estêvão para cima e para a fronteira, a forma de falar é tão diferente da nossa (Casteleiro, início da Cova da Beira, que segue para Sul: Belmonte, Caria, Covilhã) que às vezes nem percebemos lá muito bem tudo o que se diz nas terras mais para cima.
Desde criança que acho que Quadrazais e Vale de Espinho, então, são o máximo, de tão longe do modo de falar que eu considerei sempre normal… (Quando somos miúdos é assim: o que é nosso é que é normal, o dos outros, se for diferente, é anti-natural…).
Pois bem: houve ou não povos diferentes na formação dos povoados destas duas zonas ao longo dos séculos?
Não sei. Mas parece que sim.
Ocelenses e «oppidenses»?
De facto, podem mesmo ter sido povos diferentes os que habitaram a Cova da Beira e os que se sediaram ou que foram empurrados mais para os lados do Côa.
 Serei eu um descendente dos ocelenses e vocês, da Raia, descendentes de oppidenses ou de transcudanos?
Serei eu um descendente dos ocelenses e vocês, da Raia, descendentes de oppidenses ou de transcudanos?
Estou ainda meio a brincar com uma coisa séria – mas se calhar isto tem mais razão de ser do que eu próprio agora penso…
Há uma tese que me agrada bastante, nesta matéria.
Li-a em Marcos Osório, «O Povoamento no I Milénio AC na transição da Meseta para a Cova da Beira…».
Para este autor, seguindo o historiador de Coimbra Prof. Jorge Alarcão, basicamente terá sido assim: quando os romanos chegaram, já havia aglomerados populacionais de vigilância espalhados pela bacia de visão de São Cornélio, nos «okellos» / ocelos (pontos altos – o «palavrão» tão usado aqui à época é afinal de origem indo-europeia e significa mais ou menos «monte»).
Se isto lhe interessa, pode abrir aqui e consultar o estudo.
No que toca aos arredores do Casteleiro, nada custa a acreditar: havia de um lado, a meio da Serra d’ Opa, um castro, a que depois se chamou Sortelha-a-Velha; e havia do outro lado as povoações «vigilantes» do que hoje é o Cabeço de São Cornelho, como diz o povo da minha terra (ou seja: os pontos altos do que hoje é Sortelha). Desses «okellos» se vigiava todo o vale onde começa a Cova da Beira. Não custa a crer que assim fosse, de facto.
Ora, com a chegada dos romanos, quando aqui já havia celtas há quase mil anos…, podem ter sido criados então mais para Norte e Leste os «oppida» (plural latino de «oppidum», palavra que também significa «lugar elevado»). Em direcção ao que hoje é a Espanha. Estes «oppida» eram muitas vezes locais fortificados, marcos de defesa em pontos elevados dos montes circundantes.
Há ainda outra tese que me agrada e vai no mesmo sentido de as nossas duas zonas poderem ter tido povoamentos diversos – e, daí, os diferentes quadros fonéticos e outros, a começar pelo «ethos», o modo de ser e de estar.
Essa outra tese leio-a em Arlindo Correia e aponta para a hipótese interrogada de que «a Cova da Beira seria a região dos Lancienses Ocelenses ficando os Lancienses Transcudani na zona da Guarda e Sabugal». Ressalvo que há quem «coloque» Cuda (de onde vem «transcudano») ali por alturas do Teixoso, mas há também quem a coloque mesmo junto do Rio Côa.
Estas teorias podem ser lidas, em síntese claro, aqui.
Cabe perguntar onde ficava então a povoação «beirã» de Lancia Oppidana, que terá dado nome a toda a região no século I antes de Cristo, aquando do assentamento da tropa romana e seus acompanhantes? Há aqui quem diga que era no exacto local do santuário da Senhora da Póvoa… Ou seja: a ser assim, o Vale (de Lobo, hoje da Senhora da Póvoa) poderá ter sido, antanho, um povoado principal, quase a capital de toda a zona.
Linguajares diferentes
Assim sendo, teremos sido à data todos lancienses (povo lusitano), mas uns como ocelenses (que já cá estavam) e os outros como opidenses, numa das teses ou, na outra, «transcudani» (que chegaram com os romanos ou foram por eles deslocados mais para Norte, miscigenando-se muito, ao longo dos tempos, com os povos mais a Norte e Oriente, na zona que hoje pertence à Espanha).
 Então pode admitir-se que as bases linguísticas fossem diversas, mesmo que forçadamente depois se unificassem em torno das corruptelas locais do latim, como sabemos.
Então pode admitir-se que as bases linguísticas fossem diversas, mesmo que forçadamente depois se unificassem em torno das corruptelas locais do latim, como sabemos.
Latim que, neste rincão do Império Romano teria duas características: 1ª – Não era o latim dos literatos: esses ficaram em Roma ou, quando muito, acompanhavam os generais e suas cortes…; 2ª – Nem sequer já era o latim do povo de Roma: os soldados que o trouxeram eram muito pouco letrados, iam sendo arregimentados aqui e ali e iam adoptando vocábulos e formas ao longo dos anos e das suas marchas pelo «mundo romano». Eram pois corruptelas sobre corruptelas.
E, pronto, daí resultaram os linguajares locais da época, misturando-se as línguas locais com o «falajar» dos soldados… sei lá.
Não se admirem de tantos pontos de interrogação. É que falta investigar muita coisa nesta matéria. Os autores que descobri, quando falam disto, fartam-se de expressar teorias de que eles mesmos duvidam. O acima citado Marcos Osório, aliás, às tantas diz mesmo o seguinte: «Reconhecemos que muitos dos pressupostos aqui equacionados carecem ainda de verificação arqueológica…».
Mas atenção: se promete não ficar muito confundido, veja aqui a enorme diversidade de povos enquadrados pelos Lusitanos e aqui o mapa do nosso orgulho, cuja publicação pedi: foi aqui que nasceu a original Federação Lusitana (!).
(Como não somos a Sra. Merkel, sei que conseguiremos apontar a nossa terra neste mapa!!)
Ora, voltando ao séc. I AC, a verdade é que a composição diversificada dos povos lusitanos que os romanos vieram encontrar tinha resultado de antigos povos em mistura com os invasores celtas, mil anos antes de Cristo.
Uma miscelânea respeitável, portanto. E é daí que nós todos vimos, afinal, quaisquer que sejam as diferenças entre nós.
Notas finais
1
Desculpem a extensão da coisa… O leitor a estas horas, de duas uma: ou está ainda sedento de mais informação e acha que isto é uma peça ligeirinha e que eu devia aprofundar mais a coisa… ou já vomita teses de História pelos olhos e está mesmo a pensar que eu sou um grande «snob».
Nada disso, meu caro: trata-se de uma necessidade minha: saber de onde venho e para onde podia ter ido (bastava que os romanos tivessem pegado nos meus antepassados da época e tivessem enfiado com eles num qualquer dos vossos «oppida» de Ribacôa, como escreve o Paulo Leitão Baptista todas as semanas!).
Prometo apenas uma coisa: se descobrir algo mais que ache que vale a pena trazer aqui, cá estarei com esse material para o partilhar com o leitor, sem mais objectivos que não seja esse de nos conhecermos melhor, sabendo de onde vimos uns e outros.
2
É que estas coisas, lá bem atrás, ligam-se todas com dias mais recentes.
Por exemplo, uma curiosidade que muita gente desconhece: nesta região, já no tempo dos romanos houve grandes explorações de vários metais muito valorizados pelos ocupantes. Prova disso é que Lúcio Cecílio, o dono da torre Centum Cellae ou Cellas ou Celli (no Colmeal da Torre, próximo de Belmonte), era no tempo dos romanos um tipo que já então comercializava estanho em grande escala. Imaginem de onde vem a coisa! Já agora digo-lhe que o dito local teve foral (ou seja: foi concelho) antes de Belmonte, embora por pouco tempo: era o concelho de Centocelas.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Estava-se em 1758. O Marquês, no início desse ano, mandou perguntar a todos os Padres do País que tutelavam paróquias uma série de coisas sobre a organização local e as potencialidades das aldeias.

 O Cura Manuel Pires Leal respondeu pelo Casteleiro a 25 de Abril de 1758. Já falei dessas «Memórias Paroquiais» em síntese global. Hoje trago dois pormenores muito interessantes para reflexão de quem se interessa por estas coisas.
O Cura Manuel Pires Leal respondeu pelo Casteleiro a 25 de Abril de 1758. Já falei dessas «Memórias Paroquiais» em síntese global. Hoje trago dois pormenores muito interessantes para reflexão de quem se interessa por estas coisas.
Lendo com pormenor e muita atenção as perguntas do Marquês e as respostas do Cura, ficam algumas hesitações espalhadas pelo nosso cérebro fora…
Hoje, dedico umas linhas a duas dessas dúvidas.
Outras poderão vir mais tarde.
Porque acreditamos que o Padre Leal respondeu com verdade e respeitando a toponímia e a localização dos casarios da época, vem-me à cabeça desde o primeiro dia em que o li, que algo não bate certo com os dias de hoje e que há contradição entre a geografia do tempo do padre e a de hoje…
Se não, leia:
1º – O Casteleiro «mudou de sítio» durante o século XIX?
Isto é: será que o Casteleiro era mais estendido lá para os lados da Ribeira e quase nada cá para os lados da estrada nacional, onde está hoje a maior parte das casas, e será que esse crescimento para o que hoje é se deu durante o século XIX? E porquê?
 Atenção: na altura (século XVIII) eram apenas 500 pessoas que aqui habitavam. É certo que hoje são um pouco menos, mas já chegaram a ser perto de 1 500, antes da emigração, segundo creio.
Atenção: na altura (século XVIII) eram apenas 500 pessoas que aqui habitavam. É certo que hoje são um pouco menos, mas já chegaram a ser perto de 1 500, antes da emigração, segundo creio.
Tenho quase a certeza de que assim era. Mas mantenho a interrogação, para já.
Vamos então à minha dúvida.
Lendo uma das respostas do Cura da Freguesia, pode parecer que o Casteleiro no século XVIII não ficava no mesmo local onde hoje está. E pode de facto ter havido um crescimento para cima. Eu explico: hoje, sem dúvida, a aldeia está organizada sobretudo em relação à estrada. O domínio crescente do automóvel durante o século XX, sobretudo a partir da II Guerra Mundial, deve ter tido essa influência: a terra que estava virada mais para a Ribeira e para Sul, agora apresenta-se mais a Norte e alargou naturalmente ao longo da estrada nacional.
De facto, à pergunta do Terreiro do Paço «Se a paróquia está fora do lugar ou dentro delle», o Padre Leal respondeu assim, com a naturalidade de um espírito rural para quem nada mais havia do que a agricultura e por isso tomando a ribeira e Cantargalo como o centro da vida dos aldeões:
«A paróquia está feita no lugar e logo junto às casas, tem uma quinta que chamam Cantargalo tem um morador; e tem outra que chamam do Espirito Santo, tem outro morador».
Repare: Cantargalo tinha um morador, era uma quinta, está «logo junto às casas».
Por isso é que me ocorre que de duas uma:
a)- ou a aldeia se espalhava muito mais do que hoje acontece ao longo da ribeira (Cantargalo hoje fica a uns bons 1 500 metros do Alvarcão, últimos terrenos com uma casa); ou
b)- o Cura Leal chamou Cantargalo ao que hoje se chama Ribeira, depois, a seguir, Tinte – é que só depois é que vem aquilo a que hoje chamamos Cantargalo…
O que me parece verosímil é que a aldeia há 250 anos se localizasse mais lá para baixo para a Carreirinha e para a Ribeira e que só mais tarde, no século seguinte, tenha começado a estender-se para cima, na direcção da estrada romana – por onde depois acabaria por ser delineada a Estrada Nacional nº 345.
Mais e mais garantido: o Padre diz aí em baixo que há uma capela de «S. Francisco que está fora do lugar quase trinta passos». É isso, não posso ter qualquer dúvida. A aldeia desenvolvia-se para Sul, vinha de Cantargalo (deve ser exagero do Padre Leal) e chegava até ao Reduto ou um pouco mais acima. Disso não podemos ter dúvidas. Porque é o Padre Leal que o afirma peremptoriamente, quando diz que a capela de São Francisco (no Largo de São Francisco) fica fora do lugar quase 30 passos.
Ou seja: a aldeia terminava antes do Terreiro de São Francisco!
Mais propriamente: terminava 30 passos antes.
Mistérios insondáveis…
2º – Haveria a meia encosta da Serra d’Opa um pequeno povoado chamado Santa Ana?
Antes de mais, uma coisa importante e já várias vezes discutida aqui no «Capeia».
Note que o padre Leal escreve «Serra d’Opa» (ver abaixo), tal e qual como já uma vez aqui defendi que se devia dizer e não «Serra da Opa» nem nada que se pareça. Há que respeitar essa pronúncia popular – o Padre de certeza que não inventou essa grafia: antes pretendeu com ela reproduzir o linguajar do Povo da «sua» terra…
Voltando à minha hipótese: haveria a meia encosta da Serra d’Opa um pequeno povoado chamado Santa Ana?
Eu explico onde fui buscar essa ideia.
Num primeiro grupo de respostas, pareceu-me que a expressão «o mesmo povo» se referia ao Casteleiro propriamente dito e nem me passou pela cabeça que fosse outra coisa.
Mas mais tarde, ao ler com mais atenção, a ideia ficou presa cá dentro: será que havia ali a meia encosta um aldeamento?
Veja por si mesmo. Baseio a dúvida em dois grupos de respostas do Cura ao Marquês:
1º grupo de respostas do Padre Leal: «À ermida de Santa Ana costumam os moradores do mesmo povo fazer romagem». «Tem quatro ermidas. Uma de S. Sebastião, esta está fora do lugar quase cem passos, e outra do Divino Espírito Santo, esta está dentro do lugar, e outra de Santa Ana, esta está fora do lugar à distância de meia légua, e outra de S. Francisco que está fora do lugar quase trinta passos e nela está erecta a irmandade dos terceiros, sujeita ao convento de Santo António da vila de Penamacor e todas estam sujeitas à igreja matriz do dito lugar de Casteleiro».
«Mesmo povo», repare. É o que o Padre escreve, sem que eu possa garantir de que «povo» (aldeia) se trata.
2º grupo de respostas: «Quase no meio da serra chamada d’Opa está a Ermida da Sancta Anna, acima já declarada, e somente os moradores do mesmo povo costumam ir lá em romagem algumas vezes».
«Os moradores do mesmo povo» (povo aqui significa claramente também aldeia) serão então os moradores do Casteleiro ou os moradores de Santa Ana?
Não sei.
Não consigo afirmar. Só coloco na interrogativa: haveria a meia encosta da Serra d’Opa um pequeno povoado chamado Santa Ana, pertencente à Freguesia do Casteleiro e hoje totalmente desaparecido?
Custa-me a crer que não deixasse restos, mas a redacção do Padre permite-me pelo menos colocar-lhe a dúvida a si…
Se quiser seguir passo a passo as «Memórias», digo-lhe mais uma vez que basta seguir o link, ou seja: basta clicar aqui.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Há dias prometi a mim próprio que um dia escreveria um artigo sobre um termo que me fascina especialmente. É um conjunto de sons, como tantos outros. Mas acho que consigo explicitar tudo o que me faz lembrar…

 Na minha meninice, como já disse muitas vezes, fiquei muitas vezes fascinado com sons que ouvia. Para mim, sons; para os adultos, palavras indiscutíveis.
Na minha meninice, como já disse muitas vezes, fiquei muitas vezes fascinado com sons que ouvia. Para mim, sons; para os adultos, palavras indiscutíveis.
Hoje, à distância, até acho estranho como é que para mim não tinham a qualidade de palavras – pois se eu me criara ali, no meio daquela gente magnífica, a ouvir estes termos toda a vida, ainda curta… – como explicar que para mim não fossem palavras e correspondessem como que a um estádio prévio, anterior às palavras.
Ou como entender hoje que naquele tempo outras palavras ditas me entrassem pelos ouvidos significando outra coisa completamente diferente.
Nem sei, porque nunca discuti isso com ninguém, se com outros miúdos acontecia o mesmo ou coisa parecida. Mas comigo era frequente. Era como se os meus avós, pais e tios e amigos deles às vezes falassem outra língua. E eu espantado.
Os potes
Um caso que costuma fascinar quem ouve a história é aquela dos potes. Eu explico. Na loja do Senhor Tó Pinto, que funcionava muito como tertúlia daqueles tempos, digamos, juntavam-se algumas pessoas que discutiam problemas seus e do Povo e do País (o «Povo», na minha terra significa muitas vezes a aldeia: «Nunca mais cá chega a electricidade ao Povo» queria dizer que a electricidade nunca mais chegava ao Casteleiro). A loja do Sr. Tó Pinto era um «comércio» (um estabelecimento comercial), mas havia muitas horas vagas e muito espaço para se sentarem ou em pé discutirem a partir dos títulos do «Século» muitas coisas que eu ouvia com atenção sem participar.
E uma expressão que muitas vezes ouvia metia-me cá uma confusão…
Era o caso de o meu pai e outros tertuliantes dizerem muitas vezes no meio dos seus debates que «… partimos daí potes».
Claro: isso era o que entrava nos meus ouvidos.
Mas não era o que saía das bocas deles. E eu – sei lá porquê – não perguntava o que queriam dizer com aquela de partirem tantos potes… logo eu que era um curioso do caneco e dizem que queria saber tudo…
É que, de facto, como percebi anos mais tarde (era mesmo burro, caramba: só alguns anos depois, já adolescente, é que entendi a expressão), o que eles diziam era simplesmente:
– Partimos da hipótese…
«Aquaisqui»
Agora, então, o «aquaisqui». Presumo que toda a gente sabe que estas sílabas são a tradução fonética da forma como as pessoas dizem (melhor: diziam; e os mais velhos ainda hoje dizem) o «quase». Que, claro, era seguido da palavra «que», ficando «quase que».
Primeiro a questão gramatical, depois a questão da pronúncia.
Em termos sintácticos, isto não está sequer errado. Ou melhor, tem uma justificação – e depois o Povo adoptou a fórmula e pronto, estava criada essa nova e espantosa palavra «aquaisqui».
Vamos por partes, então.
Quando eu digo (e é correcto): «Já tenho quase dez maçãs colhidas», não posso meter nesta frase nenhum «que».
O tal «que» entra (e pode entrar – é uma fórmula que se admite também como certa) em frases nas quais a seguir ao «quase» venha um verbo.
Exemplo: «Aquaisque le partias a pata» – por «Quase que lhe partias a pata», fórmula que se aceita, embora seja mais vernáculo retirar o «que»: «Quase lhe partias a pata».
Mas o Povo quer (queria) lá saber disso.
Ora do «quase» rapidamente se passou ao «aquais». Vá se lá saber de onde veio o «a» inicial…
E do «quase que» foi um saltinho até ao «aquaisqui», o «aquaisque» ou o «aquais», conforme as situações do liguajar.
Tão engraçada como esta, só mesmo aquela outra palavra: «assêqui». É o que o Povo diz para querer dizer talvez: «eu sei que». Mas num sentido bem diferente da certeza do «eu sei»: «assêqui» diz-se para significar: «parece que», «consta que».
Simples, meu caro Watson??
Melhor que esta, só quando no Casteleiro a mãe diz para o filho que está a fazer uma asneira:
– Ó garoto do diabo, carrai taten tàti?
«Carrai taten tàti». Consegue ler? Sabe traduzir? É:
– «Que raio te tenta a ti».
Ou seja:
– O que é que te deu?
Divirtam-se. O Povo, aqui representado na foto por utentes do Lar do Casteleiro, é um exímio construtor de linguajares. Riquíssimos e que, se quisermos, além de nos encantarem, nos dão muito que pensar para explicar os percursos dos fonemas e das estruturas.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Esta história deve estar muito fantasiada. Mas tem piada. É uma daquelas «boutades» da «fidalguia» rural da nossa zona, os grandes lavradores de cada terra: eles tinham dinheiro e exibiam-no. Eram os únicos que o tinham. E então esta de ter um carro americano devia dar um «sainete», que fax’ avor… se é que me entendem.

 Este foi o primeiro carro da terra. Penso que era um Ford, pelo que me lembro de ouvir falar dele. Era por volta de 1930. Julgo ter sempre ouvido dizer que era um Ford 1928. Mas não foi este o primeiro carro que houve na Freguesia. Não. Em 1905, o Morgado de Santo Amaro comprou um dos primeiros carros de Portugal e sem dúvida o primeiro da nossa região. Foi titular da primeira carta de condução do País, datada desse ano (1905). Foi obra…
Este foi o primeiro carro da terra. Penso que era um Ford, pelo que me lembro de ouvir falar dele. Era por volta de 1930. Julgo ter sempre ouvido dizer que era um Ford 1928. Mas não foi este o primeiro carro que houve na Freguesia. Não. Em 1905, o Morgado de Santo Amaro comprou um dos primeiros carros de Portugal e sem dúvida o primeiro da nossa região. Foi titular da primeira carta de condução do País, datada desse ano (1905). Foi obra…
Mas voltemos ao Ford 1928.
Era de um dos lavradores mais abastados da terra: o sr. António Mendes. Se era de facto um Ford, era parecido com o da foto, a que retirei a matrícula.
A viagem era uma aventura
O sr. António Mendes comprou então o carro. Um carrão. Um luxo.
O pior eram as mãos do dono.
Parece que fazia tudo menos «conduzir». Andava no carro. Ia aos zigue-zagues pelos caminhos e estradas. Aliás, imagino, as saídas da garagem deviam ser muito poucas, porque a qualidade dos arruamentos era de certeza péssima.
Em todo o caso, contava-se à noite ao serão que um dia lá pegou no carro e… «ala que se faz tarde»: rumo à Guarda. Mas com umas peripécias que a todos encantava ouvir.
Era o caso de acentuar bem a inépcia do senhor ao volante.
Contava-se que a cada curva, lá parava e mandava o criado ver se lá vinha alguém.
Notem: isto era nos anos 30. Não havia carros por aqui, a não ser os carros de bois (melhor: de vacas – era assim que se dizia, é assim que se diz agora, mas já não há carros de vacas no Casteleiro há muito tempo…). Portanto, se viesse algum carro seria de vacas. Reparem na auto-confiança do homem: era preciso que o empregado («criado»: era o termo) fosse à frente e parasse o «trânsito»!
A viagem era uma grande e demorada aventura: os 30 km que seriam do Casteleiro à Guarda eram uma tortura para os dois viajantes.
A cena repetia-se pelas estradas adiante: nas curvas, o lavrador parava o carro para o criado sair e ir à curva assomar-se para diante a ver se não vinha de lá ninguém: nem pessoas nem carroças, nem algum carro que por ali eventualmente já circulasse. Afastado o perigo («Fujam, fujam, que vem aí o carro do sr. António Mendes») ou não o havendo, o criado, então, fazia sinais largos, gritava e «mandava» seguir o patrão…
 Coitado do polícia
Coitado do polícia
Assim, naquele dia, manhã cedo, lá foram andando para a Guarda: Casteleiro, Santo Amaro, Enguias, Carvalhal, Belmonte, cruzamento do Ginjal, Gonçalo, e por aí adiante, depois serra acima, serra abaixo, subida para a Guarda…
Entrada na cidade da Guarda. Estamos nos anos 30. O trânsito de automóveis era pouco, seguramente. Mas havia trânsito, ainda que também de carroças e tal. A prova disso é que havia dois ou três polícias sinaleiros em cruzamentos com maior afluência de tráfego.
Um desses locais, frente à Igreja da Misericórdia da Guarda, era exactamente aquele em que se deu o incidente. O. Porque terá sido uma situação muito, mas muito falada. É que o senhor António Mendes, homem rico e bem relacionado, não era propriamente um anónimo… e aconteceu um «qui pro quo» que podia ter sido grave. Foi apenas divertido e alvo de anedota. Mas podia ter sido mortal.
Muito simples de entender.
O sinaleiro lá estava na sua função. Manda parar este. Manda avançar aquele. Manda parar todos para passarem os peões… O normal para um sinaleiro.
Só que quando mandou parar o Senhor António Mendes, o homem atrapalhou-se, não consegue parar o carro, desata a esbracejar para o polícia, grita para o criado que mande sair o sinaleiro.
O sinaleiro esbracejava para o mandar parar. O carro não pára. Avança para o estrado do polícia. Leva o polícia no «capot», vai direito à muralha em frente, o polícia dá aos braços a segurar-se com dificuldade.
Valeu que a velocidade era pouca, felizmente, e tudo acabou em bem: não houve feridos.
Mas houve troca de piropos.
Diz o polícia, a arrumar-se e a limpar-se:
– Que diabo é isto? O senhor não me viu?
Resposta pronta e tranquila do sr. António Mendes (que bem sabia que a ele nada podia acontecer naquele tempo):
– Eu vi, que diabo. E o senhor não me viu a mim? Por mais que o avisasse o senhor não me saía da frente, o que é que quer?
Resolvida a questão, cada qual lá terá ido à sua vida e o incidente não teve qualquer consequência, como sempre, quando se tratava de grandes lavradores…
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
A panela de ferro é a rainha da cozinha nos anos 50. Mas há ao lado os amigos dela: o tacho, a sertã, a caldeira – tudo arrumado ao lume, pendurado nas cadeias ou colocado em cima das trempes. Eis o cenário marcante de uma casa, onde a cozinha era a zona principal.

 Esta é uma crónica sobre o trabalho escravo das mulheres de então. (E de hoje, em certa medida, porque muito se mantém ainda). Trata-se de uma época de cores fortes, pelo que uso aqui a panela, o tacho e as trempes como meio de atracção de leitura: foi para o enganar a si, leitor, agarrá-lo pelo lado da curiosidade e levá-lo a ler uma coisa bem mais profunda do que umas linhas folclóricas sobre tachos e panelas…
Esta é uma crónica sobre o trabalho escravo das mulheres de então. (E de hoje, em certa medida, porque muito se mantém ainda). Trata-se de uma época de cores fortes, pelo que uso aqui a panela, o tacho e as trempes como meio de atracção de leitura: foi para o enganar a si, leitor, agarrá-lo pelo lado da curiosidade e levá-lo a ler uma coisa bem mais profunda do que umas linhas folclóricas sobre tachos e panelas…
Cabe aqui dizer que nos anos seguintes, na década de 60, chegou a emigração e com ela mais dinheiro nos bolsos de muitos. Mas se é verdade que o dinheiro aliviou um pouco a miséria, é bom que se saiba que isso não aliviou as mulheres dos seus trabalhos. Pelo contrário: muitas ficaram sozinhas com os filhos e a vida toda: os animais e os campos para tratarem…
 Cozinha, panela, tacho e trempes
Cozinha, panela, tacho e trempes
A cozinha e o trabalho em casa ocupam a maior parte do tempo da mulher. Imaginem o cenário. Uma cozinha aberta, paredes e equipamentos na base do escuro de origem ou do preto adquirido pela queima de tanta lenha. Por cima, o caniço (fumeiro). À frente de todos, o lume. Do centro do lume sobem as cadeias, um entrelaçado de ferro em que se penduram os caldeiros com a comida para o «vivo» (os animais). Em volta do lume, as panelas: nelas se cozem as batatas, os feijões ou o caldo de couves. Umas trempes redondas (não triangulares como as da foto, retirada da net) servem para colocar em cima os tachos ou a caldeirinha de cobre ou de zinco em que se fritam as filhós ou se faz o arroz doce em épocas de festa. Aqui e ali, a sertã (frigideira) vai também ao lume para fritar um ovo e umas batatas, ou mesmo para fazer aquele inesquecível prato das «batatas arranjadas» (o que hoje chamamos «roupa velha»: aproveitamento de restos para os cozinhar em estilo de semi-frito, com azeite e alho).
A chouriça, a bucheira, a morcela ou o farinheiro, as costeletas, a carne gorda ou entremeada – esses alimentos raros, se os havia, eram grelhados numa grelha grande.
Este é o mundo da mulher do Casteleiro nos anos 50/60 do século passado.
Panelas e tachos são instrumentos da mulher. A cozinha é o reino da mulher.
Mas também o seu local de combate, de trabalho e dedicação até mais não: acende o lume, faz a comida, põe a mesa, serve a comida, recolhe a loiça, lava a loiça, arruma tudo, limpa tudo, vai ao campo, faz o que tem a fazer, volta a casa, acende o lume, faz a comida…
«Trabalho de mulher»
Uma nota cultural final: uma ideia que vem do fundo dos tempos. A propósito de tachos, panelas e caldeirinhas: já ouviu dizer que «isso é trabalho de mulher»? Em tom de menosprezo, claro. A má formação aliada à ignorância faz estas coisas no nosso cérebro. Foram milénios culturais que é preciso domar…
O que era então esse tal desprezível «trabalho de mulher»?
Era de tudo: a comida, a horta, os animais para alimentação e venda (porcos, galinhas, coelhos), cozer o pão e preparar todo esse processo… e muito, mas muito trabalho no campo. Nos tempos livres (?) ainda havia que tratar dos gaiatos, das roupitas deles, fazer camisolas de lã e coisas do género.
E faziam tudo.
Mulheres-heroínas, é o que é.
As refeições do dia estavam por sua conta. Eram muitas, nas casas de trabalho: almoço – às seis ou sete da manhã; na época das grandes fainas, nas casas que as tinham, o c’ravelo (penso que se deve dizer caravelo) – às dez horas; jantar – ao meio-dia, mais ou menos; merenda – pelas quatro ou quatro e meia; ceia – às nove no Verão e às sete e meia ou oito no Inverno.
Isso, ocupava muitas horas. Mas havia mais trabalho em casa: limpar, varrer, roçar.
E, quantas vezes, fazer a roupa de todos? E lavar a roupa? Dias inteiros na ribeira, fizesse calor ou nevasse? E passar a ferro aquilo tudo?
Nos «intervalos», campo. Na vinda, animais de casa: porcos, coelhos, galinhas e o resto.
Se o leitor tiver interesse em saber como é que eu penso que as nossas mães ocupavam o seu tempo nos anos 50, pode abrir aqui uma crónica que escrevi há quase seis anos e que ainda hoje me impressiona.
No Casteleiro, e se calhar no resto do País, as mulheres, as nossas mães, eram verdadeiras escravas: ele era em casa a tratar da família, desde o comer à roupa e à limpeza; ele era ali junto de casa a tratar do «vivo»; ele era no campo a tratar das hortas, e a regar, e a arrancar batatas, as cebolas, as couves e a mondar aqueles terrenos todos e… e…
Mas não se pode esquecer que os homens também davam no duro por aqueles campos fora.
Eram mas é vidas do catano, pá («catano», na minha terra, não é asneira: só brejeirice da boa).
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
O forno da minha aldeia. Há muitos anos, claro. Melhor: os fornos do Casteleiro. Fornos de cozer o pão, evidentemente (havia os outros «fornos», muitas vezes designados só assim: eram os do volfrâmio, de que já falei aqui). O do pão era um forno de uso colectivo, embora de propriedade particular. Um cheirinho a pão e bolos, que, meu Deus…
 Estaremos aí por meados da década de 50 do século XX, no Casteleiro. O forno é um equipamento social indispensável e mesmo essencial de uma aldeia naqueles anos.
Estaremos aí por meados da década de 50 do século XX, no Casteleiro. O forno é um equipamento social indispensável e mesmo essencial de uma aldeia naqueles anos.
Da minha lembrança, o forno mais importante era o da t’ Mari’ Bárb’la (Maria Bárbara). Quer dizer: o forno não era dela. Ela era como que a gestora daquilo. E de que modo o geria! Havia dois fornos. Mas este é que era o mais castiço. E a forneira era de facto um cromo. Escrevi sobre esta questão há muito tempo noutro local da net. Chegou a hora de o partilhar com os leitores do ‘Capeia’, com umas fotos arrancadas ao satélite, que podem dar uma vaga ideia das imagens que nesta matéria me povoam as sinapses estabelecidas pela massa encefálica…
 Ordem para «tinder»
Ordem para «tinder»
No processo de fabrico do pão (centeio, escuro), há vários momentos. Estão aqui, claro, a lembrar-me isso. Tudo começa em casa com a amassadura. Depois, fica em repouso. Mas só podem ser moldados os pães um a um e colocados direitinhos no tabuleiro (chama-se a isso «tender») quando a forneira dá essa ordem à aldeia – ou melhor, à parte da aldeia que coze nesse dia.
É um mecanismo simples para a época: a t’ Mari’ Bárb’la percorre as ruas onde moram as pessoas da lista do dia e vai de gritar a grandes pulmões (era uma matrona razoável, como tinha de ser):
– Ó ti’ Vesitação!!! Já pode tinder!!!
Isto, bem berrado, como convinha.
(Até se conta que um dia uma das da lista, com os copos a sério, não quis saber dessa ordem de «tinder» da forneira e, sem pudor, porque o cérebro estava noutra, terá respondido:
– O pão logo se tende amanhã…
É preciso que se perceba o absurdo desta resposta: o processo de fermentação do pão é imparável, como é evidente… Mas a cabeça da senhora, com a vinhaça, não estava nessa…).
 A tarefa de tender tinha um ritual muito específico. Lembro-me muito bem. Primeiro passo: espalhar uma camada de farinha ao de leve, semeando com a mão, de modo a forrar o tabuleiro todo. Segundo passo: fazer os pães, um a um, muito bem arrumadinhos, bonitos, arredondados ou mais sobre o oval, à vontade da dona.
A tarefa de tender tinha um ritual muito específico. Lembro-me muito bem. Primeiro passo: espalhar uma camada de farinha ao de leve, semeando com a mão, de modo a forrar o tabuleiro todo. Segundo passo: fazer os pães, um a um, muito bem arrumadinhos, bonitos, arredondados ou mais sobre o oval, à vontade da dona.
«Intermezzo».
Já agora recordo a quem ande distraído que isto eram tarefas só das mulheres…
Seguindo: depois de arrumadinhos os pães, era sagrado que entrava o momento da fé: cada pão era religiosamente marcado com uma cruz desenhada em cima espetando a pá de ferro, já preta, nos sentidos Norte/Sul e Este/Oeste…
E com cada cruz a mesma «reza»:
Deus, Nosso Senhor,
Te acrescente
E os Anjos, no Céu,
Para sempre.
A seguir todos os pãezinhos (sei que pela norma não devia pôr o til, mas «paezinhos» nem me parece português…) eram cuidadosamente tapados com um pano tipo lençol branco.
Ir ao forno
Depois disso, era só ir até ao forno.
Tabuleiro à cabeça, rua abaixo.
Por grupos, os tabuleiros iam dando entrada no forno.
Cada fornada, eram despachadas sete ou oito freguesas.
O pão cozia.
Enquanto isso, as mulheres conversavam, conviviam.
A vida da aldeia, evidentemente, passava toda por aquele telejornal colectivo da altura.
Por vezes iam também uns bolos pequenos. De vez em quando, com esses bolos, ia também um «pão-leve» (pão-de-ló) ou, em ocasiões especiais, até talvez um tabuleiro de «doces», pequenos montes redondos de massa doce e fofa, com algum açúcar queimado no cocuruto, quase caramelizado: uma delícia de que me lembro a lamber os «bêços» até hoje.
Tarefa concluída, ala que se faz tarde: tabuleiros de madeira com o pão para toda a semana e mais as eventuais guloseimas.
E ninguém pagava em dinheiro – que era coisa que não abundava por ali. Pagavam, sim, em espécie: um pão, uns bolos… Era, também nesta actividade, uma espécie de maquia: deixar lá parte do produto – algo como troca directa para pagar serviços. Como acontecia com a maquia do azeite no lagar até há um par de anos atrás.
Pão e batatas: a base da alimentação de muitas famílias, quase todas, por aqueles dias.
As batatas, semeadas com base familiar.
O pão, o forno, a cozedura, com um colorido de tarefa colectiva, social.
Nota
Para quem gosta, eis um filmezinho de 8 minutos com as crias de uma mãe especial e de grande significado também para a nossa região: são as crias de lince ibérico em Silves. Pode ver aqui. Aliás, se deixar o vídeo ir até ao fim, fica com várias opções para se deliciar.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Hoje vou ser «desagradável» para algumas pessoas. Escrever o que se pensa é isso também, por vezes. Vou acrescentar neste texto mais um «item» a uma tese que defendo. E cai na «mouche» por causa de duas peças publicadas recentemente no «Capeia», numa das quais se falava do «ethos» raiano.

 O concelho do Sabugal é de uma grande diversidade de gentes. Confirmo todos os dias uma coisa interessante: o Casteleiro não pertence à Raia; nós, na minha terra, não somos arraianos. Os nossos «ethos» (maneiras de ser, de falar, de reagir, os nossos costumes) são muito diferentes. Parece que construímos castros e castelos em tempos que já lá vão, mas não andámos nas guerras de fronteira, a não ser nas décadas de 60 e 70 – mas para ir de abalada a salto para a França.
O concelho do Sabugal é de uma grande diversidade de gentes. Confirmo todos os dias uma coisa interessante: o Casteleiro não pertence à Raia; nós, na minha terra, não somos arraianos. Os nossos «ethos» (maneiras de ser, de falar, de reagir, os nossos costumes) são muito diferentes. Parece que construímos castros e castelos em tempos que já lá vão, mas não andámos nas guerras de fronteira, a não ser nas décadas de 60 e 70 – mas para ir de abalada a salto para a França.
Não somos raianos.
Mais.
Tenho para mim há muito tempo que, pela lógica, a minha terra devia estar no concelho de Belmonte ou noutro, mas do distrito de Castelo Branco, como sempre esteve até meados do século XIX. Já o escrevi em muitas ocasiões.
Há muitas diferenças e muitos pendores nossos que não batem certo com os dos povos raianos. É assim.
«Ethos» muito diferentes
As nossas maneiras de ser são muito diferentes das que encontramos nas terras da Raia.
Costumes, filosofias de vida, maneiras de ser – tudo muito diferente. E até a maneira de falar: o entoado, a pronúncia de muitas palavras, o ritmo «do falar», as expressões e até muitas palavras.
Somos diferentes. Amigos, mas diferentes. No Casteleiro há bastante sangue arraiano: casamentos fizeram a mistura. E dá para ver a harmonia na diferença.
Ora, uma das componentes da / do «ethos» é o linguajar profundo do Povo de uma terra ou de uma região, pois esse linguajar traduz em muitos casos uma filosofia de vida.
Ora quando leio artigos em que esse linguajar é protagonista, como é o caso dos magníficos capítulos da série «Aventuras de um velho contrabandista», mais me convenço de quanto somos diferentes.
Mas já lá vou, depois de dois compassos de «intermezzo»:
1. Antes disso e para já, quero assinalar outra diferença: as touradas, sejam de forcão, sejam de capa e espada, sejam de cavalos. Mas sobretudo as pegas e as garraiadas, com ou sem forcão. Cá para estes lados, nada de devoções marcadas desse tipo.
2. E também antes de ir às palavras usadas nesses textos e que não usamos no Casteleiro, quero registar com o leitor algumas expressões usadas no Casteleiro que julgo que na Raia não serão conhecidas,
Só depois disso irei referir algumas palavras que não entendo nos artigos sobre o velho contrabandista…
Expressões interessantes
Apenas três ou quatro exemplos. Não sei se em mais algum ponto do País se dirão vocábulos como:
– Ter uma coisa em grande incondezilha. Nem imaginam o que isso significa, não é? Mas eu explico. Significa: dar muito valor a uma coisa. Apenas isso.
– Fulana é uma grande linguerta ou é uma grande lindrisca. Quer dizer que a pessoa mete o nariz em tudo. Mas há diferença de grau: a lindrisca anda de má fé.
Ou então: – Aquilo é um pantchana. Para significar: é um atado, não é nada desenrascado.
Ou ainda: – É um bom mucanca. Significado: costuma andar trombudo, não fala às pessoas.
Se eu não explicasse estas expressões, percebiam-nas?
… Mas não posso deixar de registar, a propósito da boa disposição que julgo, e muitos julgamos, enforma o espírito popular profundo no Casteleiro. É o caso de alguém que diz com grande alarde para outrem
– Mostra aí às p… (prostitutas – mas à moda da rua, bem profunda) quem são os coirões!
Atenção, isto era dito aos rapazes.
Ora «coirão», no Casteleiro e não só, não é mais do que uma forma suave para «prostituta». Então, se alguém é incitado a mostrar às prostitutas quem são as prostitutas, isso significa: «Mostra lá o que vales». Apenas isso, mas dito com um grande sorriso de humor (muito específico, claro).
Palavras que desconheço
Apenas alguns exemplos. Porque não sou da região de cima do Côa, não percebo palavras como: «almareado», logo no título da última crónica, ou «béculas» ou «cachondice» que leio também no último texto sobre o Contrabandista. Adoro ler aquilo tudo, pelo ambiente criado, pelo realismo do encadear da trama, mas tratando-se de episódios soltos – como quem recorda para os netos bocados da sua vida passada.
Gosto e leio. Mas a verdade é que desde o primeiro capítulo venho notando a minha distância em relação a este linguajar bem popular a uns quilómetros a norte da minha terra mas que no Casteleiro não usamos e não conhecemos.
Como não entendi o que é a «chouchana» referida pelo padre no último episódio; ou, noutro texto anterior, não entendi o que significa «bater a sota».
Porquê? Porque o «ethos» do Casteleiro é diferente, claro – é esse o meu ponto.
E já agora, registo outra diferença: na Raia trocam-se os bês pelos vês, melhor: os vês lêem-se como bês, à moda e por influência espanhola.
E isso leva-me à palavra «verduada» recentemente usada pelo mesmo autor. Acho que virá de bordão e que o Povo a usa ou usava, e bem, para significar «bordoada».
Essa forma de falar também faz / fazia a diferença. E isso é bom: cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso… (já agora).
PS – Hoje também me compete emendar a versão ficcionada pela autêntica de uma estória que se conta no Casteleiro. Trata-se da época do volfrâmio (década de 40 do século XX). A malta do Vale de Lobo (hoje, Senhora da Póvoa) tinha muito, mas muito dinheiro no bolso. Diz-se no Casteleiro que um dia três volframistas tinham ido a Lisboa e, no regresso, no comboio, entusiasmaram-se e compraram o comboio ao revisor… comboio que deixaram em Belmonte por falta de via até à sua terra.
Pois bem impõe-se que rectifique duas coisas: 1ª – não vinham de Lisboa: foram a Belmonte de propósito para comprarem o trem para não andarem sempre de carro de aluguer a levar o volfrâmio à Covilhã; 2ª – não chegaram a comprar o comboio: o revisor não o vendeu dizendo que o caminho-de-ferro não podia ser desviado.
Mas, acrescenta a minha fonte, que é do Vale e conhece a história de forma directa pois era vizinho dos volframistas:
– Mas eles ainda queriam comprar o comboio e diziam ao revisor que o levavam pela estrada!
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Era a brincar, mas ia saindo a sério. Um sapateiro do Casteleiro, meio com os copos, meio na paródia, tinha o hábito de fazer esse número de expulsar os diabos do corpo imaginário de uma vítima… Mas havia quem acreditasse e depois lhe pedisse mesmo que o fizesse a sério… e ele fazia.

 O Ti’ Luís Pinto era sapateiro. Um homem muito bem disposto, muito alegre, dentro dos padrões de uma aldeia isolada dos idos de 50 – década de 50 do século XX: lá por alturas de 1950 e poucos.
O Ti’ Luís Pinto era sapateiro. Um homem muito bem disposto, muito alegre, dentro dos padrões de uma aldeia isolada dos idos de 50 – década de 50 do século XX: lá por alturas de 1950 e poucos.
Era uma pessoa cheia de problemas mas que os vencia por recurso a dois patamares de comportamento: por um lado, enfrascava-se nas tascas até mais não; por outro, de tudo fazia uma brincadeira.
A miudagem adorava passar lá uns minutos na sua lojita de sapateiro, a ouvir as histórias e as brincadeiras de alguém já velho (devia ter aí uns quarenta anos – velhíssimo).
Também fazia de «espírita»
A Praça era no Casteleiro desse tempo um dos largos mais frequentados, sobretudo aos domingos à hora de missa (cada um ficava na Praça pelas suas razões, mas da parte masculina de certeza que ver as beldades era razão suficiente).
Nos dias de semana, a Praça também tinha gente, sobretudo ao fim da tarde.
A casa e sapataria do Ti’ Luís Pinto era a menos de 50 metros da Praça.
Como se sabe, nas aldeias desse tempo, ir à tasca beber um copo (um??) era o equivalente a ir tomar um café ali à esquina nos dias de hoje.
O Ti’ Luís Pinto também. E muito. E muitas vezes. E muitos copos.
Na paródia, em certas tardes talvez já bem bebidito (como era habitual), fazia teatro: imaginava um possesso do diabo ali mesmo e procedia ao exorcismo.
Ou seja: a brincar, expulsava o demónio daquele corpo.
E fazia isso com uma lenga-lenga por todos apreciada:
Foge daí,
Espírito mau.
Lagarto, lagartixa, lacrau.
Eu tenho aqui um pau.
(Batia três vezes com o pau no chão: Pum! Pum! Pum!)
Conforme entraste
P’rò corpo deste infeliz,
Assim hás-de sair,
Nem que seja pelo nariz.
(Pum! Pum! Pum!)
Com ossos de defunto,
Um bocado de presunto,
Cinco réis de mel coado,
Um paninho bem molhado,
Óleo de noz,
Borras de algeroz,
Azeitonas de cabrito,
Línguas de periquito,
Eu te afugento,
Rabugento,
Para onde não haja
Nem ar,
Nem rei nem roque,
Nem eira nem beira,
Nem pipas,
Nem batoque,
Nem gatas aluadas.
(Pum! Pum! Pum!)
O teatro da expulsão do diabo de um corpo ficava feito. Só que o Ti’ Luís Pinto começou a ganhar a fama… e sabemos como isso é contagioso nas aldeias.
Havia depois pessoas que à socapa lá iam a casa pedir-lhe o favor de expulsar o mafarrico que lhes tinha tomado conta do corpo. Ele tentava desmobilizar a coisa e dizia que era tudo uma brincadeira dele. Mas as pessoas insistiam.
Então, malandreco, o Ti’ Luís Pinto lá fazia o jeito.
E parece que o trabalhinho era bem feito – pois nunca se ouviu falar de qualquer reclamação!
Nota:
À falta de melhor, ilustra-se este texto com uma foto do Festival das Bruxas de Vilar de Perdizes.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Casteleiro não é só nome de terra. É também nome de família. E é também substantivo comum: de profissão ou de condição. E é nome próprio, nome de família, não só em Portugal, e em várias terras pelo menos próximas da minha aldeia: também na Galiza e ainda no Brasil. Descobri isso há dias.

 Vou falar de como me deu para investigar um pouco isto tudo. Num daqueles azares da vida, há dias fiquei sem gasolina, mesmo ao pé de casa. Uma vergonha para quem conduz há meio século ou mais e nunca, mas nunca, teve esse deslize. Um telefonema longo – e a distracção inerente (nunca mais: mesmo com os auriculares, não me mintam, um tipo pensa em tudo menos na estrada e nas luzinhas do carro…). Mas tive a sorte de, mal ter parado, o Sr. Casteleiro me ter de imediato resolvido a questão.
Vou falar de como me deu para investigar um pouco isto tudo. Num daqueles azares da vida, há dias fiquei sem gasolina, mesmo ao pé de casa. Uma vergonha para quem conduz há meio século ou mais e nunca, mas nunca, teve esse deslize. Um telefonema longo – e a distracção inerente (nunca mais: mesmo com os auriculares, não me mintam, um tipo pensa em tudo menos na estrada e nas luzinhas do carro…). Mas tive a sorte de, mal ter parado, o Sr. Casteleiro me ter de imediato resolvido a questão.
Eu conheço-o. Eu também já o vi. «Eu chamo-me José Carlos Mendes. Eu chamo-me Casteleiro. Sei que o senhor é do Casteleiro mas eu sou Casteleiro de nome, e conheço a sua terra. Ah, sim, então e é de onde? Sou do Paul. Ah, interessante, ali tão perto».
Agora deu-me mesmo vontade de tirar a pontuação e dar uma de Saramago. Este diálogo seria escrito assim (divirta-se): «Eu conheço-o Eu também já o vi Eu chamo-me José Carlos Mendes Eu chamo-me Casteleiro Sei que o senhor é do Casteleiro mas eu sou Casteleiro de nome e conheço a sua terra Ah sim então e é de onde Sou do Paul Ah interessante ali tão perto».
(Faltou-me perguntar se era da família do famoso Prof. João Malaca Casteleiro, que é do Teixoso. Mas isso de pouco adiantaria: há outra família Casteleiro na Covilhã, já que a demissão de um dos seus membros da Misericórdia local foi notícia há dois meses. E, soube agora, lá para Santo Tirso há também notícia de uma família Casteleiro. Acabo também de saber na net, aqui, que várias outras palavras com a mesma origem são nomes de família em Portugal, no Brasil e até na Galiza. Interessante. São os seguintes esses nomes de família da mesma raiz: Castelão, Casteleiro, Castelo, Castro.)
Ponto final na história e vamos então ao tema do artigo: esta palavra Casteleiro e ou casteleiro.
De onde virá esta palavra Casteleiro?
Há quem não tenha dúvidas: os casteleiros são as pessoas que constroem os castelos, os castros, as fortificações – seja o que for: construção civil.
Um exemplo disso é o que se lê na Wikipedia, aliás num português um tanto irregular: «A origem etimológica da povoação está ligada ao facto de aqui procederem os canteiros e casteleiros que edificaram e fizeram a manutenção do castelo e fortificações de Sortelha».
Isto vale o que vale: vale a opinião de quem inseriu a nota.
 Mas, concordo numa coisa: havendo à volta do que hoje é o Casteleiro tantos restos de fortificações, dificilmente se concebe que as pessoas do Casteleiro não tenham sido forçadas a construir esses «castros»: o mais antigo de que há notícia, perto do Vale da Senhora da Póvoa, do tempo do domínio romano, e ainda os três castros menores das faldas da Serra d’Opa e, a meia encosta da mesma, a fortificação castreja chamada Sortelha-a-Velha (ver foto neste artigo).
Mas, concordo numa coisa: havendo à volta do que hoje é o Casteleiro tantos restos de fortificações, dificilmente se concebe que as pessoas do Casteleiro não tenham sido forçadas a construir esses «castros»: o mais antigo de que há notícia, perto do Vale da Senhora da Póvoa, do tempo do domínio romano, e ainda os três castros menores das faldas da Serra d’Opa e, a meia encosta da mesma, a fortificação castreja chamada Sortelha-a-Velha (ver foto neste artigo).
Uma nota pessoal: perante estas referências, não entendo como é que, numa terra com tanta tradição secular de construção civil, não houve quem construísse a torre da igreja nos anos 50 e foi preciso virem de fora os pedreiros que a construíram.
Castelo de Sortelha
Para outros, a origem será a seguinte: «Casteleiro: Aldeia que podemos ver do alto do Castelo de Sortelha. Seriam estes os casteleiros que construíram este Castelo histórico de Sortelha? Na área do Casteleiro podemos ainda hoje encontrar alguns vestígios dos Celtas, através dos castros aqui existentes ainda está bem à vista o castro actualmente designado por Sortelha Velha. encontra-se a poente, na Serra de Opa».
Portanto, a eterna alusão ao castelo e aos castros das serranias envolventes.
Outra tese… Pode consultá-la aqui.
O dono do Castelo
Quanto a mim, o nome da aldeia pode derivar de uma situação histórica ou lendária concreta que já contei. Há tempos escrevi sobre isso no «Viver Casteleiro». Na sua origem, a palavra Casteleiro relaciona-se sempre e de certeza absoluta com «castelo»: como adjectivo significa sempre algo que diz respeito ao castelo; como substantivo significa «castelão», ou seja, o dono do castelo.
Ou então: «casteleiro» pode ser o mesmo que «castelário» (senhor de castelo; casteleiro, castelão – segundo se lê no Dicionário On Line de Português).
Paralelamente é referida uma estória da História: haveria em Sortelha uma princesa cristã que se apaixonou por um árabe. Deram um beijo eterno, que ficou para sempre plasmado na rocha.
Os pais da princesa, donos do castelo de Sortelha, com o desgosto, renunciaram ao castelo e refugiaram-se nas suas terras do vale, já no local onde hoje fica a minha aldeia. Como eles eram chamados «os casteleiros», donos do castelo, a terra que fundaram passou a chamar-se assim: Casteleiro.
Verdade ou imaginação? Sabe-se lá…
Mas a verdade é que não resta no Casteleiro qualquer vestígio credível dessa migração fidalga. Não se vislumbra hoje no Casteleiro qualquer casa apalaçada que os senhores de Sortelha certamente teriam construído para viverem. Não estou a ver um senhor feudal a viver numa casinha das mais antigas do Casteleiro. Ora, onde está a casa feudal? Só se os palacetes do Largo de São Francisco foram construídos em cima de uma ruína desse género…
Mas a lenda com mais pormenores pode ser lida aqui.
Arquivo
Mas há mais para saber. Muito mais. Por exemplo, no Arquivo Distrital da Guarda. Para quem um dia quiser investigar parte do passado (população, baptizados, casamentos, óbitos, por exemplo, desde o séc. XVIII) aqui fica uma remissão útil.
Mapa
Onde fica a minha aldeia? Ali no fim do concelho, em direcção a Caria, logo depois do Terreiro das Bruxas e da Moita Jardim. Fui buscar aqui, na Wikimapia, um mapa sugestivo, diferente do habitual. Abra e analise.
O filme
Finalmente aqui, um filme gravado em diversas situações reais na minha terra: um vídeo que o leitor pode ver em sossego. São apenas quatro minutos e pouco.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
Esta não é uma matéria nova no «Capeia»: história da Serra da Pena (1910-1961 / anos 2000). Mas hoje trago-lhes uma sistematização e uma síntese da história de um hotel fantasma encravado no meio de uma serra de mimosas. Lembram-se das mimosas, uma mata de mimosas (primaveras) por aquela encosta acima desde a estrada Santo Amaro-Sortelha até ao hotel?

 Hoje trago uma crónica anormalmente extensa. Mas acho que o tema o merece. Quem gostar vai ficar encantado. Quem não gostar, tenha paciência, amigo: passe adiante (é a lei da net: dá para todos).
Hoje trago uma crónica anormalmente extensa. Mas acho que o tema o merece. Quem gostar vai ficar encantado. Quem não gostar, tenha paciência, amigo: passe adiante (é a lei da net: dá para todos).
Para mim, a Serra da Pena sempre foi do Casteleiro. Embora administrativamente não o seja, na prática, aquela gente sempre «caiu» para a minha terra e nunca para Sortelha, lá tão longe. A rapaziada (pouca) da Serra da Pena era nossa. Era assim que os sentíamos. Vinham à escola ao Casteleiro e tudo. Vinham pela Ribeira da Cal e pela Carrola – era um saltinho. As mulheres vinham a pé. E os rapazes (dois ou três) vinham era de bicicleta.
 1954 ou 55. Tinha eu os meus seis ou sete anos. O meu pai conduzia aquele jeep Willys, igualzinho aos que encontraria na tropa às centenas. O patrão dele era o Engº Elias, gerente do complexo da Serra da Pena, então propriedade de ingleses. Eu ia lá muitas vezes com ele. Lembro-me muito bem de todos aqueles recantos – as fotos actuais, apesar do mato, da erva seca e do palhiço, mostram-me as vistas exactas da minha meninice por aqueles meandros todos. Nas de interior revejo o que era o hotel e aquilo em que se tornou, com a delapidação de meados dos anos 50 e depois disso.
1954 ou 55. Tinha eu os meus seis ou sete anos. O meu pai conduzia aquele jeep Willys, igualzinho aos que encontraria na tropa às centenas. O patrão dele era o Engº Elias, gerente do complexo da Serra da Pena, então propriedade de ingleses. Eu ia lá muitas vezes com ele. Lembro-me muito bem de todos aqueles recantos – as fotos actuais, apesar do mato, da erva seca e do palhiço, mostram-me as vistas exactas da minha meninice por aqueles meandros todos. Nas de interior revejo o que era o hotel e aquilo em que se tornou, com a delapidação de meados dos anos 50 e depois disso.
Mas naquele dia fui ver o fim da Serra da Pena. O gerente, como não lhe pagavam e adivinhava a falência que se avizinhava, resolveu pagar-se por suas próprias mãos: arrancou tudo o que era metal (torneiras, chuveiros, tubagens, apetrechos da enorme cozinha do hotel e das termas… tudo o que fosse cobre ou níquel e até as loiças). Levou tudo em camiões e despachou a carga para Lisboa. Acho que o meu pai nunca mais o viu. Leio (não me lembro, sinceramente, mas leio) que ele vivia no Casteleiro. Não garanto. Mas lá que ia muitas vezes ao Casteleiro, isso ia.
A «febre da radioactividade»
Vamos por partes: hoje, os médicos vêm dizer-nos que afinal o café contém químicos que atrasam as doenças neurovegetativas e que, se tomado moderadamente, é positivo para o organismo. Isto, depois da diabolização do café durante décadas – lembram-se? Pois bem: com o urânio aconteceu exactamente o contrário. Há um antes e um depois de Hiroshima e Nagasáki, a partir do que o urânio passou a ser também diabolizado. Mas entre o início do século XX e o final da II Guerra Mundial, o urânio foi tido como substância curativa pelas suas propriedades (que foram e são mal utilizadas pelos humanos).
Mas naqueles anos de 1900, corria na Europa a chamada «febre da radioactividade»: acreditava-se que o rádio curava quase tudo e as pessoas acorriam onde houvesse esse elemento. Foi o caso.
Quando falamos de rádio (elemento químico), saiba que estamos a falar de uma substância fortíssima: «o rádio é um milhão de vezes mais radiativo do que a mesma massa de urânio». Hoje, por serem mais seguros e até mais eficazes, o cobalto e o césio substituíram o rádio, o qual foi descoberto por Marie e Pierre Curie em 1898, e foi muito usado na medicina. E ainda hoje: «O rádio (geralmente na forma de cloreto rádio) é usado em medicina para produzir o gás radónio para o tratamento do cancro», segundo se lê também na Wikipédia – o que vale o que vale… E ainda: «O rádio pode causar grandes danos aos ossos substituindo o cálcio. A inalação, ingestão ou exposição ao rádio pode causar cancro ou outros distúrbios orgânicos».
 Nascem as termas
Nascem as termas
É neste quadro que a zona da Azenha/Quarta-Feira conhece um «boom» de desenvolvimento: empresas e emprego.
Primeiro, a partir de 1910, a Société d’Uraine et Radium explora as propriedades da região. Logo de seguida, um conde espanhol vem aqui com a filha que tinha uma doença grave e, com estas águas, se curou.
Foi o motor de uma mudança forte: vai haver a partir daí muito crescimento e publicidade – presume-se mesmo que águas engarrafadas podem ter corrido pela Europa: «Água Radium dá Saúde Vigor e Força». A fase de exportação, aliás, deve ter conhecido algum incremento com a visita de Madame Curie, estudiosa do urânio, que aqui esteve uns quatro meses e que deve ter levado água desta para o seu conhecido laboratório de Paris.
Nasce o hotel
O atrás citado conde espanhol, depois da cura da filha, constrói então o hotel termal. Mas as propriedades radioactivas das águas só serão reconhecidas em 1920.
Em 1922, é atribuída a primeira de várias concessões oficiais de exploração de águas radioactivas no local do «Chão da Pena» (expressão que deve ter ficado perdida nos tempos. Da minha infância, o que ficou foi «Serra da Pena»).
Em 1926, uma reportagem de um jornal regional (A Serra) divulga a inauguração (tardia?) do hotel termal para 150 pessoas.
Em 1929, a Sociedade Águas Radium Lda toma de arrendamento as instalações e introduz outros tratamentos (até aí era usada apenas a imersão em balneário): aplicação de lamas, compressas eléctricas radioactivas e a studa chair para lavagem do cólon – como leio num dos sítios que consultei.
 Morrem as termas e a exploração de águas engarrafadas
Morrem as termas e a exploração de águas engarrafadas
Durante a II Guerra morrem as termas: o urânio passa a ser um material maldito, cada vez mais detestado e temido. Os efeitos nos japoneses foram fatais para as termas também. Lá por 40 e poucos, acabou a febre radioactiva, que já vinha esmorecendo.
Não há notícia de publicidade nos jornais às Águas Radium depois de 36. Coincidência ou não: é a data da Guerra Civil de Espanha – de onde ainda vinham clientes também.
Assim, com o fim do arrendamento (1945), sobreveio a morte das termas.
Leio que as termas tiveram 35 inscrições em 1944 e 36 no ano anterior. Quase nada, portanto.
Ou seja: «a descoberta dos malefícios trazidos pela radioactividade e pela energia atómica durante a Segunda Guerra Mundial provocou a falência do complexo hoteleiro e industrial (termas e engarrafamento – esclareço eu, JCM) que anos antes tinha passado a ser explorado por ingleses».
Morre o hotel
Julgo que é por essa altura que o tal gerente que bem conheci em miúdo – o Sr. Engº Elias – toma conta, após aquisição por parte dos ingleses. Ingleses que também exploravam as Minas da Bica, na Azenha, Quarta-Feira. A empresa que explora o hotel a partir de 1951, em substituição da Société, é a Companhia Portuguesa de Radium, de capitais ingleses. Era para essa que trabalhava o Engº Elias, suponho que já antes.
Não era, ao que sei, a mesma empresa das minas, mas era também de ingleses, portanto.
O hotel ainda dura por uns tempos, mas já em grande depressão económica.
Avizinhava-se a falência a cada ano que passava. Isso acontecerá lá por 1954, 55, pelos meus cálculos.
E foi aí que um dia aconteceu a cena de arrancar de lá tudo o que podia ter algum valor, como acima narrei – e que tanto me impressionou na altura.
Leio que a «será em 1951, através da Companhia Portuguesa de Radium, uma empresa de capitais ingleses, que o Hotel volta a funcionar, embora as termas não voltem a ser exploradas. Em 1961, esta companhia mineira cessa a sua actividade, mas segundo a documentação o hotel já estaria encerrado».
 Anos 2000: recuperação falhada
Anos 2000: recuperação falhada
Julgo que em 1985, num leilão efectuado em Lisboa, o complexo hoteleiro e termal foi leiloado.
É adquirido por Ramiro Lopes, das Minas da Panasqueira. Em 2 000, vende a um irmão que pretende fazer a recuperação do «glamour» antigo. Diz-se que os fundos europeus escorreram em grande. A empresa chamava-se Golfibérica (não sei se com capital também espanhol – tenho uma ideia vaga de na altura ter ouvido falar dessas três circunstâncias: fundos europeus, fraude, espanhóis – mas não garanto ao certo).
E algumas pedras foram de facto «mexidas». Suponho que obedecendo àquele princípio famoso de que é preciso que algo mude para tudo ficar na mesma. E o que é facto é que os fundos europeus, se os houve, voaram sem deixar rasto nem resultado.
Na acta da CM Sabugal de 28 de Janeiro de 2000 lê-se que foi «presente ofício da Firma GOLFIBÉRICA referente ao projecto turístico da Águas Rádio – Serra da Pena – Sortelha, tendo o Presidente dado conhecimento da reunião com a gerência da empresa onde lhe foi dado a conhecer o interesse por parte de investidores estrangeiros naquele investimento, estimando-se a criação de cerca de 150 postos de trabalho. Propôs que a Câmara Municipal disponibilize a colaboração técnica possível e que se considere o investimento de interesse municipal, propostas que foram aprovadas por unanimidade».
Portanto: todos os benefícios, nenhum efeito prático positivo.
O que pretendiam ou diziam estes empresários que pretendiam fazer? Parece que algo grandioso: «… recuperação e ampliação do edifício de granito existente, convertendo-o num hotel de cinco estrelas, na construção de um campo de golfe com 18 buracos e de dois aldeamentos turísticos totalizando 146 “Villas”».
Nada mau… se não estivéssemos por ali todos convencidos logo de início de que se tratava, isso sim, de um gigantesco «bluff». Fraude ou não, um dia se saberá.
Divirta-se
Sendo esta uma crónica especial, gostaria de deixar ao seu dispor uma série de fontes e visitas que fiz para complementar a informação que já tinha. Há álbuns fotográficos aí publicados que são um mimo. Há alguma informação fidedigna – mas outra que nem tanto. Escolho os seguintes oito sites: Site 1, Site 2, Site 3, Site 4, Site 5, Site 6, Site 7, Site 8.
Que beleza! Pelo torneado das colunas ainda recordo a paz e a harmonia dos interiores daquele gigante no meio da serra.
Ainda hoje sentimos algo de atracção positiva quando da estrada olhamos «o hotel da Serra da Pena» (era assim que lhe chamávamos).
… Agora que dá dó olhar para a Serra da Pena e ver o mausoléu de pedra abandalhado e degradado, isso é inegável. Pedi aos editores do «Capeia» que publicassem um painel fotográfico para dar de comer aos olhos… Acho que vão gostar… Há como que uma onda de nostalgia avassaladora quando se olha para estes lugares assim.
Nota final
Vejam a foto do projecto (a do quadrado a tracejado à volta das construções). Notem como ela mostra a megalomania desconchavada de quem não queria mesmo fazer era nada… Impressiona a desfaçatez.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes
De flores, note. Não «das» flores: Festa de Flores. Assim se designava dantes a Páscoa. Não é só no Casteleiro. É em muitas terras onde as flores desempenhavam um papel de alívio dos rigores do inverno (que este ano, por acaso, ainda continuam).

 Acho piada ao preciosismo popular da designação: Festa de Flores. Coloca a Primavera no centro da festa. Junta à tradição religiosa algo de mais primitivo, mais antigo, mais sensorial: o calendário da Natureza. Falemos de apelo ancestral, para simplificar.
Acho piada ao preciosismo popular da designação: Festa de Flores. Coloca a Primavera no centro da festa. Junta à tradição religiosa algo de mais primitivo, mais antigo, mais sensorial: o calendário da Natureza. Falemos de apelo ancestral, para simplificar.
As cerimónias religiosas seguiam o seu curso diário, com uma cerimónia em cada dia do final da Semana Santa, de que recordo alguns momentos mais fortes: na quinta à noite era o lava-pés (o padre lavava os pés aos homens – para mostrar humildade); na sexta às 15 deixava de se ouvir o sino (que só badalava no sábado às 10); no sábado, lá voltava o sino, o dia todo; no domingo era a procissão das flores, com tapetes pelas ruas em locais habituais; na segunda era a Visita Pascal, o Folar, as Boas-Festas do Pároco a cada casa.
 A verdade é que as flores estavam sempre presentes, no centro de tudo: até os altares da igreja ficavam ornamentados a valer por essa altura e o pagamento do folar ia também envolvido em pétalas de flores.
A verdade é que as flores estavam sempre presentes, no centro de tudo: até os altares da igreja ficavam ornamentados a valer por essa altura e o pagamento do folar ia também envolvido em pétalas de flores.
Outras terras fazem das flores uma festa de Páscoa.
Dois ou três exemplos mais conhecidos.
As cerejeiras estão em flor e são celebradas em muitas terras por esta altura. Por estar aqui bem perto, falemos do Fundão, onde tradicionalmente se promove a gastronomia e se preparam passeios às encostas da cereja em flor nestes fins-de-semana antes e depois da Páscoa. O mesmo acontece em Alfândega, Resende e outras terras. Isso, antes da feta da cereja, que será lá para Junho.
Há alguns dias ainda se celebravam as amendoeiras em flor em muitas terras, este ano com atraso devido a seca: isso costuma acontecer logo em Fevereiro.
Em Constância e no Sardoal não se desiste da festa das flores, e ainda este ano se prepararam os tapetes de flores nas capelas, para festejar a Páscoa.
E em Quadrazais também havia flores na Páscoa. Aliás, no «Capeia», faz agora quatro anos, Pinharanda Gomes falou mesmo, no texto, que não em título, de «Festa de Flores», também. Acaso ou rigor de reposição da linguagem popular – a verdade é que escreveu isso: de flores.
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes

 Clique para ampliar
Clique para ampliar Clique para visitar a Caracol Real
Clique para visitar a Caracol Real Clique para visitar Vinhos de Belmonte
Clique para visitar Vinhos de Belmonte Clique para ampliar
Clique para ampliar



 Clique para ver o blogue oficial
Clique para ver o blogue oficial


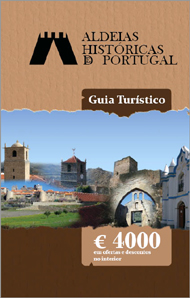


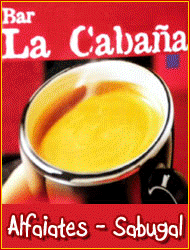
 Clique para ver a página web
Clique para ver a página web
 Clique para visitar
Clique para visitar Clique aqui
Clique aqui Clique para visitar
Clique para visitar Clique para visitar
Clique para visitar
 Clique para ampliar
Clique para ampliar







 Clicar na imagem para aceder
Clicar na imagem para aceder Clicar na imagem para ver
Clicar na imagem para ver Clique para ver o calendário
Clique para ver o calendário
Comentários recentes