You are currently browsing the category archive for the ‘Aventuras de um contrabandista’ category.
Cada povo tem entre a sua gente almas de toda a casta e condição. Assim se passava na minha terra no tempo antigo, e ainda hoje, quando já poucos aqui moram. Pois lhes conto que havia cá dois moços desvairados que todos tolerávamos, menos o casmurro do padre Narciso que a todo o custo queria que tomassem carreira direita.
 A Maria Rita, que era filha do Zé Barra, era uma taranta. Galreava de manhã ao anoitecer: que a mãe lhe botara o gadanho à travessa de pentear o cabelo; que os manos lhe puxaram o fio da roca; que a marrana velha trepara a escaleira e estrumara no balcão. Os de casa aturavam-lhe pacientemente o escarcéu, pouco ligando àquelas sismas.
A Maria Rita, que era filha do Zé Barra, era uma taranta. Galreava de manhã ao anoitecer: que a mãe lhe botara o gadanho à travessa de pentear o cabelo; que os manos lhe puxaram o fio da roca; que a marrana velha trepara a escaleira e estrumara no balcão. Os de casa aturavam-lhe pacientemente o escarcéu, pouco ligando àquelas sismas.
O povo também fazia orelhas moucas às bacorices, tirando uma ou outra mulher, que fazia cruzes quando os impropérios eram por demais ultrajantes.
– É uma soventa! Na malcriadez da faladura ganha aos grunhidos de um cevado! – dizia por vezes a Marquinas, que era a maior beata da terra e muito amiga do padre Narciso, a quem, diziam as más línguas, satisfazia os apetites carnais.
O Tó Faleiro, maltrapilho da locanda, tido como amigo do Mafarrico, era chanfrado como a Maria Rita e divertia-se reinando com ela. De cabelo revolto, nariz largo e achatado como o de um africano, leve penugem sebosa a cobrir-lhe as béculas, passeava pela aldeia na pedincha. Alguém, à maldade, lhe metera na tola que a Maria Rita precisava de macho para lhe acalmar a cachondice, e já nada o fez ficar quedo.
Aproximava-se do curral do Zé Barra e recitava uma cantilena que a loucura lhe gerara na cachimónia:
Lagarta lagartixa,
chiba chibarra,
chega-te à roda
toma a mamarra!
De dentro do casebre saía uma vaga de palavrões e voavam bancas e tamancos. O Faleiro corria então desenfreado para junto do pio, que ficava a um canto do adro, onde soltava gargalhadas. Depois, passado o vendaval, rodava à cata de uma côdea.
Os catraios gozaram a bom valer, ora se juntado ao tolo nas risadas, ora fazendo coro com a estouvada no escarcéu dirigido ao pelintra.
A aldeia já se habituara, a estes engrimanços e vozearias repicadas. Só o padre Narciso se não conformava com aquela vivência e tresjurava que com a ajuda de Deus havia de meter os orates na linha.
Se estivesse na sacristia, vinha à rua e chamava o Tó Faleiro. O farrabraz acudia como um cordeiro e ouvia, caludo e de cabeça baixa, a repreensão do padre, que o benzia com água benta e o remetia para fora do adro.
– Põe-te ao largo Tó!… Para berreira já bonda a da Maria Rita, que vive naquela furda.
O Faleiro rodava dali, atravessando o terreiro a passo lento, de espinhela torcida e pernas abauladas. Não tardava porém a volver para continuar com as suas malandrices.
Da Maria Rita o padre Alípio tinha temor, pois a coitada, acometida pelo desmando, não se lhe calava um instante.
De uma vez, quis ir a falas mansas com ela, a ver se lhe metia juízo na cachimónia, falando-lhe de Deus e dos Santos.
Eu, que estava no meu balcão, comendo uma côdea, assisti a tudo.
O padre, caminhando pela rua, encontrou-se com a Maria Rita, que provinha da fonte com um cântaro de água à cabeça.
– Deus te abençoe Maria Rita. Já rezaste as orações da manhã? – perguntou-lhe o abade de falinha donairosa.
– Esta nôte vi Nossa Senhora – disse-lhe a moça de repelão.
– Ah, sim?! E contas-me esse sonho lindo?
– Vi Nossa Senhora toda encarrapata e escarrapachada num cavalo castanho, que corria doudo p’las tapadas.
– Ora, és uma chouchana – atirou-lhe o padre Narciso, que virou costas e rodou para casa, afinal ciente que não era capaz de lhe curar a maluqueira.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Guardo uma rodada de amigos em cada terra por onde a vida me conduziu. A mor parte vêm do tempo da candonga, em que éramos comparsas na façanha de cruzar a raia evitando os encontros com os fuscos e carabineiros que nos queriam aliviar-nos as costas.
 Uma noite entretive-me na taberna da Benvinda, em Nave de Haver, onde a turba da terra se juntava, beberricando vinhaça, batendo a sota e falando na vida. Moços de lavoura, pastores assoldadados e contrabandistas, eram os melhores fregueses da venda, onde imperava uma forte zoeira até horas tardias.
Uma noite entretive-me na taberna da Benvinda, em Nave de Haver, onde a turba da terra se juntava, beberricando vinhaça, batendo a sota e falando na vida. Moços de lavoura, pastores assoldadados e contrabandistas, eram os melhores fregueses da venda, onde imperava uma forte zoeira até horas tardias.
Estava ali de carava com o meu amigo Zé Laio, natural daquele povo, contrabandista de nomeada, vergalhudo e arrojado como poucos. Tínhamo-nos mancomunado para a lide e sabíamos que quanto mais tarde botássemos o carrego ao costado melhor sucesso teríamos na faina. A Guarda alapardava-se nos locais de passagem da raia desde o cair da noite, de orelha fita, à espera que algum cargueiro lhe passasse ao redor. Mas à medida que a noite avançava atacava-lhes a soneira a que, não raro, os guardas sucumbiam. Por isso o Zé Laio preferia alombar com os fardos quando a noite já ia longa e o amanhecer não tardava. Eu, que era um admirador da sua matreirice, guiava-me por ele.
A certa hora, seguindo a nossa ariosca, despedimo-nos da bisca e dos amigos e saímos da taberna. Metemos por uma quelha e atingimos o curral onde os carregos nos esperavam. Já alombados, seguíamos cosidos à sombra das casas, quando, ainda dentro do povo, o Zé Laio acusou uma forte dor de ventre, por lá devida ao fartanço de vinho e de churros que emborcara. Não aguentou e agachou-se ao redor de um muro a dar de corpo, ficando eu de alerta.
Atarantei-me quando esgutei o zoar de botas cardadas e mirei o luzir dos botões de uma farda. Era um fusco que se aproximava. Mandei o fardo para lá da parede e dei um assobio abafado, para avisar o Zé Laio que o perigo rondava.
O guarda, que ouviu o silvo, veio ao meu encontro, ao mesmo tempo que o meu amigo se me juntava. Para não levantar suspeitas, fingi que procurava algo no solo, no que o Laio me imitou prontamente.
– Olha, que melros – disse o guardilha, que era o Belarmino, por nós bem conhecido – que fazeis a esta hora da noite?
– Vimos da taberna, e aqui saltou-me a naifa das mãos quando ia a debulhar uma maçã. Andamos à cata dela… – disse eu, matando-lhe a curiosidade.
O Belarmino, que era um homem daimoso, riu-se da parte, e quis ser prestável.
– Se aí caiu, aí tem que estar… Eu vos dou uma ajuda.
– Bem-haja, mas tenha cautela, que a naifa tem a folha aberta – avisei-o.
E o prestável fiscal amagou-se, a apalpar a terra na ânsia de bulir na navalha perdida. Tal rondou na parte ensombrada pela parede, que a um momento tocou no monte do Laio, e berrou surpreso:
– Porra!
Ao que o Zé Laio reagiu:
– Ah ladrão, que já te cortáste!
E largámos dali à desfilada, rindo-nos da parte. Só já quase ao nascer do Astro retornámos para resgatar os fardos e avançar com eles para Espanha, levando-os ao seu destino.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Pois lhes conto que um dos meus grandes desgostos foi ver a minha filha mais velha, a Cassilda, casada com um fusco das Batocas. Então eu, com uma vida inteira de carrego no costado a fugir a esses diachos, para a criar a ela e aos irmãos, e a lorpa a dar olhares e depois a anagalhar-se com um dos lapuzes?
 Ainda por riba o Augusto Correia, que é esta a sua graça, para além de rabo de saias e colhereiro, era um guardilha pouco cumpridor do seu dever de autoridade. A laia que tinha era para andar de olho fito nos carregos de mulheres e catraios, mais fáceis de surripiar. Onde lhe fairasse a azeite, pão de torno ou galhetas, logo saltava ao caminho, de mão pronta a filar a mercancia.
Ainda por riba o Augusto Correia, que é esta a sua graça, para além de rabo de saias e colhereiro, era um guardilha pouco cumpridor do seu dever de autoridade. A laia que tinha era para andar de olho fito nos carregos de mulheres e catraios, mais fáceis de surripiar. Onde lhe fairasse a azeite, pão de torno ou galhetas, logo saltava ao caminho, de mão pronta a filar a mercancia.
Careio para o contrabando de alto quilate, o alma do diabo não o tinha. A mim, lhes juro, nunca pôs ele a mão na vestia nem me tomou qualquer carrego. Augado andou ele, mas nanja, que não tinha sorrelfa para isso.
Pois foi este babanca que caiu no goto da nossa Cassilda, para minha grande infelicidade. Tanto morgado que havia na terra, rapazes honrados e trabalhadores, lavradores ou negociantes, com bons dotes e anafados herdos, e a palonça a ficar caidinha pelo Gusto Correia, como se não houvesse outro poldrão no mundo…
Muito me envelhaquei quando soube do arremedo, que ela e a minha mulher me esconderam por basto tempo. Querendo tirar-lhe o vezo, ainda a proibi de sair com o pandilha e, de uma vez, até me predispus a abrir-lhe os olhos à lambada. Valeu a minha Belmira, que me trouxe à memória que também acasalara comigo sem o consentimento de meu sogro.
A verdade é que tanto andaram, aproveitando as minhas ausências no ofício de contrabandista e de negociante, que quando dei fé a coisa já ia de tal modo adiantada, que fazê-la volver atrás era um drama.
A custo lá aceitei que se botassem pregões, com a condição de o lapuz não me aparecer pela frente. Só lhe apontei falas no dia do casamento, quando o valdevinos, em plena igreja, se me dirigiu a pedir a bênção. Dei-lhe boas caras, mas botei-lhe entre dentes:
– Tem tento no que te digo. Se alguma vez me soar que zupas a minha filha és homem morto.
Ele arregalou os olhos e avermelharam-se-lhe as béculas, em sinal de que percebera o recado.
Mais tarde, na noite do Sagrado Nascimento, sentei-me à mesa com ele a consoar. Lá estive meio contrariado e retorcido, quando o jagodes me atirou ao rosto:
– Vossemecê, meu sogro, devia deixar o contrabando…
Logo acusei a assovelada.
– Olha lá, ó canastrão, e de onde me vinha o arrimo da casa? Metia-me a roubar?
– Podia viver da lavoura, que lhe dá cabonde.
– Que sabes tu da vida lafaruz? E diz-me lá que febre te faz o meu contrabando?
– O comandante do posto já me atirou às ventas que sou genro de um contrabandista…
– Pois não há mal em dizer a verdade… Responde-lhe que teu sogro é contrabandista honrado, que nunca escarrou na sopa de ninguém, nem assaltou gente nos caminhos, como os guardas-fiscais, que arrebanham mulheres e ganapos a toda a hora.
O salamurdo estremeceu:
– Se não larga a faina do contrabando, garanto-lhe que serei eu a filar-lhe a carga e a metê-lo no chilindró.
– Tinhas que nascer outra vez para me aliviares o carrego.
A Cassilda que esperava cria daquele machacaz, agarrou-se à barrigona em pranto, maldizendo a nossa zanga e falando que podia ter desmancho. Saí de casa e meti-me na loja de volta do vivo.
Nos tempos seguintes redobrei os cuidados, não fosse o meu genro querer tomar-me alguma carga, para me envergonhar. Mas andei muito tempo sem lhe botar a vista, para meu descanso.
Um dia de inverno, manhã cedo, tornando de Espanha com o macho carregado de fazenda, entrei numa taberna na Aldeia da Ribeira para tomar uma copa de aguardente. Estava eu de calecho entre os dedos, à conversa com a Ti Mariana, a dona da venda, quando notei um vulto a passar a porta.
– Então Ti Tosca, descuidou-se e acabo de o filar com o macho carregadinho de pana.
Era o sandeu do meu genro, que me montara trapa.
– A carga vem do mercado da Malhada, onde ontem estive e me demorei. Nunca ela viu a raia nem a Espanha – disse-lhe.
– Não tem forma de o provar. E ademais vi bem tratar-se de contrabando. Acompanhe-me ao posto que está preso.
Saí da venda magicando como escapulir, sendo que já não tinha a genica da juventude.
Cá fora o fusco ia pôs-me a mão na casaca, por lá a prevenir que eu lhe fugisse.
– Afasta me mim as unhas, que me deves respeito – atirei-lhe.
Ele recolheu a mão e eu, pegando no varal que deixara encostado à parede, mandei uma verduada no macho que deu dois saltos e se pôs em fuga, e arrumei um encontrão ao Gusto, mandando-o a terra. Corri rua abaixo a rabo do macho, com o meu genro em perseguição. Deixei a rua e saltei para um quintal e dali para uma tapada e, mais além, para um lameiro junto à ribeira, que ia alta com a farta água das chuvas. O valdevinos vinha na minha cola, já quase a filar-me, quando formei um salto para o meio da ribeira. Nadei um pouco e, já perto da outra margem, olhei para trás e lá vi o rapazola na borda da água.
– Anda, molha o capote – desafiei-o.
Não foi capaz disso, e eu saí da água e embrenhei-me num matagal.
Fiquei encharcado e sujeito ao reumatismo, mas garanto-lhes que aquele basófias nunca me pegou nem me tomou qualquer fardo.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Não sou homem de teres, que a vida incerta de contrabandista e azemel só me deu o arrimo, ainda que as canseiras fossem muitas. Mas o que herdei de meu pai e de meu sogro, adido ao pouco que surdiu o meu negócio, sempre o defendi com unhas e dentes, ainda que tivesse que me impor pela força e pela manha, quando me quiseram engazupar.
 Aconteceu de uma vez alguém querer esbulhar-me do direito de uso pleno e exclusivo da água que ia do açude do Pereiro, para rega dos meus lameiros e olgas. O António Cerdeira, que tinha dois prédios na ínsua, apregoava estar no direito de regar o renovo com a água da minha levada.
Aconteceu de uma vez alguém querer esbulhar-me do direito de uso pleno e exclusivo da água que ia do açude do Pereiro, para rega dos meus lameiros e olgas. O António Cerdeira, que tinha dois prédios na ínsua, apregoava estar no direito de regar o renovo com a água da minha levada.
Chegando-me aos ouvidos que o farrabraz andava a desviar a linfa, fui de madrugada tomar fé no caso. No local reparei que o lapuz tinha aproveitado a noite para me chispar os tornadoiros e abrir outros que conduziam a água às suas leiras.
Fiquei furibundo, mas, para não me perder, que tenho um génio danado, enviei a casa do machacaz, o meu vizinho João Tomé, com o recado de que tivesse tino e não voltasse a repetir a brinca, sob pena de ser homem morto.
Acagaçado o Cerdeira não tornou a bulir nos tornadoiros, mas, aconselhado, meteu o caso na Justiça. Soube-o quando recebi a citação do Tribunal do Sabugal, dando-me conta da demanda, em que o ladrão reclamava o direito ao uso da água segundo o velho costume da adua, apresentando um bom naipe de testemunhas.
– Este Tonho Cerdeira quer caçoada, mas depressa o tiro de cuidados – disse para alguns, a ver se lhe metiam tino.
Foram nulos esses arreganhos e a acção avançou seus termos.
À cautela comecei a tratar do caso junto da Justiça. Enviei um cabrito e um frangão para o juiz da comarca, duas lebres e uma canastra de ovos para o delegado, e um borrego para o oficial de diligências. Embora ciente de que a razão me assistia, aprendera com a vida a ter cautelas, e assim urdi a trama necessária a virar o caso a meu favor. Quanto às testemunhas, que eram gente da terra, e foi fácil convencê-las a deporem por mim. Uns virei-os com a razão e outros com copos do bom verdasco da minha adega.
No dia da audiência a coisa correu-me de feição, para espanto do Cerdeira, que pensava ter o caso nas mãos. Todavia, quando esperava que o juiz sentenciasse a meu favor, o alma do diabo convocou as partes arroladas para o dia seguinte, no local da disputa, alegando que o Tribunal tinha que esclarecer certas dúvidas.
Lá fomos à levada do Pereiro, a meio caminho entre a Bismula e Vilar Maior, a ver a agueira e os terrenos que servia.
Junto à levada o Cerdeira volveu a declarar-se espoliado da água de limar as courelas, denunciando ao Juiz que eu montara mascambilha, voltando as testemunhas do avesso.
– Está bom de ver, senhor Juiz, que tendo sido eu a arregimentar as testemunhas elas não depunham contra mim…
¬– A levada foi erguida por meu avô e, desde que me conheço, Meritíssimo, fomos os únicos a servir-nos dela para limagem dos lameiros e rega do renovo – disse eu ao juiz para calar a boca ao Cerdeira.
– Não se atente ti Tosca, que vossemecê bem sabe que a água foi-nos abonada pelo seu pai, à troca de um horto no Vale Carvalhão, altura em que foram assilhados estes bueiros – disse o Cerdeira apontando um cano de pedra que saía do fundo do cômoro da levada.
Alterei-me quando notei o juiz a manear a cabeçorra, dando ares de quem concorda com o que argumentava o Cerdeira. Tinha de o meter no carreiro.
Aproveitando um momento de distracção da comitiva, a mirar um carro de vacas que passava no caminho, cheguei-me de manso ao juiz e larguei-lhe em surdina:
– Meu pandorga, recebeste o cabrito e o galaró e agora queres dar a volta ao prego?
E, sem mais paleio, arrumei-lhe um contrifão que o atirou para a levada que ia prenhe de água.
– Ai que me afogo! – urrou o magistrado quando veio à tona.
E logo lhe lancei a manápula em socorro.
– Ó Doutor, como diabo afocinhou na corrente? Segure-me a mão, que o arrupo.
E puxei-o para terra seca, ao mesmo tempo que todos acorriam para tomar fé no acontecido.
– Meti o pé em falso e emborquei, valeu-me vossemecê José Tosca – pronunciou-se o juiz, aliviado, depois de colocado de borco a despejar da arca a água que engolira.
Passados dias soube-se o veredicto que considerou a água da levada como minha pertença exclusiva. Fez-se justiça.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Havia no meu tempo de galfarrote a tradição do enganchar, que era uma espécie de contrata, feita a dois, entre a malta nova para ver quem primeiro mandava o outro rezar no domingo de Páscoa. O que perdesse tinha de dar ao enganchado um ou mais ovos tingidos, consoante a combina.
 Durante o tempo da Quarentena seguíamos com o devido rigor os preceitos da fé: jejuns, abstinências, proibição de tocar o sino e dar gaitadas em pífaros ou bordoada em tambores. Para os afazeres da religião ninguém bulia no sino da igreja nem no da capela de Santa Bárbara. Chamavam-se os fiéis à oração e à penitência agitando uma matraca de madeira, que tinha pregadas umas argolas de ferro.
Durante o tempo da Quarentena seguíamos com o devido rigor os preceitos da fé: jejuns, abstinências, proibição de tocar o sino e dar gaitadas em pífaros ou bordoada em tambores. Para os afazeres da religião ninguém bulia no sino da igreja nem no da capela de Santa Bárbara. Chamavam-se os fiéis à oração e à penitência agitando uma matraca de madeira, que tinha pregadas umas argolas de ferro.
Era um tempo amonado, por mor da amargurada sina de Nosso Senhor, que padeceu por nós ao ser cravado num madeiro. A rapaziada não assobiava nem quadrava prosmas, não soavam os zagueiros dos moços casadouros a chamar as conversadas. De cantorias, só as tristes litânias, ladainhas ou martírios, que os da ronda, noite alta, entoavam pelas ruas da aldeia. Mas andar na ronda era somente para os da confraria dos solteiros, que excluía os mais novos.
Pois na tarde de sábado, véspera da Festa das Flores, a canalha enganchava-se.
Cada um escolhia um parceiro, e os dois, ligando os dedos mindinhos, diziam a prosma da praxe: «enganchar, enganchar / até ao dia do folar / nesse dia te mandarei rezar». Ficava assim apostado que aquele que no dia de Páscoa primeiro mandasse rezar o outro recebia um folar.
Aquele trato, a que noutras terras por onde andei lhe chamam aconchavar, era por nós levado a preceito, pois cada uma tudo fazia para ganhar àquele, ou àqueles, com quem tinha apostado. Escondíamo-nos atrás das paredes e dos carros de vacas, ou seguíamos amagados entre as mulheres, a ver se surpreendíamos o nosso enganchado para, quando à roda ele, lhe atirarmos: Reza! O folar estava ganho e normalmente consistia num ovo cozido tingido. Havia ganapos que tinham tal arte para se alapardar que, apostando com muitos amigos, enchiam de ovos os bolsos da véstia.
Eu, e não digo isto para me gabar, estava entre os cachopos mais finórios da minha criação, e o dia de Páscoa era mim um maná de ovos, ganhos no aconchavo com os amigos.
Pois lhes conto que num dos anos, enquanto esperávamos no adro pela hora da desobriga, contratei com praticamente toda a galfarrada da terra que andava chegante à minha idade. E olhem que, naquele tempo, a aldeia estava cagulada de garotos.
Ciente que tinha apostado forte, empenhei-me em passar a perna a toda aquela malta, engendrando um plano atiradiço. No domingo da Ressurreição, um pouco antes da hora da missa, introduzi-me atrás do altar de talha dourada, pelo desvão por onde o sacristão passava para acender os círios que ladeavam o sacrário. Entrava-se por uma porta falsa e subia-se uma escada muito apertada, que foi onde me quedei a observar, com mil cuidados, a chegada dos meus amigos. Era uso que os pinches de mais tenra idade ficassem à frente, entre o padre e as mulheres, sentados em meia dúzia de bancos corridos. Já os homens ficavam ao fundo da nave ou iam para o coro, assistindo à missa lá do alto.
Do meu agachiz fui-os vendo chegar, na ânsia de que se juntassem todos antes do início da eucaristia. Eles lá foram abancando, mas o raio é que tardava o Quim Brigas. Entrementes, o padre, acompanhado dos acólitos, irrompeu direito ao altar e as mulheres desataram em cantorias. E o Quim Brigas não havia modo de chegar… Soube depois que o lambaças, esperava por mim à porta da igreja, para me mandar rezar. A missa iniciou-se e eu de aguardo, pois bem sabia que o zagal teria de tomar assento entre os demais.
Ao fim de certo tempo, já com a cerimónia avançada, chegou finalmente o Quim, que se apressou a tomar um lugar entre os outros. Era a minha vez. Abstraído do cerimonial, saí do altar, qual anjinho empalhado, e gritei apontando a toda a cáfila reunida: Rezai!
Foi uma escândula. O padre quis logo botar-me a luva, mas consegui esgueirar-me, fintando também o sacristão, que me saiu ao caminho. Alcancei a porta da sacristia e daí galguei para fora da igreja, esgueirando-me para casa.
Não tardou que meu pai viesse por mim e, por mais que eu galreasse que não tornaria a repetir a rambóia, ele tosou-me o corpo e levou-me de torna à missa dependurado pelas orelhas.
Levei-as a valer, que bem as senti no corpo, mas garanto-lhes que não deixei de cobrar cada um dos folares que ganhei, enchendo uma boa cesta de ovos tingidos.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Toda a minha vida aconteceu de volta com a bicheza doméstica. Tinha na corte o macho, meu velho e fiel companheiro, a burranca, que era a montada da mulher e da canalha, e a junta das vacas – duas jarmelistas de alma, preadas para o trabalho, capazes de arrancar com uma carrada da mais funda ravina e de andar sem parar, de sol a sol, na decrua de uma tapada.
 No cortelho mandava o marrano, cuja vida era ressonar e emborcar viandas à espera da hora da matança. Na coelheira havia sempre laparotes prontos para o panelo e no poleiro habitavam as pitas e o seu galaró reinante. Já cadelos e gatos eram gado de livre andar, correndo a rua e os cantos da casa. Cheguei a ter toirão, no tempo em que corria os montes para apanhar os saltantes bravos nas luras.
No cortelho mandava o marrano, cuja vida era ressonar e emborcar viandas à espera da hora da matança. Na coelheira havia sempre laparotes prontos para o panelo e no poleiro habitavam as pitas e o seu galaró reinante. Já cadelos e gatos eram gado de livre andar, correndo a rua e os cantos da casa. Cheguei a ter toirão, no tempo em que corria os montes para apanhar os saltantes bravos nas luras.
As galinhas eram do cuido da minha patroa, que nisso fazia grande preparo, no fito de ter fartura de ovos e boa criação de frangas. No poleiro havia sempre um bom galo pedrês, daqueles que têm crista alta e esporão alçado, e que guardam o bando das galinhas tal qual um cão cuida de uma piara de ovelhas. A minha esmerava-se nisso, querendo ter galaró altivo e vigilante e ademais capaz de dar bom canto para anunciar a hora do levanto.
Pois numa manhã, pelo tempo dos Santos, a Rosa do Lucas empurrou o cancelo do curral, de coisa feita em nos agraciar uma gulodice da matança e entabular paleio. Entrou confiante e dava passos apressados, já dentro da cerca, quando foi surpreendida pelo malvado galo pedrês que, largando as pitas, cresceu para ela de penas eriçadas. A Rosa ainda lhe tentou mandar um biqueiro que o fizesse desandar, mas, não lhe atinando, o cantador embraveceu e desatou a picar-lhe nas pernas.
– Ai, quem me acode! – urrou a desventurada mulher que foi cambaleando sem encontrar onde se abrigar do feroz lutador.
A Belmira, ao ouvir a balbúrdia, saiu de casa com o razão do alqueire em punho e arrumou no galo uma traulitada que o fez desandar.
– Mas que galo mais bravio aqui tem no curral! Capaz de me matar, o alma de seiscentos! – lamentou-se a Rosa quando se viu a salvo.
– É levado da breca, não lhe posso abrir o poleiro! Não tarda que vá pró panelo.
– É pior que um cão! Não viesse vomecê e dava-me cabo das pernas. Isto é que é um guarda!
– Isso é, Ti Rosa. Ninguém é senhor de aqui entrar, basta ele dar fé!
– Assim precisava eu dum, que me guardasse as galinhas da raposa – aventou a Rosa do Lucas já melhor refeita da escaramuça.
– Inda por isso é que tenho dó dele – concordou a minha – há dias fez daqui esgueirar o cão do Mourão, que cá vinha ao fairo dos ovos. Não há melhano capaz de tocar num pito, nem vagabundo que meta pé pra dentro do curral sem ter que tornar em correria, basta que ele ande à solta. Até de noite é vigilante! Sinta raposa ou lobo ao redor dos casais que dá logo sinal.
– Dá-lhe um jeitão, Ti Rosa, dá-lhe um jeitão! Tem a casa resguardada!
A mulher do Lucas, que há muito não punha pé em nossa casa, largou ao que vinha. Trazia a prova da matança, um pedaço de soventre e duas morcelas, que a minha recebeu por obrigação, pois seria mau agradecimento rejeitar o que a generosidade nos trazia a casa.
O diabo é que a Rosa, que tem uma língua de palmo, espalhou pelo povo que o curral do Tosca era local a evitar, por ali ter de guarda um galo selvagem que ninguém domava.
Foi a minha sorte, porque há coisas que nos vêm ao calhar. Primeiro fiquei danado com a boca laburda da mulher, mas depois tomei fé de que o galo era cobiçado para padreador e passámos a receber no nosso poleiro as pitas das demais pessoas de Bismula e até de gente de outras terras, que as queriam galadas pelo cantante bravo para depois as porem no choco. A Belmira fez com isso uma dinheirama a que no final adiu a nota de conto resultante da venda do famoso galo a um freguês da Rapoula que ali veio de propósito para o comprar e fazer dele senhor de uma grande capoeira que produzia pitos, galinhas e ovos para os mercados.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Sem bem que a saúde me venha acompanhando, pois ando no mundo há um boa tulha de anos, a verdade é que nem sempre me senti sadio, muito por mor dos meus afazeres de homem aventureiro, que a nada me neguei ao longo da vida, na ideia de ganhar o meu sustento e o dos que mantinha de portas adentro.
 Há muito tempo, tive a minha hora minguada e caí numa modorra infernal. Não sentia as forças, tomava-me da fadiga e abancava à roda da borralheira. Se emborcasse sustância largava arrotos descomunais, rugiam-me os intestinos e atirava sonoras ventosidades, que pareciam os estrondos dos canhões dos franceses do tempo do general Maneta. Sentia fastio, doía-me o toutiço e quedavam-me dormentes os braços e as carranchas.
Há muito tempo, tive a minha hora minguada e caí numa modorra infernal. Não sentia as forças, tomava-me da fadiga e abancava à roda da borralheira. Se emborcasse sustância largava arrotos descomunais, rugiam-me os intestinos e atirava sonoras ventosidades, que pareciam os estrondos dos canhões dos franceses do tempo do general Maneta. Sentia fastio, doía-me o toutiço e quedavam-me dormentes os braços e as carranchas.
Toda a populaça da Bismula e dos povos em redondo sentiu dó quando tomou fé que o Zé Tosca, preado contrabandista e feirão errante, deixara de cruzar os caminhos da raia e de tomar lugar no terreiro dos mercados. E a falta que eu fazia nas levas da candonga! Era nesse tempo o cortador mais afamado da raia, capaz de conduzir ao Inferno um grupo de homens carregados, se disso houvesse precisão.
A Belmira ao ver-me assim, desacorçoado e pejado de dores, mandou chamar o barbeiro do povo, o Ti João Vasco. Foi contra a minha vontade, pois tinha de há muito uma desavença com o dianho do barbeiro, motivada por uma divisão de águas, em que me vira obrigado e mandar-lhe dois bofetões nas fuças. Mas o homem lá veio, cioso do seu ofício, recomendando mezinhas e cortando-me os pulsos.
¬- Olha-me para este sangue estragado, mais negro que um chapéu – disse-me o barbeiro Vasco, ao mesmo tempo que me apulava o sangue para um alguidar, como quem o colhe a um marrano para fazer as morcelas.
Mas o tratamento do mestre em curas não tomou efeito e o mesmo sucedeu com os responsos e feitiçarias da Ti Páscoa, a benta lá da terra. Ia definhando a olhos vistos, caminhando-me para a morte, já quase resignado ao triste destino. Olhava para a catraiada mais nova pensando em como se criaria sem o concurso do pai, que era afinal o arrimo da casa.
– Vá ao praticante de Almedilha, homem de Deus! – atirou-me a nossa vizinha, a Ti Rosalina, muito combalida com o avanço da moléstia.
– Ando farta de andanças. Não há modo de lhe atalharem o mal – lamentou-se-lhe a minha Belmira.
Porém, na manhã chegante, ainda ao lusco-fusco, a Belmira, mulher de um raio, atirou-me para riba da albarda do macho, e botámo-nos ao caminho. Atravessámos as Batocas sob o olhar curioso daquelas gentes que me conheciam e que nunca me houveram visto em tais preparos, qual farrapo engelhado, que parecia seguir para ao encontro da morte. Passada a raia entrámos no povoado castelhano, onde o praticante dava consultas. Vivia numa casinha modesta, em cuja sala, forrada de armários com remédios, nos recebeu e me mandou sentar. A Belmira largou o rol das queixas e dos achaques que me apoquentavam e me não deixavam dar carreira direita.
Ouvidos os sinais da malina, o praticante sentenciou:
– É embaraço intestinal. Há quanto não desorga?
– Já lá vão aquase duas semanas – respondeu a zelosa mulher.
O curador consultou um livro, grosso como um missal, e ditou a prescrição:
– Faça-o emborcar leite, muito leite. Encharque-o de limonadas e meta-lhe às golas cozimentos de arroz ou de cevada. Que beba chá de marcela e arrume-lhe com pungentes de cene e de ruibardo.
Botadas contas, a mulher desembolsou dois duros, e volvemos a casa, amargurados com a avultada despesa e pouco ou nada esperançosos com a receita.
Ainda falei em deitar as indicações do praticante aos quintos dos infernos, mas a patroa, zelosa como nunca, tratou nesse mesmo dia de iniciar os tratamentos, seguidos com todo o rigor, após a recolha das ervas pelas casas das vizinhas.
O certo é que às primeiras tomadas, me deu uma desintéria do catano, que quase me deixava sem entranhas. Arribei ao cabo de uma semana e senti-me voltar a ser um homem sadio. Perdi as dores, recuperei a força e o génio para a vida e botei-me de novo à faina, passando mercancias de um para o outro lado da fronteira e correndo os mercados da redondeza, em rebusca do meu ganha pão.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Sempre fui de boas contas para com Deus. Ainda que tenha faltas em barda, não conto com pecado mortal no meu rol, e se algumas maldades pratiquei isso adveio da precisão, e de certo merecerão indulto. Mas afianço-lhes que nunca tive boa relação com o nosso pároco, que para além de galifão era um machacaz de primeira água.
 Numa manhã, no tempo das moscas brancas, empinei-me antes de cantar o galo pedrês, emborquei uma bucha, mandei as unhas ao varapau e segui ladeira abaixo de tino feito nas moitas do Pereiro, onde armara os laços.
Numa manhã, no tempo das moscas brancas, empinei-me antes de cantar o galo pedrês, emborquei uma bucha, mandei as unhas ao varapau e segui ladeira abaixo de tino feito nas moitas do Pereiro, onde armara os laços.
Lá estava uma lebre, já tesa pela geada, que meti no bornal. Volvi a casa e arrimei-me às labutas da vida. Empalhei o vivo, dei a beberagem às vacas, ordenhei-as e cortei lenha para o lume.
Manhã alta, peguei na sacola com a lebrota e fui a casa do nosso prior, o padre Narciso, a quem entreguei a peça de caça, por paga de uma missa que há dias rezara por alma de quem lá tenho.
O raio do padre, por lá pensando que nada tinha para fazer, entreteve-me no paleio: como andam a Ti Belmira mai-los catraios? Como está o negócio das fazendas? Quando prestas contas do peditório para a Irmandade?… O padrola não tinha forma de pôr cabo ao interrogatório. E a pressa que eu tinha, por mor dos meus afazeres!
Farto do falatório, tive que lhe pôr freio:
– Peço-lhe perdão, Senhor Abade, mas tenho que rodar à lide…
– Vais a Espanha contrabandear? Toma tino e amanha outra forma de vida.
Olhei-o de soslaio, percebendo agora o porquê de tanta lábia.
– E como ganhava a vida? Metia-me na ladroagem?
– Há outros afazeres mais dignos aos olhos de Nosso Senhor, que andar ao contrário do que ditam as leis – respondeu-me o padre Narciso.
– Não me calhou estudar no seminário para depois ganhar o pão em sermões e cantorias, como sucede com Vossa Mercê…
O que fui dizer! Ficou vermelho que nem uma tomata e botou-me um olhar severo.
– Devias ter tento na língua José. Ao abade guarda-se-lhe respeito, que ele é o ministro de Deus na terra e tem por missão pastorear uma piara de homens, cuja guarda é bem mais secultosa do que conduzir cabras pelo campo.
– Não se queixe da vida que Vossa Reverência tem a arca cheia de mimos.
O padre, que já bufava, intimou-me a explicar-lhe quais eram os regalos que ele tinha de portas adentro, alegando que vivia mais pobre que São Francisco de Assis e chagado como Job por amor aos paroquianos. Ainda me tentei desviar da contenda, mas, face à insistência, vomitei o que ele não quereria ouvir.
– Vossa Reverência ainda agora acaba de ensacar uma lebre que eu lhe trouxe! Ontem recebeu duas dúzias de ovos da mão da Ti Felismina, anteontem arrecadou um corgalho de chouriças da Ti Isabel do Adro e transanteontem recolheu uma talega de centeio e um alqueire de feijão que aqui lhe trouxe o Ti Judas. É sempre a ensacar, em paga das cantorias que alanzoa na igreja e nos funerais, das absolvições no confessionário e das extremas-unções com que azucrina os moribundos. Tem, a par do mestre-escola, o melhor modo de vida cá da terra. Tivesse eu inclinação para os estudos e o meu pai alguma bagalhoça para untar as mãos de quem me metesse num seminário, que hoje também eu seria um senhor, e não precisava de andar a caminho de Espanha pela noite adentro a arriscar o courato e a aguentar a frialdade enquanto os demais dormem a sono solto no quentinho da enxerga.
O padre ficou furibundo, prestes a excomungar-me.
– Devias estar caludo, lapuz. Olha que a vida do pároco é de extrema responsabilidade, e nunca este recebeu a justa paga daquilo que deu aos paroquianos. E a isto acresce o celibato e a castidade a que o sacerdote está obrigado, assim arredado dos prazeres carnais. E olha que não me meto, como tu, por essas terras de Espanha, onde há abegoarias e casas de pasto onde também se esfandegam mulheres de má vida.
– Precisa lá Vossa Mercê de ir a Espanha ou a outra terra, quando as frangas se lhe vêm meter debaixo da sotaina. Goza-as às ocultas, assim achavelhando os homens do povo…
Calei-me quando vi o padre empunhar a tranca e erguê-la para me desferir pancada. Fora longe de mais no meu paleio e achei por bem escapulir-me.
Foi deste modo que arranjei uma arrelia com o padre da minha terra, que se manteve por muitos anos. A mulher e os filhos lá iam à igreja e às demais obrigações. Já da minha parte, tido por valdevinos e amaldiçoado, mantive-me temente a Deus e respeitador da Madre Igreja, mas passei a ir à missa dominical e a desobrigar-me noutras terras, quando andava por fora na minha vida de azemel e contrabandista.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Quando conto as minhas façanhas de contrabandista, não escondo que fui filado alguma vezes pelos guardas, naquele jogo de gato e rato, mas garanto-lhes que nunca fiquei preso nem fui por isso levado à Justiça.

Quando comecei a embrenhar-me nas lides da candonga, ainda galfarro, passei muitas dúzias de ovos para o lado de lá da raia, trazendo de volta azeite, pão, galhetas e outra mercearias para gasto caseiro. Ora os ovos, que se vendiam a bom preço em Espanha, eram carrego que exigia muito careio no transporte, pois quebravam-se com a maior facilidade, causando grande perca.
Um dia, manhã cedo, passava a as poldras da ribeira, preocupado em não escaqueirar os ovos que traguia aconchegados numa cesta de vime, que transportava ao ombro. Empenhado na passagem a pé enxuto, nem dei fé no guarda fiscal que, de manso, se aprochegou e me esperou na borda.
– Alto lá, rapaz. Estás apanhado. Larga a carga!
Surpreendido pensei instintivamente em me escapulir. Mas, reflectindo melhor, achei por bem dar-me por vencido, não fosse o diabo tecê-las, que o guarda podia fogachar.
– Foi bem pregada. Aí tem a cesta pejada de ovos.
Estendi-lhe a cesta, que retirei do ombro, mas o guarda deu mostras de não lhe agradar ser agora ele a alombar com a mercadoria apreendida. Apercebendo-me da sua hesitação, ofereci-lhe os meus préstimos.
– Senhor guarda, se vê que tal, eu mesmo lhe acarranjo a cesta pró posto ou pra sua casa, uma vez que, estando fardado, não lhe fica bem ir azangado com o carrego.
– Bom, não te quero prender, mas se te ofereces para levares a cesta até ao posto…
– Eu chego lá. Não me dá transtorno.
E tomámos o caminho do posto das Batocas, seguindo eu adiante, com o zeloso guarda a rabo, sempre atento ao meu caminhar.
A meio percurso meti-lhe paleio:
– Queria pedir-lhe uma coisa, senhor guarda…
– Diz lá, rapaz.
– Tenho uma sede dos diabos, estou de golas ressequidas. E se me pagasse um copo na taberna do Fanojas? É que não tenho um chavo comigo.
– Mas, ias a Espanha de bolso limpo?
– Lá granjearia algum com a venda dos ovos que vossemecê me tirou…
Após alguma hesitação, o fusco acatou o meu pedido.
– Assim sendo, vamos lá tomar um trago.
Um pouco adiante embiquei para a taberna, que ficava ao fundo de um curral, que à portaleira tinha um alto portão de madeira.
Lá chegados, pousei a cesta no chão e puxei o cravelhão que aperrava o portão e, encostando-lhe o ombro fi-lo rodar.
– Entre lá, senhor guarda.
O homem avançou dois passos e, quando olhou para trás, deu já com o portão a fechar-se-lhe na cara.
– Eh lá, malandro! Não penses que te escapas.
Mas eu fui mais lesto e acravelhei-lhe o portão (naquele tempo os portões trancavam-se pelo lado de fora). O guarda bem tentou abri-lo de novo, puxando-o. Mas não valia, estava bem aperrado. Apressou-se então a galgar o muro, que era alto, mas quando o arrupou e espraiou o olhar, só já me enxergou o vulto que lá ao fundo dobrava a esquina a toda a brida com a cesta dos nas mãos e com a mercancia a salvo.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
A vida do contrabando era cheia de percalços e de aventuras, fruto do risco que constituía a travessia da raia carrejando mercancias que as autoridades de um e do outro lado proibiam e andavam danadas por apilhar.
 Numa altura da minha vida, já contrabandista encartado, calhou-me em sorte ser procurado por um negociante da Covilhã, de nome Belarmino Teixeira, que me desafiou a trazer de Espanha calçado em barda para fornecer algumas lojas da cidade da Lã. Queria calçado de todos os modelos e feitios e de diferentes tamanhos.
Numa altura da minha vida, já contrabandista encartado, calhou-me em sorte ser procurado por um negociante da Covilhã, de nome Belarmino Teixeira, que me desafiou a trazer de Espanha calçado em barda para fornecer algumas lojas da cidade da Lã. Queria calçado de todos os modelos e feitios e de diferentes tamanhos.
– O senhor Belarmino conta com os meus préstimos, mas atente que em Espanha, junto à raia, não há onde mercar a catervada de tamancos e albarcas de que terá precisão para abastar os seus comércios.
– Os sapatos e as botas, que disso se trata, virão de Coria para Navasfrias, terreola rente à fronteira que o meu caro bem conhece. O seu trabalho é ir a casa do Paco Arouche e carrejar de lá o calçado para o armazém do senhor Tolda, no Soito. Tirá-lo dali já é missão para outra gente – explicou-me o Belarmino Teixeira.
Estava ali o meu arrimo, se o negócio me corresse de feição, pelo que me empenhei naquela traita.
Instalei-me por um tempo em casa do meu amigo Tó Malato, em Aldeia do Bispo, que me pôs ao dispor um cabanal que tinha fora do povo. Todas as noites atravessava a raia com cargas de 30 quilos de botas e sapatos finos, que alombava até ao dito cabanal, de onde depois o Tó Malato transportava a mercadoria para o Soito ao lombo do meu macho, atravessando a serra do Homem de Pedra cada dois dias.
Tal era o tamanho da encomenda de sapatos, que chegava a fazer quatro travessias por noite, quando a boa sorte me acompanhava e não dava de chofre com qualquer contratempo.
Mas depressa se tornou notório o meu manobrar constante, o que fez com que os guardas do posto da aldeia, tomassem providências tendo em vista botarem a luva às minhas cargas.
Sendo muita a precisão de satisfazer o negócio do Belarmino, não pude, ainda que avisado, perder tempo com demasias. Alombava os fardos seguindo quase à corrida, numa luta contra o tempo, ciente de que se conseguisse aumentar o número das cargas postas a salvo mais vantajoso ganho receberia, pouco me importando com as sentinelas e aguardos que a guarnição do posto redobrou.
Não tardou que numa noite me saltasse adiante um fusco, que ladrou aquela ordem que ouvi bastas vezes na vida:
– Larga a carga!
Botei o fardo ao chão e pisguei-me a toda a brida, embrenhando-me num matagal, o que certamente surpreendeu o guardilha, que esperava ver-me fugir com o fardo, como era uso da parte dos façanhudos contrabandistas raianos, que lutavam até ao fim pelo salvamento das cargas, que eram afinal o seu sustento.
Embasbacado, nem esboçou perseguir-me, tendo antes chamado o colega que estava por perto para transportarem a saca com as duas arrobas de calçado para o posto.
Com a vigilância apertada, perdi seis cargas numa só semana, passando a ser difícil colocar a mercadoria a salvo, tal era o empenho dos fuscos em me aliviarem as costas.
O Malato, lamentava o prejuízo, e admirava-se de eu não me preocupar com as perdas.
– Amanhã, Tó, vamos ao leilão ao Sabugal, onde recuperamos a mercancia apreendida – disse-lhe.
– Olha lá Zé, vais-te meter na boca do lobo?
– Que saiba ninguém me proibiu de entrar nas arrematações do contrabando apreendido.
– E onde tens a bagalhoça para pagar o calçado? Bem sabes que aparece lá gente endinheirada e aconchavada com os da Alfândega que tomam conta de tudo o que vai à arrematação.
– Não te apoquentes, Tó, que a mercancia vai volver ao dono.
Fui ao leilão, onde dei com uma sala apinhada de negociantes useiros e vezeiros nestas lidas. Reparei que alguns sapateiros da vila estavam entre os presentes, certamente conhecedores de que havia um bom lote de sapatos e botas entre as mercadorias a arrematar.
Quando o zeloso funcionário da Alfândega, que veio de Vilar Formoso para dirigir o leilão, abriu as caixas de madeira onde estava o calçado, os interessados apressaram-se a pegar no material para lhe verificarem a qualidade.
Mexeram e remexeram até que um negociante ergueu a cabeça e olhou desconcertado para o empregado da Alfândega.
– Mas que diabo! O calçado é todo do pé esquerdo – berrou cismado.
– Não se encontra um com o seu – clamou outro.
Gerou-se um burburinho, a que assisti sereno, não tardando que os negociantes se sumissem deixando-me quase só na saleta, defronte do empregado alfandegário.
Quando mandou apostar, tomei a palavra para fazer o meu lance, de resto o único que o funcionário ouviu.
– Cinco mérreis.
E foi por cinco escudos que trouxe a mercadoria de volta, despachando-a logo ali, na central de camionagem, para a Covilhã, onde os sapatos e as botas se juntariam aos respectivos pares que já haviam seguido na semana anterior.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Noutro tempo, antes do povo se escapulir para franças e araganças, ao fairo de melhor sustento, as aldeias da nossa raia andavam pejadas de gente. A minha terra não faltava à regra e, malgrado as dificuldades, afianço-lhes que era um regalo cá viver.
 Para além das canseiras da traita, que era dura e ocupava a mor parte do tempo, também havia ocasião para o espairecimento, que era quando a gente se tirava de cuidados e ia até à taberna deborcar um copo numa roda de amigos.
Para além das canseiras da traita, que era dura e ocupava a mor parte do tempo, também havia ocasião para o espairecimento, que era quando a gente se tirava de cuidados e ia até à taberna deborcar um copo numa roda de amigos.
A ocupação que preferia nessas horas de repouso, especialmente no tempo inverniço, em que os caminhos estavam impraticáveis, era jogar às cartas na tasca da Cassilda. Agarrado ao baralho, atirava-me ao chincalhão, ao monte, ao truque ou ao sete e meio, ainda que preferencialmente procurasse jogar à bisca e à sueca, que me enchiam as medidas.
Abancava de pareceria com o Zé Taburdo, um enaipador de primeira água, mandávamos vir um pichel de verdasco, e esperávamos quem se dispusesse a fazer-nos frente. Na sueca o Zé Taburdo tinha tarimba e trocávamos uns sinalejos que só os dois conhecíamos. Estivessem as cartas de maré no baralhar, no partir e no dar, que levávamos tudo a eito.
Os que nos desafiavam na jogatina, era vê-los cair. Dávamos-lhes a torto e a direito, e chegávamos a passar tardes e noites na venda, sempre a zupar-lhes, bebendo em barda à custa dos perdedores e volvendo a casa já pela madruga, de andar cambaleante e a cantarolar o só-li-dó.
Pois de uma vez calhou-nos ir a jogo com os irmãos Tourais, dois valdevinos da pior espécie, que eram o terror em lutas e zaragatas, ainda que verdadeiros testos na arte de jogar à sueca.
Dávamos-lhes no toutiço, quando o mais velho, o Quim Toural, me disse de rompante:
– Tome tento Ti Tosca, que já lhe vi fazer arrenúncia.
Foi como se recebesse uma facada. Posso ter mau génio no perder, mas tenho-me por pessoa séria, e nunca fiz batota no enaipar. Fixei o meu reparar nos seus olhos de lobo esfaimado, e disse-lhe a bons modos:
– Descobre-me onde está a arrenúncia…
O Toural mandou as mãos às cartas que já tinham sido jogadas e passou-as a pente fino, a ver se descobria a vasa onde eu não tinha respeitado o naipe puxado. Passou-as e repassou-as, enquanto eu, com a febre a subir-me ao tutano, joguei as mãos ao cajado que tinha debaixo da mesa.
– Afinal enganei-me… P’los vistos vossemecê no’arrenunciou…
Já vinha tarde o tratante, que me ofendera o suficiente para ter de lhe dar uma zeribanda. Ergui-me num repente, levantei o cajado e desferi-lhe uma verdoada na cabeça, que lhe acertou na orelha esquerda. O homem botou as mãos ao toutiço e berrou que nem um marrano acabadinho de capar:
– Ai que me mataram! Ai que me mataram!
O irmão Vasco levantou-se e vinha crescer para mim, quando voltei a erguer o varapau e o avisei:
– Se avanças um passo arredulho-te à varada, alma do diabo!
O rapaz, temente de se ver sovado como o irmão, foi antes por ele, ajudando-o a levantar-se do chão.
– Cassilda! Bota um gorcho de vinho no farraixe deste rapaz, que eu to pagarei – disse à taberneira.
Mas os Tourais, picados nos seus brios, preferiram sair da tasca, sem mais uma palavra. Eles bem sabiam da minha têmpera, pois não era homem de lérias.
Arrumado o caso, voltou-se-me a Cassilda em grande pranto: que lhe afugentava os fregueses, que era velhaco e tarrabento, que me desejava má morte,…
Deixei-a a botar para fora o que lhe ia na alma, e, já com ela caluda, repostei-lhe:
– Antes havias de estar por mim, rapariga, que te retiro da venda os maus fregueses.
A alma de égua bem me olhou de través, mas resolvi desandar, fazendo-lhe a promessa de, face à afronta, ali não voltar a botar os pés.
Ficou-me de emenda, porque mandei ao dianho as vendas e as cartas.
Mesmo com os caminhos enlameados ou encaramelados pelo códão, preferi botar a talega ao lombo do macho e rumar à vida, retomando o meu afazer de candongueiro. Decididamente, eu não era homem de taberna.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Uma vez, já lá vai um carro de anos, chegou-nos à Raia um fusco novato, chamado Jacinto, vindo das bandas do sul que, por artes que nunca deslindei, mandaram para estas terras do inferno para ajudar a vigiar a fronteira e a botar o gadanho aos contrabandistas.
 O rapazola, que arrimaram no posto das Batocas, tinha a cartilha na ponta da língua, e quando saltava adiante de um cargueiro, bradava-lhe assim:
O rapazola, que arrimaram no posto das Batocas, tinha a cartilha na ponta da língua, e quando saltava adiante de um cargueiro, bradava-lhe assim:
– Faça alto e entregue a mercadoria em nome da Fazenda Nacional!
Mandava esta ordem escorripichada do catecismo fiscal, todo empertigado, como se fosse magala da tropa a falar para o seu capitão. Só que ao alpercatar-se com aquela perlenga deixava tempo ao contrabandista para se moscar, salvando a pele e o carrego.
Aprenderia com a vida, este pinchaleco da cidade que alguém arrimou aos secultosos e feros contrabandistas da nossa raia.
Com o tempo o melro tornou-se espertalhaço e apanhou o jeito de botar a luva ao contrabando. Sendo porém figura reles, magricela e enfezado, parecendo padecer das lombrigas, o Jacinto tinha preferência por pilhar as cargas às mulheres e aos catraios, que demandavam Alamedilha, levando uma cesta de ovos e volvendo com uma pinga de azeite, um pão espanhol ou um cartucho de figos secos.
Deixou-se de retóricas e, apanhando contrabandista a jeito, saltava do esconderijo e aliviava-o da carga. Tornou-se o herói da caserna, pois tomando sobretudo bens perecíveis, que não podiam aguardar pela hasta pública, eram distribuídos pelo efectivo do posto ou deglutidos no próprio quartel em bródios e folias.
Pois um dia, por ocasião da festa da Senhora da Póvoa de perto, na Sacaparte, onde sempre vou com devoção, reparei que o guarda Jacinto rondava no arraial, trajado à paisana. Quedou-se na tenda da Ti Zabel Parchaneta, taberneira da Miuzela, afamada por vender o melhor vinho da redondeza. O rapaz, certamente faminto, mandou vir um cacharro de vinho, um pão de quartos e um bom naco de presunto, que a taberneira lhe serviu com esmero. Muquia sossegadamente, quando o Manel Farrusca, um dianho dos Forcalhos, que na mor parte do tempo andava avinagrado, resolveu meter-lhe paleio, dando voz ao ódio contido que muitos lhe nutriam.
– Ora aqui temos o rapagão do posto das Batocas. O arolas que bota a luva ao carrego dos cachopos… O maior apreensor de ovos, galhetas e rebuçados.
A maralha que enchia a tenda soltou uma larga risota com a arenga do Farrusca, e eu, que era batido na vida, temi que dali adviesse um problema grave com a autoridade. E não errei.
O guarda Jacinto, ciente de que à paisana mantinha a sua condição de autoridade, limpou a boca com a cota da mão, entesou-se, e disse para o Farrusca:
– Está de detido em nome da autoridade.
O arrifeiro forcalhense olhou-o com espanto, enquanto o guarda clamava pelo regedor da freguesia, que tinha por dever colaborar na condução do preso ao posto mais próximo.
Mas o Farrusca foi acometido por um mal-repente, que o vinho que emborcara lhe proporcionou, e, avançando um passo, enfiou um abrunho nas ventas do fiscal, o que o fez cair desamparado sobre o balcão improvisado da taberna. A Zabel Parchaneta, desesperada, e temente de problemas graves na sua venda, pegou num arrocho e martelou a testa do Farrusca, em castigo pela confusão que lhe arranjara. Vai daí, armou-se um escarcéu dos diabos, com cada qual a bater de seu lado, numa trama infernal. Foi traulitada de três em pipa!
Mantive-me em observação, sem me deixar enredar na confusão, e reparando que o guarda fora esquecido na contenda e permanecia arrodilhado no pó, dorido e sofrido com o murro que levara. Fui-me por ele.
– Erga-se e venha comigo que o levo pra fora da zaragata.
Só que o raças do fusco, ao invés de aproveitar para se livrar do alboredo, ainda me retrucou:
– O dever manda-me prender e conduzir à justiça um homem que ofendeu a autoridade.
Erguendo-se a muito custo, com o meu amparo, fez tensão de se meter na confusão para cumprir o tal dever.
Dando-me pena daquele diabo, que por lá arranjaria forma de sair dali cadáver, peguei-lhe pelo cós das calças, e botei-o ao ombro. Ele esperneou e protestou, ameaçando-me de prisão. Mas, indiferente a tudo, levei-o até junto do macho e botei-o para riba da albarda, onde ficou de atravesso.
– Vamos embora, que com isto faço um serviço à nação – disse-lhe à laia de o acalmar.
Lançou-me impropérios e continuou a espernear que nem uma lebre apanhada no laço. Não tive outro remédio que botar-lhe as leias, apertando-o à albarda como se fosse um feixe de nabos.
Para o manter caludo tapei-lhe a boca com um farrapo, e assim o levei ao posto de Aldeia da Ponte, onde o cabo Peres o recebeu a medo, depois de eu lhe contar o ocorrido.
Não tardou muito que o lengrinhas do guarda Jacinto fosse transferido para outras paragens, deixando estas terras de gente fera, para as quais ele não tinha têmpera.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
O afazer que mais me ocupava era andar escarrapachado na albarda do macho, percorrendo os caminhos do Senhor, na venda de mercancias. Só que à lida de contrabandista e de azemel juntava a do cuido das leiras que me couberam em herdo, como já no atrás lhes contei.
 As terras nunca ficaram ao desmazelo, que a vida do pobre não se prestava a tamanhas vaidades.
As terras nunca ficaram ao desmazelo, que a vida do pobre não se prestava a tamanhas vaidades.
Do renovo que semeava e tratava nas baixas o que mais produzia e dava ganho eram as batatas. Semeadas em terra estrumada e abarbeitada, era um regalo vê-las ganhar rama, enquanto se sachavam e regavam. Em Agosto metia-se-lhe a enxada ou o arado. Apanhadas e escolhidas, a parte destinada ao sustento da casa amontoava-se na tulha da palheira, e a que estava em demasia era ensacada e acarrejada para a estação da Cerdeira, donde embarcava em vagões para terras distantes.
Pois num dos anos, quando a rama das batateiras já despontara, aconteceu-me uma desgraça, que também não deixou impunes as restantes gentes da Bismula e povos em redondo.
Nos fins de Maio assomei-me às leiras do chão do Açude e notei que em algumas batateiras havia uns pontos amarelos que me intrigaram. Aparentavam ser ovos de borboleta, mas estranhei serem tantos, coisa por mim nunca vista. Ainda assim volvi a casa sem me preocupar com o assunto.
Dias depois deu-se brado no povo de que os batatais apareciam de rama comida da noite para o dia. Chamei o meu rapaz mais velho e démos uma saltada às veigas, a dar fé do que ocorria. Na verdade as folhas da mor parte das batateiras estavam mordiscadas, como se por ali tivesse andado coelho bravo, mas pareceu-me desajustada a conclusão, pois é sabido que o coelho prefere a hortaliça, e esta abundava numa leira ao redor. Examinando as plantas descobri alguns bichos, sobre os quais nunca houvera posto a vista. Eram vermelhos, de forma arredondada e da grandeza de uma joaninha, só que encarrapatos, de cabecinha preta e minúsculas patas da mesma cor. Filei um e esborrachei-o nos dedos, botando um líquido alaranjado, pegajoso e de mau cheiro.
– Caracho! Mas que bicho é este? – perguntei, surpreendido.
– Eu cá disso nunca vi, Senhor! Amóde que parece um carrapato – disse o meu rapaz.
– Por lá nasceram de uns ovitos que aqui enxerguei há dias.
Conclui que era o bichinho quem se alambazava com a rama do batatal.
– Estamos perdidos, filho! Este bicho é a nossa desgraça. Tão pequeno e não enche a barriga!
Esborralhou-se o pavor por toda a redondeza. O ano era de praga e adivinhava-se fome no Inverno.
Alguns apregoaram que os bichos haviam sido botados de avionetas, mas de tal dito pássaro voador eu não dera fé. E gente mais letrada culpou os «amaricanos» por tal acometimento, sabe-se lá porquê!
Entrementes, e sem me interessar pelo que se alanzoava, apus-me à tarefa de dar termo à praga. Fiz alinhar a mulher e a canalha e metemo-nos pelas leiras, de rota batida, à cata do bicho malfeitor. Por uma manhã lhe demos caça, correndo o batatal até juntarmos uma vasilha de bichos. Reguei-os com petróleo e apichei-lhes um palito. Foi um ar que lhes deu!
Mas quê? Em poucas semanas germinava nova bicheza que, aos poucos, me ia rapando o batatal. Vi que os bichos encarrapatos ganhavam asas e ficaram adornados com esbelta casaca listrada. No meu pensar seriam estes a reproduzir, dando por interminável a praga.
Organizaram-se novas caçadas, repetindo-se a operação. De resto, era assim que se procedia por todo o lado, mas de nada valendo. Os bichos apareciam às carradas e, num ai, dizimavam os batatais. Houve gente que salpicou o renovo com água benta, mas nem o sagrado líquido lhes valeu.
Anos depois, de nada valendo mezinhas, ungentos e respingadelas, deu brado que se vendia no Grémio da Lavoura, no Sabugal, um remédio de muito mau cheiro, que se misturava com água e se borrifava nas batateiras. Aí sim, a bicheza caía em grande mortandade, deste modo se salvando a lavoura de uma peste que parecia não tem fim.
Mas há por aí quem diga, e eu sou um desses, que foram os tais americanos que trouxeram o bicho para depois nos venderem o remédio.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
A Finota era a jumenta velha que tinha na corte para as lidas caseiras. Fora possante e ligeira no andar, sem rival no povo, capaz de alombar com cinco feixes de ferrém e ainda com o catraio mais novo escarrapachado no coruto da carga, mas o tempo passou-lhe no pêlo e a velhice tornou-a de fraco préstimo.
 Para as andanças do contrabando e do negócio lá tinha o macho, que era um vergalhudo, mas nas fainas da lavoura era a burrinha que pontuava. Só que o trabucar constante nas precisões deixaram-lhe mossa, e um dia, firmando-me no animal, notei que andava arrastando as patas, de focinho descaído, olhando o chão. O pêlo tornara-se ruçote e tomei fé de que se lhe avarangavam as patas.
Para as andanças do contrabando e do negócio lá tinha o macho, que era um vergalhudo, mas nas fainas da lavoura era a burrinha que pontuava. Só que o trabucar constante nas precisões deixaram-lhe mossa, e um dia, firmando-me no animal, notei que andava arrastando as patas, de focinho descaído, olhando o chão. O pêlo tornara-se ruçote e tomei fé de que se lhe avarangavam as patas.
– Tão afinada que era a burranca e agora está pr’áqui uma zonza de meter dó – disse-me a Belmira.
– Oh, mulher, põe-se com dono e merca-se outra!
– Tenho-lhe estima, home!.. e custa-me largar de mão a jumenta. É o mimo da canalha.
Como não era homem de demasias, uma madrugada aparelhei a burra e meti-me a caminho do mercado de Alfaiates. Cem mérreis foi o que pedi pelo animal. Mas quem queria uma burra velha, sem genica e com ares de já nem poder com a albarda? E aquela feição tristonha, as patas trôpegas, o focinho belfo, as orelhas murchas, o andar topinho…
Um negociante rogou que a desaparelhasse, para melhor exame, e pus-lhe a nu o lombo esquelético.
– É quase tão velha com’ó castelo! Atire-a pra uma barroca, que ainda serve de sustento aos lobos – disse-me.
Esmorecido, desci a parada a ver se alguém pegava ao negócio, mas não houve interessados.
 E já ia de abalada quando se acercaram dois gitanos, que cobiçaram a burranca. Preado para me livrar do animal, fechei negócio por uma nota de vinte.
E já ia de abalada quando se acercaram dois gitanos, que cobiçaram a burranca. Preado para me livrar do animal, fechei negócio por uma nota de vinte.
Algo amonado, que isto do vivo cria-nos estima, volvi a casa pensando em como acarear dinheiro para apreçar outro jerico mais forte e sadio.
Dias depois despachei dois carros de batatas para a estação da Cerdeira e, com o ganho, decidi satisfazer os rogos da mulher e dos catraios indo ao mercado de Vila do Touro, de coisa feita em trazer outra montada.
Embrenhado na feira do gado mirei o que havia. A parada estava alta para as burras mais maduras e não me agradava a ideia de levar um burranco novo e bravio. Antes queria animal amansado e afeito às fainas, de preferência uma burra, que já apanhara escaldão com burros, que só capados refreiam os maus repentes.
Após muito fairar, volvi a dar de chofre com ciganos. Um deles puxou-me pela aba do sartum para me empontar uma jumenta de pêlo luzidio e bem aparelhada, mas muito irrequieta. Fiquei de pé atrás, que nas tramas do negócio há que ter cautelas com o paleio daqueles adregas.
– Oh, compadre, não é brava a bicha! Está é pouco avezada a esta blandina, que é burra de trabalho. Puxa à carroça e até lavra junguida com uma vaca. Olhe que a merquei a um lavrador da Nave, home de muita lida!
Ora vai, ora deixa, acabei por cerrar o trato em duas notas de cem mérreis e, feliz da vida, conduzi o animal a casa, carregado com duas sacas de centeio que apreçara.
Ufano, mostrei à minha gente a nova jumenta. Acharam-na lustrosa, bonita de cabeça e azadinha para o carrego. Só o dianho da mulher lhe notou achaque.
– Ou puxas-te muito por ela na caminhada ou é chancana de têmpera. Tem tremores e quase bota fora os bofes de tanto arfar.
– Que diacho! Então não vês que marchou duas léguas ajoujada com dez arrobas?
Enfiei-a na corte, junto do outro vivo, e enchi-lhe a manjedoura de feno.
No outro dia, logo pela alba, soltei as vacas e a burra para as conduzir ao lameiro. Para meu espanto a jumenta tomou a dianteira e seguiu calmamente, tomando o destino certo. Lá chegada passou o portal e foi-se espojar na sombra de um freixo. «O raio da burra já parece conhecer o caminho e o lameiro», matutei. Chegando-me ao animal, examinei-o.
Atazanei-me e até o rosto se me afogueou. Fora aldrabado! Esta burra não era mais do que a minha Finota! Conhecia-lhe bem as mataduras das patas traseiras… Os ciganos lavaram-na, deram-lhe lustro e bachicaram-lhe o traseiro com aguarrás para ficar activa.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Não havia pai para o Casimiro, um fusco do catano, que fazia parte da guarnição do posto de Aldeia da Ponte, e que era, bem o posso afirmar, o terror dos contrabandistas do meu tempo.
 O Casimiro era afinado como uma doninha. Encafuava-se nos cambais junto à raia, onde o cargueiro menos cuidava, e esperava pacientemente que um desgraçado lhe passasse rente. No momento oportuno saltava-lhe na galupa, agarrando-o firmemente e clamando com a sua voz de trovão:
O Casimiro era afinado como uma doninha. Encafuava-se nos cambais junto à raia, onde o cargueiro menos cuidava, e esperava pacientemente que um desgraçado lhe passasse rente. No momento oportuno saltava-lhe na galupa, agarrando-o firmemente e clamando com a sua voz de trovão:
– Larga a carga, jagodes.
De pouco valia tentar cavanir, que o fusco era arteiro e estava em vantagem, pronto para dar uma carreira, se caso fosse, tirando partido das suas longas gâmbias.
Em algo era porém menos ruim, aquela alma de cântaro: nunca aprisionava o homem que filava. Contentava-se com a tomada da carga, embora fosse useiro em recorrer ao costado do contrabandista para lhe levar a mercancia até perto do posto, dizendo-lhe depois que se pusesse ao fresco. O coitado aproveita e dava às de Vila Diogo, enquanto o Casimiro, para não deixar suspeitas, lhe berrava que o apanharia nem que fosse no outro mundo. De carga pejada, fosse fazenda, calçado, azeite, conhaque, pão ou simples galhetas, o sandeu apresentava-se perante o comandante, o cabo Peres, pronto para levantar o auto.
A mania de dar fuga aos contrabandistas depois de os fazer alombar com o carrego até às primeiras casas de Aldeia da Ponte, valeu-lhe de uma vez um contratempo. O Zé Covas, de Alfaiates, que era rapaz taludo, mas algo cagaçolas, foi uma noite vítima do Casimiro e alancou com a pesada carga de enxadas que trazia de Espanha até junto do posto. Mas quando o guarda lhe fez sinal para se escapulir, o Covas temeu que fosse ardil, vindo-lhe à mona a ideia de que receberia um tiro pelas costas, e fez-se desentendido.
– Vá azagal, larga o carrego e põe-te a léguas! – rosnou-lhe o Casimiro em voz baixa.
Moita. O candongueiro, imperturbável, não se mexia.
O Casimiro foi então mais directo:
– Ó palonço, arreia o fardo e desanda, que não te quero levar preso.
Ao Covas bem lhe apetecia livrar-se do apreensor, mas não lhe saía do tutano que aquilo era ariosca e que receberia fogachada, dizendo depois o guarda que abatera um preso em fuga.
Estavanado e já cansado de perder tempo, o Casimiro correu-o a pontapé, obrigando-o a seguir caminho.
Pois meus caros, lhes garanto que nunca me deixei filar por esse basbaque, e nem sequer me aconteceu aventar ao chão carga que ele apanhasse. Muitos lhe ouviram alanzoar que lhe faltava uma façanha na folha de serviço: deitar a manápula ao Tosca da Bismula. Só que eu, e não é para me gabar, era o mais astuto dos contrabandistas do meu tempo e, por mais esperas e aguardos que me fizesse, não houve forma de me colocar a mão em riba.
Sentindo-se incapaz de me filar junto à raia, estudou-me os percursos e uma noite esperou-me ao redor do caminho que seguia da Rebolosa para a Bismula, a pouca lonjura das últimas casas do povoado, portanto já bem longe da linha da raia e onde eu nunca esperaria sobressalto.
Caminhava à vontade, ciente de que a fazenda estava fora de perigo, quando, de repente, me saltou um vulto adiante, que me urrou:
– Larga a teleiga, Tosca. Estás filado.
Mesmo aturdido, consegui dar dois passos atrás, voltar-lhe as costas e correr de afogadilho de volta ao povoado, com o Casimiro a perseguir-me, quase lhe sentindo o bafo. Como ele tinha a perna longa não duvidei que me apanharia em breve, pelo que quando me aproximei da primeira casa atirei-me de um pulo ao cimo da parede do curral, que galguei para o outro lado. Já dentro do curral alapei-me debaixo de umas fachas de feno que estavam sobre o chedeiro do carro das vacas.
Do meu refúgio, quedo e de arfar sustido, pude ver o fusco, que saltou igualmente o muro e parou a mirar ao redor, a ver se descobria o meu paradeiro. A um ponto fixou os olhos no chão e disse em voz nítida:
– O lapuz já aqui largou carga.
E abaixou-se para apelazar o que lhe parecia ser uma boina basca.
Só que a mão deu com coisa mole, húmida e inconsistente, que lhe fez chegar às narinas um cheiro intenso.
– Conho, é uma bosta de vaca! – disse o Casimiro ao mesmo tempo que sacudia a mão borrada.
Estavanado, cirandou pelo curral, a ver se me topava. Vasculhou a moreia da lenha, assomou-se ao poleiro das pitas, debaixo do carro, dentro da dorna, até que o tremeluzir de uma luz, que se acendeu na casa o fez desistir e voltar a saltar o muro.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Era noutro tempo costume avistar galegos vagueando pelas terras da Beira, quais ciganos errantes à cata de jornal em pequenas tarefas da lavoura ou pedinchando de poiso em poiso, para não morrerem à míngua.
 Embora fosse gente pobre e modesta, não se livravam da fama de calaceiros e ratoneiros, pois tinham a mão leve. Por via disso, eram pouco queridos nos povos por onde navegavam.
Embora fosse gente pobre e modesta, não se livravam da fama de calaceiros e ratoneiros, pois tinham a mão leve. Por via disso, eram pouco queridos nos povos por onde navegavam.
Por aqui e acolá iam encontrando uma alma caridosa, que lhes aceitava os préstimos para qualquer trabalho leve e lhes dava em paga uma malga de caldo ou uma côdea rija com um naco de carne rançosa. Em verdade não eram maus diachos, só um tanto rudes no trato e pouco amigos de se debruçarem sobre o arado ou se agarrarem ao mangual. Mas o certo é que quando a fome lhes apertava lançavam a manápula a eito, vindimando o que estivesse a descuido.
Dois desses ditos galegos passaram-me um dia ao redor do chão da Masseira, onde, à banda do carreiro, tenho uma antiga e ramalhosa nogueira. Era verão pleno e eu regava, pela hora do calor, uma leira de feijão de estaca. Lobriguei os dois badagoneiros, esfarrapados e de focinho peludo, a andar em passo lento e de bico calado, carregando cada qual uma volumosa trouxa. Encovilado na estacada, de lá os mirei chegando-se e dizendo um deles para o comparsa:
– Mira que rica sombra! E se aqui nos espojássemos à fresca?
Palavras não eram ditas e já ambos se tombavam de papo para o ar gozando a fesquidão.
O mesmo que falara, olhando para o alto da ramagem, voltou a dizer:
– Mira que guapos pêssegos ali estão em riba.
– Já arreparei, mas estão verdes.
Ao escutar do que palravam os vagabundos resolvi pular para o caminho, de coisa feita em os assustar.
– Ah, estafermos! Então falais em me papar os pêssegos?
Ambos se ergueram de um salto e recuaram temerosos.
– Não, Senhor!… Não, Senhor!… – balbuciou um.
– Só aqui nos tombámos por mor da canseira – explicou o outro com maior calma.
– Mas, então, não estais com fome, almas do diabo?
– Estamos sim, Senhor. Mas não pense vomecê que lhe queríamos filar a fruta…
– Ah, se eu não soubesse a vossa laia! Mas, ainda assim vos digo que não sou avaro ao ponto de negar alimento a gente esfaimada. Se quereis fruta podeis comê-la até que vos dê da bonda. Mas atenção… Não permito que emborqueis os caroços. Preciso deles para semear mais pessegueiros.
A estas palavras brilharam-lhes os olhos de alegria.
– Esteja vossemecê descansado. Os caroços não os queremos nós.
E treparam ambos à nogueira, onde, com sofreguidão, roeram as cascas das nozes.
– O raio dos pêssegos a mode que amarujam – disse um dos espanhóis.
– Cala-te e come, que mais amaruja a fome – volveu-lhe o outro.
Só pararam quando não lhes coube mais no odre. Desceram então da árvore e apanharam os caroços para uma cesta que lhes coloquei nas mãos. Acabado o serviço agradeceram o manjar e fizeram-se ao caminho, enquanto eu volvia a casa com meia cesta de nozes.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Aventurei-me uma noite na travessia das terras raianas entre Aldeia do Bispo e Fóios, tendo por coisa feita fazer chegar a Navesfrias quatro sacas de café e dali tirar uma carga de pana e de riscado para um meu freguês de Trancoso.
 Segui pelo breu nocturno, escarrapachado no lombo do macho, entre as sacas pejadas de café. Contornei Alfaiates, e o mesmo fiz em Aldeia Velha e Aldeia do Bispo, para evitar o ladrar dos cães, que podiam levantar suspeitas. Não é que tivesse receio dos guardas fiscais, que na altura fechavam os olhos ao tráfico de café, mas a verdade é que preferia que não me aparecessem ao caminho, porque só o luzir dos botões daquelas fardas de cotim, me deixava desacorsuado.
Segui pelo breu nocturno, escarrapachado no lombo do macho, entre as sacas pejadas de café. Contornei Alfaiates, e o mesmo fiz em Aldeia Velha e Aldeia do Bispo, para evitar o ladrar dos cães, que podiam levantar suspeitas. Não é que tivesse receio dos guardas fiscais, que na altura fechavam os olhos ao tráfico de café, mas a verdade é que preferia que não me aparecessem ao caminho, porque só o luzir dos botões daquelas fardas de cotim, me deixava desacorsuado.
Quando atravessei a raia redobrei os cuidados, ali já não poderia contar com a tolerância das autoridades. Acrescia que os carabineiros não tinham a mansidão dos nossos fuscos. Aquilo era gente desalmada, sem coração nem fígado, sempre prontos a aliviar o negociante do seu carrego e a chapear fogo, se para isso houvesse ocasião. Para mais, naquela altura, os guardilhas espanhóis andavam preados para apanharem à mão tente um português, de modo a vingarem as bofetadas que o Manuel da Cruz, de Aldeia da Ponte, aí no atrás, espetara a um deles que o queria aprisionar.
A ida correu-me de feição e entreguei a mercadoria na aldeia espanhola, substituída pelos fardos de fazenda. Carreguei a montada e decidi retornar de imediato, sem sequer dar descanso ao animal.
– Tiene atencion, que los carabineros son en la frontera – avisou-me o espanhol com quem fiz o trato – fue un gran riesco venires con el mulo, que la mayoría de los contrabandistas portugueses antes llevan la mercancía a la espalda.
– Gracias, Alonso, também eu costumo andar a penates, mas o macho dá-me melhores garantias de safar a carga em caso de mau encontro.
O espanhol encolheu os ombros, e eu, que não estava para delongas, fiz-me ao caminho.
No trajecto, ainda em Espanha, meti a corta-mato, sempre com o macho de rédea, tomando uma vereda que seguia por entre giestas e pinheiros.
O céu encoberto impedia a lua de alumiar o caminho. Isso parecia dar-me segurança, mas, a dado passo, num local aberto, onde menos o previa, saíram-me ao caminho dois carabineiros:
– Detiene-te, cretino!
Palavras não era ditas e já um apelazava o macho pelo cabresto e o outro me tentava lançar os gadanhos. Consegui saltar para o lado, livrando-me de ser filado à primeira. Ainda mal refeito da surpresa e beneficiando do breu nocturno, ergui a vara e mandei uma tremenda arrochada no traseiro do animal, que deu dois pulos e se pôs ao fresco, de nada valendo o esforço do carabineiro para o manter dominado. O macho arrancou para um lado e eu mandei-me para o outro, correndo a toda a brida para me escapulir. Os guardas ainda empunharam os fuzis e foguearam em minha direcção, mas a noite fechada não os ajudou na pontaria. Saindo ileso da compita retomei o caminho da raia.
Já recuperado da surpresa, vieram-me á cachimónia as palavras do Alonso que se admirava de eu contrabandear com recurso ao macho. O animal fora afinal a minha salvaguarda. Ele sabia, como eu, os caminhos que conduziam a casa, assim salvando a mercancia das garras de rapinantes que se queriam apoderar do que não era seu.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Pela meada de Dezembro, botou-me a mulher à luz outro catraio. Com este já eram cinco os que faziam algazarra e a largueza do casebre era pouca para dar poiso a tanta gente.

 Numa noite o crianço berrava e galreava desenfreado, sendo de todo impossível pregar olho. Não tive remédio senão pegar na samarra e ir direito à corte, deixando a mulher entregue àquela praga. Peguei numa facha de palha trigueira, espalhei-a pelo chão, e ali me espojei junto do macho, a matutar se valeria a pena trazer mais vidas ao mundo.
Numa noite o crianço berrava e galreava desenfreado, sendo de todo impossível pregar olho. Não tive remédio senão pegar na samarra e ir direito à corte, deixando a mulher entregue àquela praga. Peguei numa facha de palha trigueira, espalhei-a pelo chão, e ali me espojei junto do macho, a matutar se valeria a pena trazer mais vidas ao mundo.
Sendo o frio de rachar, apertei a samarra e cheguei-me para a roda do macho, meu velho companheiro de muitas aventuras. E não é vergonha contá-lo, que já Nosso Senhor, quando veio encarrapato ao mundo, não teria sobrevivido não fora o bafo de uma vaquita e dum burreco que o aqueceram naquela fria manjedoura de Belém.
Noite alta, fui acordado por estranho arruído. Fitei a orelha e quedei-me atento. Pareceu-me que alguém tentava abrir o cancelo do curral. Levantei-me de manso e botei as mãos ao cajado, não fosse gabiru que viesse a roubar os ovos da capoeira. Apercebi-me depois que alguém entrava no curral. Esperei e, quando senti passos próximos da corte, abri num repente a porta e saltei para fora de arrocho em riste.
– Eh, ladrão! Ficas quedo ou já te vindimo!
O vulto começou a dar ao satrás e, tropeçando num cepo, emborcou na gamela dos porcos.
– Ai, ai, ó ti Zé! Não me derranque que sou eu!
– Mas, és tu quem, estafermo? Vinhas aos ovos das pitas? Eu já te canto o fado.
– Não me dê, ti Tosca, não me dê! Sou o Manel Lapinhas!
Fiquei embasbacado. Então que fazia o filho do meu grande amigo Tomé Lapinhas ali no meu curral?
– Tu, rapaz? Que buscas aqui a esta hora da noite?
– Vinha a ver se por aqui tinha umas leias ao descuido para segurarmos uma carrada de paus pró madeiro – disse-me o galfarro, a modos que medroso, pois nem a todos agrada a lide dos moços da aldeia que, nas noites que antecedem a do Sagrado Nascimento, pilham lenha para a amontoarem no adro e lhe apicharem lume à hora da missa do galo.
– Ora essa, e não dizias água vai? Eu te arranjo o que procuras.
Voltei-lhe as costas e enfie-me na corte, a fim de encontrar as cordas de encarrar.
Demorei-me um gorcho, que um homem raro encontra à primeira aquilo de que tem precisão, e quando volvi com as leias nos braços reparei que o moço já não estava no curral. Soaram baques e falas curtas, vindos do exterior, pelo que me apressei a abri o cancelo, reparando que meia dúzia de rapazes rodeavam um carro de vacas pejado de lenha que seguia ladeira abaixo.
Estive para correr a trás dos tratantes, para recuperar a lenha que certamente me surripiaram da moreia enquanto fui ver das cordas, mas lembrei-me da tradição de Natal e do tempo em que também eu fora moço solteiro e tivera por igual missão acarear a lenha para aquecer o Menino.
Volvi a entrar no curral e lancei o reparar na moreia da lenha, tomando fé de que me haviam surripiado uma boa dúzia de trepolas de castanho.
Conformado e sentindo que a frealdade da noite se me entranhava no corpo, voltei a tombar-me ao redor do macho, e ali adormeci enlevado na recordação dos meus tempos de cachopo.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Depois do aziago passo na feira de São Pedro, no Sabugal, em que me quedei desprovido de montada por a ter perdido no vício do jogo, tive de refazer a vida e botar-me adiante, pois tinha uma família a meu cargo.
 Já lhes fiz entender que não estava afeito à pacatez da vida de lavrador, agarrado à canga das vacas e à rabiça do arado. Para tal faina lá tinha a mulher e os catraios, que já eram entendidos na lida. Ademais, sem o negócio de contrabandista e azemel, a que me dedicara durante anos, dificilmente amanharia ganho para a merca do azeite para o caldo e da potassa para as barrelas da roupa.
Já lhes fiz entender que não estava afeito à pacatez da vida de lavrador, agarrado à canga das vacas e à rabiça do arado. Para tal faina lá tinha a mulher e os catraios, que já eram entendidos na lida. Ademais, sem o negócio de contrabandista e azemel, a que me dedicara durante anos, dificilmente amanharia ganho para a merca do azeite para o caldo e da potassa para as barrelas da roupa.
O grunhame de reserva não era muito, mas a precisão fez-me juntar os conques que tinha no fundo da arca para ir à cata de novo macho. Tinha uma burranca velha, a Finota, que era o mimo da casa e o meio de transporte da canalha, mas que era de todo incapaz para as andanças do negócio.
Esperei pela feira da Freineda, que se fazia no dia de Santa Eufémia, a 16 de Setembro, e botei-me ao caminho ao romper da madrugada, carregando ao lombo um fardo de popelina que de caminho deixaria a um freguês.
Já na feira, fui-me ao terreiro do gado para mercar o novo muar. Dei uma volta a tomar fé do andamento dos negócios e quedei-me junto a um criador da Freineda, o Manuel Saroto, meu conhecido de há longa data, que ali apresentava para venda um possante macho zamorano. Mirei-o de alto a baixo, notando que tinha pernas fortes, sem mataduras, bom quadril, lombo escorreito, forte dentuça e boa venta para o cabresto. Era a montada que me servia. Reparei que dois ciganos andavam igualmente de roda do animal, tirando-lhe medidas.
A amizade que mantinha com o dono facilitou as coisas e após alguma conversa, um que puxa outro que ripa, fixámos em duzentos mil reis o fecho do trato, tendo eu ainda direito à albarda, alforges, cabresto, retranca e demais atafais do macho.
Os ciganos, ao notarem que o ajuste estava fechado aventaram uma proposta, a tentarem o Manuel Saroto, oferecendo os mesmos duzentos mil reis, acrescidos de uma burra branca que um deles segurava pela rédea.
Ora o Saroto, que além de amigo era homem de palavra, deu-lhes ao satarás, dizendo-lhes que o lance vinha a destempo.
– Olhe que uma burrinha branca é uma lanterna nas noites de breu – insistiu o cigano que segurava a burra.
– Mas pra que raio quero o asno? Já mal pode co’as patas! O macho vai pró o meu amigo Tosca, que com os duzentos mérreis me contento e sei que o animal fica em boas mãos.
– Mas nós cobrimos o lance – volveu o cigano.
– E ele a dar-lhe! O negócio está cerrado e não se fala mais nele! – afirmou o Saroto peremptório.
Os gitanos não se davam por vencidos, que na arte do negócio são mestres e não toleram que os desprezem. O que estava de mãos livres deitou a mão à prisão do macho, ripando-a das do dono, a quem deu um forte contrifão, que o ia tombando.
– O macho é nosso de direito. Ou aceita a bem ou viramos tudo a varapau – disse ainda em ar de ameaça.
Ora eu, que mau grado o meu interesse no trato estava quedo e caludo, não podia, já o sabem, ver um justo ofendido e maltratado, pelo que decidi repor a ordem. Apertei o varapau que sempre me acompanhava e dei dois passos adiante ficando de béculas para o tratante, em cujos olhos afirmei o meu olhar.
– Ó adrega do catano! O macho vende-o o dono a quem entende. Larga a arreata e aparta-te do caminho.
Em má hora intervi, pois o outro cigano ergueu a vara de freixo de picar os cavalos e mandou-me uma forte verduada no lombo que quase me botou em terra. Meio torcido mandei-lhe com o varapau à cabeça, fazendo-o recuar uns metros. E ia dar-lhe segunda tanganhada quando o outro, à falsa fé, me arrumou com uma pedra na nuca que me fez achicar no pó. Entontecido e sem reacção muscular vi que o mesmo vinha para acabar comigo quando o Saroto, de junto com outra malta, se interpuseram e meteram os ciganos na ordem. Juntou-se o povo, munido de estadulhos, varais e o que apanharam à mão, e correram com os sandeiros a toque de caixa.
Expulsa a ciganada, vieram por mim, que continuava jazendo sem forças e de vista turva pelo sangue que me escorria da cabeça. Tombaram-me numa cancela, onde me aconchegaram a cabeça ensanguentada com um avental enrodilhado e transportaram-me a casa do barbeiro. Já na habitação, mudaram-me para cima de uma arca, e uma mulher desatou-me o lenço que usava ao pescoço e desabotoou-me o colete, após o que todos saíram do aposento, deixando-me entregue ao mestre em curas.
O Amaro, homem muito bem apessoado, como o eram os barbeiros das aldeias daquele tempo, debruçou-se sobre a minha cabeça, examinando o farraiche. Cortou à tesourada os cabelos do local onde levara a testeirada, lavou-me o ferimento com abundância de água e desinfectou-o com recurso a uma caneca de vinho tinto.
– É mais a pinga que gasto a desinfectar esmichadelas que a que bebo de portas adentro – disse o barbeiro à farramalha, soltando a risa.
Depois fez o penso com um pano de linho e atou-me a cabeça com tiras de flanela. Findo o trabalho deu-me a mão e ajudou-me a erguer.
– Desta escapou vossemecê, ti Tosca, está pronto pra outra.
– A si o devo amigo Amaro, e ao povo desta terra que é gente amiga – disse-lhe.
Com a cabeça dorida e ainda meio entontecido ensaiei uns passos e caminhei para a porta, saindo para o balcão, a cujas guardas me amparei. Notei que soava um borborinho e ergui o olhar, dando de chofre com uma chusma de gente, que estava defronte da habitação olhando para mim com ar preocupado. Tomei a verdadeira noção do valor que tinha a amizade que ao longo de anos fizera com aquela gente da Freineda nas inúmeras vezes que ali fora por mor do negócio.
Desafiando a dor que ainda sentia, dei umas palavras, que a turba ouviu em silêncio:
– Em conta da ajuda que me prestasteis, convido-vos a todos para o albroque, que o negócio é de valia e levarei o macho para a Bismula, se ainda o consentir o meu amigo Manel Saroto.
– Ora essa, amigo Tosca, o negócio já estava fechado – disse o Saroto, que me veio dar um abraço.
Foi um pagode. O povo, folgazão como era, juntou-se na venda, ao lado dos pipos e ali se fez o chinfrim.
Por insistência do amigo Saroto acompanhei-o a casa, onde descansei o cadáver em riba de um enxergão. De madrugada botei-me ao caminho, escarrapachado no belo e possante macho zamorano que acabara de comprar e que haveria de viver comigo muitas aventuras por esses caminhos de Deus.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
No que toca a feiras e romarias, tinha especial donairo em botar o pé à feira de S. Pedro, no Sabugal, onde ia à cata de negócio e também no fito de empancar com amigos e meter-me de súcia com eles.
 Aquilo era uma feira de estalo! O largo da Fonte e ruas chegantes emprenhavam de gentiaga. Iam ali feirar louceiros da Idanha, sapateiros da Castanheira, chapeleiros de Pousafoles, albardeiros de Pinhel, carvoeiros de Malcata, criadores da vila e arrabaldes, feirões dos quatro cantos da Terra.
Aquilo era uma feira de estalo! O largo da Fonte e ruas chegantes emprenhavam de gentiaga. Iam ali feirar louceiros da Idanha, sapateiros da Castanheira, chapeleiros de Pousafoles, albardeiros de Pinhel, carvoeiros de Malcata, criadores da vila e arrabaldes, feirões dos quatro cantos da Terra.
Duma banda era o mercado dos cereais, onde se vendia trigo, pão, milho, feijão, aveia e até farelo e carolo. Noutra parte estava o gado, em que vacas, burros, cavalos, cabras e mais vivo eram negociados. Debaixo das tendas ou à mercê da resca vendiam-se roupas, fazendas, ferrarias e bugigangas. A um canto era o mercado da fruta, legumes e mais novidades temporãs vindas de terras onde o clima era mais ameno.
Junto à fonte, de mantola ao ombro e aguilhada ou cajado nas mãos, prantavam-se ganhões e zagais que ofereciam os seus préstimos aos proprietários que deles tivessem precisão para todo o ano. Era uma vozearia tremenda entrepicada pelo constante ornear dos burros e o mugir das vacas.
Abanquei a meio da praça ainda antes de raiar o astro. No macho, carregado a preceito, trazia pana, saragoça, briche e popelina, tudo da melhor qualidade, que recentemente houvera passado a raia. Arremanguei a camisa e apus-me à lida, descarregando a fazenda e esbarralhando-a sobre de uma manta de farrapos que estiquei no solo. O negócio correu-me de feição e a meio da manhã tinha já a mercancia despachada e a bolsa atabicada de bilhostres. Dei graças a Deus pelo bom negócio, pois em casa o dinheiro não abundava.
Deixei o macho preso a uma estaca de ferro e decidi-me dar uma carreira pelo largo. Merquei aos louceiros uma caçoila e um barranho, que faziam falta à mulher para o preparo da miga. Já no mercado das vacas quis dar fé de como iam os negócios. Assisti ao acertar e romper dos tratos, dando também, quando calhava, o meu entender acerca das tramas que se iam enredando. Houve acesas arrelias e assisti mesmo a um barulho entre dois tinhosos que se não entendiam por mor de uma mula. Como tinha amigos em todo o arraial, era tido e achado na tenda da taberna a beber o albroque, quando se fechavam tratos. De tal modo lhe cheguei ao verdasco, que ao fim do dia dei por mim meio toldado da vista e de pernas trementes.
Foi já bem avinagrado que me engalhei mais uns comparças a bater as cartas numa loja. Comecei por ganhar e, na ânsia de inçar a pataqueira, apostei forte. E como às vezes não atinamos as voltas que a puta da vida dá, o certo é que a sorte me abandonou e num repente me vi perdedor. Deserto por recuperar o que me pertencera insisti na aposta, mas o acaso nada quis para a minha banda. Às duas por três vi-me despojado dos conques que fizera na feira, dos artigos que mercara para a mulher e até do macho e seus atafais. Parei ainda de roupa vestida, cioso da honra, e a tempo de não passar por vergonhas.
Estavanado pelo que me ocorrera e privado da montada, botei a penates, noite fora, para a minha santa terrinha. Pelo caminho matutei na vida e na asneira que fizera ao me enlear na jogatana. Senti-me um badagoneiro despojado de seus teres, um pobretana sem eira nem beira, nem pé de figueira, um bandalho que vagueia pelos caminhos.
Chegado a casa, manhã alta, mais morto que vivo pela lonjura da estirada e pelas consumições que me invadiam a alma, engendrei a ocorrência. Contei o perigo a que tinha estado sujeito, e a forma como me livrara dele, são e escorreito, ali estando pronto para enfrentar os dias vindouros. A canalha até chorou de emoção, mas o damóntre da mulher não se queria convencer que me tinham saído os ladrões ao caminho.
– Isso é que é uma estória! – tornou-me a Belmira – De malfeitores para aquelas bandas há muito que não se ouve falar. Por lá perdeste tudo no jogo, valdevinos!
– Vira pra lá essas ventas, rapariga! Atão depois do perigo que corri ainda me brindas com lérias?… E olha que se me não tenho defendido com unhas e dentes, já estavas viúva e com uma rodada de órfãos às costas.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Nunca fui como a cepa e o carvalho, que se pegam à terra, pois sentia o gosto façanhudo de correr o mundo à cata de aventura. Ao invés de cavar leiras ou guardar pastorias, como os mais pacatos, preferia lançar-me de fardo no costado a caminho de Espanha ou sair com o macho carregado de fazenda à cata de negócio por feiras e romarias.
 Por vezes armavam-se desacatos. Um que puxa outro que deixa, e logo alguém sacava da naifa, zunia o cajado ou apelazava um calhau. Quanto a mim, meus amigos, se me soasse zoeira ou me fairasse pancadaria era certo estar lá batido, disposto a tudo. Chalaças não eram comigo, e ai daquele que me lançasse desafio.
Por vezes armavam-se desacatos. Um que puxa outro que deixa, e logo alguém sacava da naifa, zunia o cajado ou apelazava um calhau. Quanto a mim, meus amigos, se me soasse zoeira ou me fairasse pancadaria era certo estar lá batido, disposto a tudo. Chalaças não eram comigo, e ai daquele que me lançasse desafio.
As gentes sabiam-me justo, honrado, pacato e até simplório, mas o dianho era se houvesse escarcéu onde a minha honra, ou a de algum justo, fosse atirada à lama. Por mor de tal feitio fiz amigos e inimigos mas, há que dizê-lo, os primeiros foram mais em barda.
Até dentro de portas me metia em alhadas e aqui nem sempre as coisas corriam pelo melhor, que santos da casa, como soi dizer-se, nunca fizeram milagres.
Uma noite, em final de Verão, dormia a sono solto, estirado na enxerga e arredado da mulher, por mor do calor, quando acordei assarapantado com alta vozearia.
– Que soa, home? – perguntou-me a Belmira, também ela atordoada.
– Alguém corre as ruas do povo a armar escarcéu – disse-lhe.
Gritos, assobios, bater de tamancos, acompanhavam o roncar desatinado de um armónio. Parecia o tropear de um pelotão de desordeiros, desafiando as pobres almas da aldeia.
Pelo zoar percebi que eram os rapazes da Nave, em regresso de Vilar Maior, da festa do Senhor dos Aflitos, já bem tomados do briol.
«Esperai que já as tomais, gabirus!», pensei, ao mesmo tempo que me ergui de um impo.
– Vê lá ao que vais, cabo dos trabalhos… – disse-me a mulher, que me conhecia o génio.
Desci ao curral, onde lancei mão a um tanganho, e segui colado às paredes, tocadas pela sombra do luar.
A rapaziada assentara arraiais no adro, onde continuava cantando e bailando com estardalhaço. Na rua não topei vivalma. Seria de crer que a gente da terra se acobardava com a presença daquela súcia de pelintras? Entrei, pé ante pé, no curral do Zé Marra, à procurar reforço. Havia que incitar o povo a reagir à afronta, cair-lhes em riba e corrê-los a toque de caixa. Subi a escaleira do balcão e bati de leve na porta de castanho. De dentro tudo permaneceu mudo e quedo. Insisti:
– Ó Marra! Sou eu, o Tosca. Temos de correr com a canzoada que nos tomou o povo!
Soaram passadas. Dentro da casa soltaram a tranca e o Marra assomou-se pela fresta da porta entreaberta:
– Isto são horas de vir a casa de um cristão tirá-lo de seus cuidados?
– Ora essa, estapor! Mais cagaceira fazem os da Nave, que romperam pelas ruas a fazer escárnio da gente. Temos que os enxotar!
– Ora, deixa-os palrar. Vêm do Senhor dos Aflitos já toldados do vinho. Não os descuides que depressa seguem. Têm mais de uma légua a palmilhar.
– Conho! – exclamei, irado com a calma do meu patrício – É por estas e outras que ninguém nos guarda respeito. Home! Eles que toquem a gaita na Nave, que aqui ainda há quem mande.
Mas o desaconsuado cerrou-me a porta!
A honra obrigava-me a não desistir de espantar a corja e maluquei um plano para ensandecer a aldeia contra os atrevidos. Encostado novamente às paredes, e com cautelas redobradas, aproximei-me do adro. Tombei-me junto a uma quina, e mirei a malta que continuava a divertir-se cantando e cambaleando pelo largo ao ritmo do armónio. Só tinha de alcançar a igreja e trepar ao campanário para tocar o sino a rebate, de modo a que todo o povoado se pusesse de alevanto. O raio era chegar lá, que o maldito do tocador se sentara ao fundo da escaleira. Mas não tardou que botassem as trouxas às costas e arremetessem para mais uma ronda. Ergui-me, atravessei o largo numa carreira, e trepei a toda a brida ao alto da torre sineira. Lá chegado mandei o gadanho à corda do sino e puxei com força, disposto a bater fortes sinadas. Mas, para minha surpresa, não soaram mais que baques surdos!
Cheguei-me ao sino… Filhos da mãe! Tinham substituído o badalo por um nabo. Fiquei preado, quase disposto a romper eu só, de cajado ao alto, contra os malditos.
Do alto mirei as silhuetas da rapaziada dando a volta ao povo e depois tomando o caminho da Nave. Ainda mal refeito, regressei a casa e à enxerga, carregando a vergonha de ter sido herói de espavento.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Já sabem os meus caros que a vida que levei foi a de arriscar o coiro no contrabando e esfalfar a saúde calcorreando a todo o tempo os povos em redondo comerciando as mercancias. E não é vergonha dizê-lo, porque se a ventura me estava no tutano, também tinha de acarear sustento para as muitas bocas que tinha em casa.
 Cuidar das parcas terras que meu pai e meu sogro me deixaram era obrigação para a mulher e os filhos, embora não negasse dar uma ajuda, o que sobretudo sucedia aquando das tarefas de maior e mais cansativa azáfama.
Cuidar das parcas terras que meu pai e meu sogro me deixaram era obrigação para a mulher e os filhos, embora não negasse dar uma ajuda, o que sobretudo sucedia aquando das tarefas de maior e mais cansativa azáfama.
Arrecadava ao redor de 20 alqueires de centeio, que me garantiam fartura de pão de portas adentro. Mas para o cereal vir parar à arca da loja tinham que se executar as rudes tarefas da ceifa, acarranja e malha, nas quais dava o meu contributo, especialmente no torna-dia, que era a paga, em trabalho, a quem nos ajudava.
Numa dessas ocasiões, fui ajudar à malha da senhora Marquinhas, uma morgada cá da terra, que era mulher bondosa e bem merecia o favor de todos. Tive que me agarrar ao mangual e emparceirar com a rapaziada nova numa das alas a zupar no centeio. Demos-lhe forte, em continuada compita, não me ficando atrás da malta solteira, que me julgava um osso bom de roer.
De manhã cedo, à desjua, bebemos gemada e metemos no fole uma mastiga de pão com chouriça. Ao almoço emborcámos uma malga de sopa e um naco de pão com queijo de cabra curado. A meio da manhã parámos para o cravelo, comendo pão com chouriça e presunto. Durante o manejo do mangual, ao fim de cada eirada, derrubávamos um cântaro de vinho, do verdasco da senhora Marquinhas, que saltava aos olhos em sinal de maravilhosa pinga.
Quando o sol ficou a pino, quedámos para a janta. A patroa estendeu uma toalha de linho por riba de duas fachas de palha e ali dispôs as maravilhas da sua culinária. Serviu-nos com todo o esmero, por lá demasiado, face à hoste de labregos que ali tinha, pois o que queríamos era encher o odre para satisfazer a gana e recuperarmos as forças para o resto da traifa. Veio um tacho de borrego guisado com soberbo aroma, que nos fez crescer a larica. Para acompanhar o borrego requeriam-se batatas cozidas, das farinhentas, para embeber o molho bem apurado do guisado. Mas a senhora Marquinhas, que tinha o maldito gosto de surpreender, apresentou um tacho de arroz alvo como a estriga.
– Aqui têm um arrozinho branco de manteiga para acompanhar o borreguinho – disse-nos com a sua vozinha meiga ao destapar o tacho.
Trocámos olhares de estranheza, pois naquele tempo não éramos dados ao arroz, ainda para mais assim da cor da cal, parecendo o arroz-doce de uma boda. Tive que ser eu a dar voz à insatisfação.
– Ó senhora Marquinhas, não me leve a mal nem veja desfeita na minha niquitrena, mas antes quero acompanhar o borrego com fatigas de pão do que emborcar esse arroz deslavado e da cor do linho.
– Ora essa, senhor José Tosca, cozinhei-o com toda a condesilha, não me diga que lhe desagrada, se ainda nem o provou.
Tive de lhe explicar com paleio mais frontal.
– O ponto é que só gosto de arroz sujo, do que tem ciscos e algueiros.
– Meta lá uma garfada à boca e verá que está divinal – sugeriu-me a morgada face às minhas considerações.
– Pois da minha parte antes lhe rogo uma fatiga de centeio, que esse arroz esbranquiçado será manjar para padres e doutores, mas não satisfaz o apetite de um malhador.
E todos se atiraram ao tacho do guisado munidos de um bom fatronco de pão, sem que ninguém botasse o garfo ao arroz de manteiga, para desânimo da morgada que se viu obrigada a recolher o tacho.
Deglutido o guisado, a patroa presenteou-nos com uma travessa de papas de carolo, que estavam muito docinhas, e num ai foram arrebanhadas pelos gulosos malhadores.
Para findar, veio à mesa improvisada um enorme e vistoso queijo fresco, que a morgada retirou do assincho, ficando a tremelicar em cima do prato. Logo alguns lhe botaram as naifas, retirando grandes pedaços que colocaram sobre fatigas de pão.
Como não toquei no queijo, a senhora Marquinhas, que em tudo reparava, deu-me novo remoque, por lá ainda pouco refeita das minhas considerações acerca do arroz branco.
– Então senhor José, não se serve de um pedaço de queijinho tenro, acabadinho de fazer?
– Olhe, senhora Morgada, eu serei algo biqueiro, mas no que toca a queijo, saiba vossemecê que só me entra no goldre o amanteigado, daquele que se esbarronda no prato do mesmo modo que uma bosta de vaca se esparralha no chão.
A mulher ficou de face rubra, parecendo subitamente irada com o meu paleio.
– Veja o senhor José como fala quando os mais estão à mesa!
Como não era homem de lérias, pedi licença, levantei-me e abandonei a malha. Seria labrego e tipo de poucos e maus cuidados no trato e sem maneiras, mas tenho cá o meu orgulho e o meu modo de ver o mundo.
Decidi nada querer daí em diante com gente fidalga, dessa que não gosta das falas e da maneira de viver da gente do povo. E já agora, no que respeita a comidas, saibam que sou ainda fiel à tradição antiga e não me entram no bucho os comeres modernos que agora por aí se servem nas casas de pasto.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Antes queria andar só correndo os caminhos de Deus que fazê-lo com má carava. Mas como vivemos em súcia e havia basta gente a andarilhar pelas estradas, sucedia-me ir muitas vezes acompanhado, ainda que nada o desejasse.
 Um desses meus parceiros de ocasião era o Manuel Porro, de Aldeia da Dona, que comerciava em tamancos e albarcas de seu próprio fabrico. Era homem latagão, alto que nem uma torre sineira, com gâmbias longas que lhe permitiam, de uma só passada, avançar maior porção de terreno do que eu fazia com dois passos. Era o cabo dos trabalhos acompanhá-lo caminhando, sendo quase necessário galgar para não o perder de vista. Algumas vezes, cansado da correria, desculpei-me em ir dar de corpo atrás de um barroco fronteiro ao caminho, para o deixar ir adiante e assim o perder de vista.
Um desses meus parceiros de ocasião era o Manuel Porro, de Aldeia da Dona, que comerciava em tamancos e albarcas de seu próprio fabrico. Era homem latagão, alto que nem uma torre sineira, com gâmbias longas que lhe permitiam, de uma só passada, avançar maior porção de terreno do que eu fazia com dois passos. Era o cabo dos trabalhos acompanhá-lo caminhando, sendo quase necessário galgar para não o perder de vista. Algumas vezes, cansado da correria, desculpei-me em ir dar de corpo atrás de um barroco fronteiro ao caminho, para o deixar ir adiante e assim o perder de vista.
Pois de uma vez, em dia chuvoso, em que tornava de Pinhel, da Feira dos Santos, seguindo por um caminho lamacento, fui alcançado pelo Manuel Porro quando já estava perto da Parada. Vindo no seu andar rézio, como um toiro desgovernado, ainda me desviei para o deixar passar, mas o homem, depois de me dar a salvação, refreou o passo e dispôs-se a seguir na minha carava. Trazia de rédea, como sempre, o seu burreco preto, chamado Moreno, que era um jerico patarreco, mas desalmado para andarilhar, tal qual o dono.
– Então como correu o negócio? – perguntou-me.
– Menos mal, ainda que retorne com boa parte da fazenda.
– Pois amigo, a mim há muito que uma feira não me corria de feição como a de hoje. Vendi quase tudo a bom preço e uns pares de tamancos que me restaram ainda os deixei ao desbarato.
– Não tive tanta sorte, pois torno com o macho carregado.
– O Moreno vai folgado. Não quer aliviar o macho? – disse-me o Porro, mostrando-se prestável.
– Bem-haja, mas vou deixar na Cerdeira, em casa de um freguês, boa parte do que trago.
Na Cerdeira demorei-me um instante no trato com o meu freguês, e pensei que o Porro deitasse adiante. Mas o raio do rapaz não arredou pé, e ainda me ajudou a descarregar a fazenda. Seguimos depois pelo caminho na Miuzela para atravessarmos a Côa junto a Badamalos.
Chegados à ribeira demos com a água correndo a monte, cobrindo uma parte do pontão. Hesitámos na travessia, mas voltear pela ponte de Sequeiros, mais a riba, far-nos-ia perder muito tempo, e não queríamos que a noite nos surpreendesse.
Decidimos atravessar, ainda que molhando os pés na água corrente. Segui primeiro, com o macho de rédea. O animal estava avezado a superar comigo todos os perigos e foi com redobrados cuidados que passámos a parte do pontão em que a água corria desalmadamente, ainda que pouco mais cobrisse que o tornozelo.
Quando atingi a outra banda reparei no Manuel Porro, que se via e havia para encarreirar o Moreno para o pontão. Bem lhe puxava pela arreata, mas o animal parecia ter os cascos colados à terra. O Porro sovou-lhe o lombo com um arrocho e meteu-lhe o ombro à traseira, mas não havia modo de o arrancar.
– Não o force Manel, que isso dá mau resultado – berrei-lhe, a ver se o continha, pois bem sabia que ele era cabreado quando lhe dava a tineta.
– De mim este barzabenas não manga. Passa nem que seja de rojo – disse o Porro, zupando de rijo no animal.
– Eu volto a essa banda e vamos passar a ponte, seguindo depois por Valongo – gritei-lhe de novo.
Nem me respondeu, irado que estava. E tanto espadelou o animal que este se deitou parecendo morto. Para meu espanto, o Manuel Porro botou as manápulas aos atafais do burro e, recorrendo à sua força descomunal, ergueu-o como se fosse uma saca de batatas e botou-o às costas. O animal esperneou, mas o Porro, fazendo jus à fama de vergalhudo, não mais o largou, metendo pelo pontão em passo firme, sob o meu olhar de assarapantado.
Acabando a travessia, o Manuel Porro, de cara rubra pelo esforço heróico a que se sujeitara, aventou o burro ao chão lamacento e disse-lhe com ar severo:
– Podes ser mais esperto do que eu, mas não me ganhas em teima e em valentia.
E dali arrancámos em passo estugado, a ver se nos livrávamos do breu nocturno.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Não há melhor dita que ir à missa de domingo vestido de grave, em ares de janota, ouvir a palavra de Deus e a prática do nosso prior, e depois sair à rua de alma desenxovalhada, pronto a enfrentar as amarguras da vida.
 Noutro tempo, quando a aldeia era aldeia, ao rabo da cerimónia juntavam-se os amigos no adro trocando larachas acerca do tempo e badalhocando na vida alheia. A bácora grande da ti Marzabel pariu uma dúzia de recos luzidios; ao Zé Birra embostaram-lhe o poço do horto; os Cabrais vão erguer choupana ao cimo do povo… Ali se laparchinava em descoberta das novidades.
Noutro tempo, quando a aldeia era aldeia, ao rabo da cerimónia juntavam-se os amigos no adro trocando larachas acerca do tempo e badalhocando na vida alheia. A bácora grande da ti Marzabel pariu uma dúzia de recos luzidios; ao Zé Birra embostaram-lhe o poço do horto; os Cabrais vão erguer choupana ao cimo do povo… Ali se laparchinava em descoberta das novidades.
Pela minha parte aproveitava para fazer a cobrança do que me era devido por alguns, aos quais fiara fazenda. Assim abordei de uma vez o Joaquim Tourais, questionando-o pela paga de um pano de chita que há muito lhe vendera.
– Não gosto de ser tinhoso, mas já é tempo de me pagares a mercadoria.
– Inda onte tive com os trinta mérreis na mão, de coisa feita em me botar a sua casa – disse-me ele de ar atarantado.
– Pois como lá não foste, aqui me tens pra receber a paga.
– O caso é que o damonho da minha Maria, que é de má laia, me rogara que lhe mercasse umas pitas pedreses, e tanto me azucrinou a cabeça que me cheguei ao ti Videira e lhe aprecei quatro das que tinha no poleiro.
Arreliei-me com aquela léria. O palonço de cada vez alanzoava sua laracha e não havia modo de me pagar a dívida.
– Primeiro cumpres a obrigação que tens para comigo, depois tratas das tramóias da tua… Agora toca de ir ao poleiro agasnatar as pitas, que as levarei de paga – disse-lhe já farto das suas escusas.
– Isso não ti Zé. Tenha dó! A minha desancava-me!
– Catano, e deixo que me ferres o cão? – berrei-lhe já arresinado, com os punhos cerrados, disposto a zurzir-lhe o pêlo.
– Não se aferrenhe, que o caso se remediará. Daqui a dias lhe pagarei, afianço-lho!
Virou costas e largou em passo estugado, temente que o maltratasse.
O Joaquim Tourais não era má peça. Seria até dos mais justos homens da Bismula. O mal era a bácora da mulher, que o abarcara já viúvo e lhe dera a volta ao tutano. Meteu-se-lhe de portas adentro a rogar homem maduro que lhe tirasse a cachondice, e toma, passados dias, o padre anunciava os proclames da atadura. Pôs-lhe a vida negra, o raio da cachopa. Fazia-o penar de patrão em patrão no ganho do jornal, que logo ela lhe surripiava do bolso quando chegava a casa estafado. Era ela quem marcava a ordenança, vivendo como reca cerrada em seu cortelho. O pobre Tourais, desorientado com a vida, tinha de pedir fiado para beber na taberna e mercar roupa com que se vestisse ao domingo e dias nomeados.
Que o rapaz era boa pessoa e aplicado trabalhador sabia-o de sobeja, que eu mesmo poria as mãos na lambra pela sua justeza, agora que me não pagasse a fazenda por mor das tinetas da mulher é que não podia permitir. O caso tinha de ser remediado, e dei por mim a malucar em como cobrar a dívida, pois o bagalhuço fazia-me falta para o andamento do negócio, e não me agradava que aquela zoupeira se estivesse a rir da trama. Sabia que a maldita tinha artes para a costura, e que houvera talhado e alinhavado uma chambra com a chita que ele me rogara. Eu mesmo já lha topara vestida num dia festivo. Ora, deixa ver, que o caso tem boa solução.
Num dia, ao fecho da tarde, dando fé de que o Tourais dava as ultimas cavadelas no chão onde ganhava a jorna, dispus-me a pôr fim ao caso. Chamei o meu Luís, catraio com ares de maltês, puxado à laia do pai, e dei-lhe instruções.
– Daqui a nada, quando te assobiar do fundo da rua, dás um salto à casa do ti Joaquim Tourais e dás recado à ti Maria para que corra à taberna que o homem se engolfou em vinho. Depois desandas para casa, como se de nada se tratasse. E nem chus nem mus, bico cerrado. Entendeste?
– Sim, meu pai!
– Então fica atento ao meu silvar.
E lá fui até ao cabo da ruela, onde soprei o assobio combinado. O rapaz arrancou que nem foguete a cumprir o que lhe ordenara. Olhei em redor para me certificar se alguém dera fé, mas não havia que ter cuidados, a populaça ainda labutava nos agros e o povo estava deserto. Saltei então para o acanhado curral do Tourais, onde me alapardei por detrás da moreia de lenha que estava a um canto. Num ai chegou o meu Luís, que berrou do meio da rua.
– Ó ti Maria! Ó ti Maria!
A calhandra assomou-se à porta da casa térrea, de pescoço vermelhão erguido, que nem perua no poleiro.
– Que queres, garoto?
– O ti Jaquim está lá abaixo na taberna emborrachado de todo. Nem se tem nas pernas. É melhor lá ir por ele.
– Ai o malvado, que o desanco!
E saiu a toda a pressa, atravessando o curral esbaforida. Tinha o caminho livre para fazer as minhas contas. A porta ficara escancarada, pelo que foi só entrar e correr à cata da arca da roupa, que encontrei na saleta, encostada ao tabuado. Abri-a e revolvi a farrapada até descobrir a chambra de chita rubra. Botei a mão ao que era meu, escondi-o debaixo da véstia e saí do casoto. Já em casa enfiei a gribalda no meio de outras fazendas, e segui com meus afazeres, satisfeito da vida.
No dia seguinte deu brado que a casa do Joaquim Tourais fora roubada. Já eu estava longe, no mercado de Alfaiates a vender fazendas, entre as quais uma vistosa blusa de chita encarnada.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Todos os anos botava pé na romaria da Senhora da Póvoa, a de longe, em Vale de Lobo, onde para além da festa religiosa se armava uma feira de truz. Pois foi lá que uma vez tive mau encontro com o Três Pêlos, esse trangolas de focinho de rato, que mugia a todo o tempo: «cheguem-se à roda, a ver quem atina na vermelhinha!».
 Postava-se por detrás de uma bancada, com o tronco de esguelha, pois era manco. Sobre o pano de linho que cobria o mesente estavam deborcados três canecos de latão. Trocava-os de posição com uma incrível rapidez, levantando de vez em quando um deles, a deixar topar um botão vermelho.
Postava-se por detrás de uma bancada, com o tronco de esguelha, pois era manco. Sobre o pano de linho que cobria o mesente estavam deborcados três canecos de latão. Trocava-os de posição com uma incrível rapidez, levantando de vez em quando um deles, a deixar topar um botão vermelho.
A populaça que serigaitava pela feira ia quedando em torno do Três Pêlos, matando a curiosidade.
– Atão, quem aposta? É só atinar! – desafiava o manco.
Alguns afoitaram-se e entraram na jogatana, perdendo e ganhando, enquanto engrossava o cordão de gente que envolvia a banca.
Pela minha parte, enxergava as mãozinhas do Três Pêlos a fazer bailar os copos em riba da banca, a ver se lhe apanhava o manejo. Não era parvo, o homem. Começava por apostar fraco, para cativar, e dava duas reviravoltas aos canecos pedindo depois ao apostador que indicasse qual deles escondia a marca. Adivinhava e, enredado, continuava o jogo, até que o Três Pêlos lhes dava quatro volteios, trocando os olhos ao freguês. Agora atinar era uma sorte.
Fui-lhe tomando o maneirar e matutando se valeria a pena entrar no engrimanço. Mas o patarreco, ao topar a minha prolongada presença, dirigiu-se-me em voz altaneira:
– E vomecê, tio?… Não entra na brinca?
Apanhado de surpresa e sentindo-me olhado pela turba, tive que me afoitar.
– Atão pois!… Só esperava vez.
– Quanto aposta?
– Cinco tostões, pra começar…
Saquei do sartum uma moeda que atirei para cima da banca.
O malabarista soergueu um dos copos, para me mostrar a posição do botão. Depois pousou as mãos sobre dois e fez-lhes uma rotação para a canha, seguida de novo movimento para a dextra. Pareceu-me fácil.
– Veja lá o do meio.
O homem ergueu-o e lá estava a vermelhinha, a sorrir.
Enfiou o gadanho numa gamela com o fundo coberto de moedas, donde sacou uma que mandou para riba da mesa.
– Aposta agora os dez? – desafiou-me.
– Botamos adiante.
Nova rabiosca e mais um palpite.
– Erga o da sua canha.
Novo ganho e outra aposta a dobrar. Voltei a atinar, para desespero do Três Pêlos, que não me conseguia ludibriar. Já ia a jogo contrariado, de face rubra, a bufar que nem um gato assanhado. E eu a apostar mais forte, senhor de mim, confiante que lhe descobrira a destreia no voltear das latas. E a choldra fazia roda embasbacada.
– Catrino! Não há modo de o enganar! – disse alguém em voz alta.
– Não me diga que desiste? – desafiava eu agora.
– Nunca! Não arreceio ir a jogo, isto é a minha vida!
– Então aposto tudo o que guardo no bolso contra o que o amigo tem na gamela.
O homem aceitou, e no poviléu levantaram-se sussurros de surpresa pela minha temeridade.
Feita a aposta o Três Pêlos curvou-se sobre o mesente, pousou as mãos no topo dos dois copos das bandas, e deu-lhe simplesmente dois volteios rápidos.
Arrelampei-me com tamanha facilidade. Mesmo assim demorei-me um gorcho no adivinhar, para criar ânsia. Apontei-lhe serenamente o copo da minha esquerda. Ele colocou-lhe a mão em riba e hesitou também um instante.
– Vá lá, home! Erga o caneco!
Levantou-o. Por debaixo estava apenas o pano de linho que cobria a mesa. Fiquei pregado ao chão, com um enorme peso no bucho. Nalguma me enganara, o bufarinheiro.
– Passe cá a bolsa do dinheiro – disse-me com ar triunfante e de escancarado riso no focinho.
Estavanado, mandei uma lambada nos outros dois copos. Os canecos rolaram e caíram no chão poeirento – o pano estava limpo, a vermelhinha desaparecera.
– Ah, futriqueiro! Pra onde sumiste o botão?
Chalaças não eram comigo, que me tinha por honrado. Fui-me a ele e assentei-lhe duas lostras na tromba que o achicaram em terra.
Dois moços de lavoura botaram-me as mãos e tolheram-me os movimentos, encostando-me a um carro de vacas. Protestei, maldizendo o malabarista, que agora se erguia ajudado por outros homens.
Em breve chegou o regedor da locanda, a tomar parte do caso. Aprumou-se à minha frente, deu ordem aos moços para me soltarem, e perguntou-me calmamente:
– Diga lá que enxêco lhe fez o manco.
– A gente que diga!… O marrano estava de mão na portinhola a fazer uma ribeira, de frente para mulheres e catraios.
O regedor, mandou um reparar de desprezo ao laburdo do Três Pêlos que, agarrado à banca, protestou.
– É mentira! É tudo aldra!… A gente que diga.
Mas a assistência ficou queda e caluda, ao que o regedor decidiu:
– Pode ir à vida, homem!… Quanto a ti, Três Pêlos, andor daqui para fora antes que te arreste e te entregue à Guarda.
Estava safo, e tinha que me esgueirar dali a toda a brida. Apalpei o bolso, à cata da saqueta do dinheiro e, em rápido voltear por entre as tendas, pus-me ao fresco, tomando a firme decisão de não voltar a jogar à vermelhinha.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
O meu preferido entretém nas horas mortas era serigaitar pelos campos em busca dos animais bravios. Já meu pai, que Deus haja, era, para além de lavrador, um valente monteiro e foi com ele que aprendi a lidar com a clavina e a bater tojeiros, silvedos e tourais à cata de coelhos e lebres.
 A bem dizer, isso de caçar estava-me no sangue desde garoto, pois logo cedo afinei a pontaria com a fisga e montei costis para filar tordos e gaios. Era o inimigo número um da passarada, entre os catraios do povo, para além de mestre a armar laço, arçolhos e ferros nos locais apropriados. Em casa havia sempre fartura de coelhos e perdizes, quando me dispunha dar uma volta pelo campo. E mais não haveria por a vida de contrabandista e negociante não me deixar muito tempo vago para me dedicar a tais artes.
A bem dizer, isso de caçar estava-me no sangue desde garoto, pois logo cedo afinei a pontaria com a fisga e montei costis para filar tordos e gaios. Era o inimigo número um da passarada, entre os catraios do povo, para além de mestre a armar laço, arçolhos e ferros nos locais apropriados. Em casa havia sempre fartura de coelhos e perdizes, quando me dispunha dar uma volta pelo campo. E mais não haveria por a vida de contrabandista e negociante não me deixar muito tempo vago para me dedicar a tais artes.
Em geral caçava sozinho, com a singela companhia da Doninha que, fairando e embrenhando-se nos matagais, fazia a caça sair para campo aberto, onde eu lhe apontava e chapeava chumbo. Mas também gostava de uma boa carava, sempre se convivia e botava faladura, enquanto se percorriam as tapadas ou quando se abancava a emborcar uma mastiga.
Um dos meus nobres comparsas nestas lidas, quando havia ocasião, era o padre Hilário, da Vila do Touro. Era um artista a apontar a espingarda e matreiro ao ponto de se aprochegar, de manso, dos tourais e chumbar os coelhos quando estercavam. Embora barrigana e com ares de lapão, tinha genica que chegasse para trepar a eito pelos cerros e seguir de rota segura em direituras dos barrocais onde abundava caça. Era também homem reinadio e tagarela como poucos. Não fora a sotaina, que até quando seguia pelo mato envergava, e ninguém diria tratar-se de um sacerdote da Madre Igreja.
O padre Hilário apreciava da minha carava, pois também eu era folgazão e advertido e sabia-me deslocar ao esconde-esconde pelos montes, mexendo-me como uma verdugueira quando quer abocanhar um pássaro. Fazíamos uma boa dupla na caça.
Há muito tempo, vivi com ele uma parte, que agora lhes vou contar.
Num mercado da Vila do Touro, que se fazia todas as últimas quintas-feiras do mês, e a que raro faltava, fui ter com o dito prior, pois ele era, além de grande amigo, o meu confessor. Ficou ufano com a minha presença e foi comigo ao confessionário onde, por seu intermédio, prestei contas com Deus. Feita a obrigação, deu-me de cear e logo ali se fez a combina. Ele dava-me dormida na tarimba que tinha montada no paranho e na madrugada chegante íamos caçar.
Descansei o corpanzil em riba duma facha de palha, mas logo que o galo cantou, puxei a clavina do alforge e meti o bornal, com o farnel que trouguera, a tiracolo. Na cozinha rilhámos uma côdea e ala, seguimos à vida.
Por toda a manhã percorremos os cabeços pedregosos de Vale Mourisco, local onde a bicheza bravia abundava e nós conhecíamos a pente fino.
A meio da manhã chegou-se-nos a nainita e decidimos manjar qualquer coisa. Descemos do Cabeço do Peneducho e estacionámos numa achada, à beira de uma presa com água limpa. Saquei então de um fatronco de pão centeio, de uma bela chouriça e de um valente naco de presunto apimentado. Espantou-se o padre Hilário com tal fartança.
– Ó Tosca! Que diabo. Nem pareces temente a Deus!
– Ora essa, sou um pobre pecador que anda sempre pronto a dar contas ao Senhor.
– Então e hoje, que na liturgia é dia de jejum e abstinência, trazes carne prá manja?
– Tem razão Vossa Reverência – disse-lhe, coçando o tutano – nem tal coisa me veio à lembrança!… Onde raio estava com a cachimónia?!
O padre enrugou a fronte, dando ares de desassossego.
– E passaremos fome? – procurou-me.
– Que hemos de fazer? Se é jejum, jejuamos, cumprindo a obrigação… E que boa posta de bacalhau lá tinha na arca! – lamentei-me.
O abade olhou de esguelha para a chouriça e para o presunto, todo a lamber-se e a lamentar-se de ficar com o odre vazio. Botou então o gadanho ao nagalho da chouriça, levantou-se e chegou-se perto do bueiro, onde a mergulhou na água fria e a fez boiar de um lado para o outro. Tirou-a depois e, virando-se para mim:
– Já nadou Tosca! E se nadou é peixe! Vamo-nos a ela!
– Mas, se é pecado?
– Qual pecado, homem de Deus? Desde quando não se come peixe na Quaresma? Passa cá a naifa que já vai num ai.
Dado o ousio do padre atirei-me ao farnel e ali nos alambazámos, enchendo o fole.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Se é verdade que não me considerava abastado, também é certo que lá em casa mulher e filhos não andavam à míngua. Havia fartura de batatas para cozer no panelo e de pão para migar o caldo, graças a Deus, e até tinha no chiqueiro um marrano já bem cevado e quase pronto a ir à faca.
 Mas, em verdade, não me podia descuidar nos afazeres da vida, que a riqueza era pouca e a precisão não dava tempo para me estirar a descansar. Ia amontoando na saleta peças de fazenda que trazia de Espanha, noite após noite, e que depois vendia por feiras e mercados.
Mas, em verdade, não me podia descuidar nos afazeres da vida, que a riqueza era pouca e a precisão não dava tempo para me estirar a descansar. Ia amontoando na saleta peças de fazenda que trazia de Espanha, noite após noite, e que depois vendia por feiras e mercados.
Pois vou contar uma parte que me sucedeu quando regressava da raia, já noite bem pegada, na carava do Manel Serôdio e do Tó Maltês, também eles experimentados nas lides da candonga. Vindos de Albergaria, fomos forçados a passar, azangados com os carregos, nas veigas da ribeira de Alfaiates, ao redor da Rebolosa. Íamos em lento caminhar, encarreirados a uma fileira de salgueiros, que nos protegia do luar, quando se me chegou à perna o Tó Maltês:
– Eh Zé! Não te soa uma concertina?
Fiquei de orelha fita, à cata do ruído.
– É além no povo. Terão armado bailarico no terreiro, – disse-lhe.
– E se por lá formos dar uma curva? Emborcamos um gorcho e damos um mordo. Já me galreia o bucho e trago a goela seca!
Também o Serôdio se mostrou interessado nesses propósitos. Não querendo ser desmancha-prazeres, tomei o mesmo partido, pelo que escondemos as cargas debaixo do folhado de uma moita e ala, fizemo-nos ao povoado.
O adro da Rebolosa estava atulhado de gente, que alegremente bailava ao ritmo de uma desenfreada concertina ou se engalhava no paleio junto à taberna montada a um canto do arraial. Aqui o vinho corria a rodos dos tonéis arruados a uma parede. Foi para aí que nos dirigimos, embrenhando-nos no adjunto. À sede que traguíamos juntou-se a alegria de beber em ambiente festivo, pelo que nos mantivemos ao redor dos pipos, sempre de pichorro entre os dedos, à conversa com os da terra.
A dada altura, com a noite já avançada, deram-me ganas de botar um pé de dança, quando soou uma moda mais ao meu jeito. Fiz-me ao terreiro, disposto a engrontar-me ao corpo de uma cachopa. E como quando avinagrado me torno foito, logo me fiz à bela Maria Rosa, tida como a melhor manega do povo. Quando me toparam a rodopiar pelo largo, os da terra cochicharam, de mim e da pobre moça: «o raio do home, casado e pai de filhos, quer enganar a franganota!». Começou isto a correr ouvidos e, logo à segunda moda, se me chegou um rapazote, por lá pretendente à rapariga. Puxou-me pela véstia, à mesma vez que todo ele se empertigava, fazendo cara rude.
– Larga lá a moça, antes que lhe dês cabo dos pés com as topadelas dos teus cascos.
Não gostei da chalaça e, vai que não vai, arrumei-lhe um tento nas ventas. De tal força lhe cheguei que o damonho do rapaz, mesmo latagão como era, caiu redondo em terra.
Acorreram os do povo, cegos de raiva. Armou-se uma tremenda pancadaria, com os da Rebolosa de um lado e eu mais o Serôdio e o Maltês do outro. Eram às dezenas e atacavam de todas as bandas. Foi a muito custo que nos conseguimos escapulir do meio da balbúrdia, onde murros, pontapés e pauladas nos caíam como em centeio na eira. Embicámos a toda a brida para o caminho da Bismula, e raspámo-nos a sete pés, dando às de Vila Diogo.
Conseguimos algum avanço sobre os da Rebolosa, que nos vinham no encalço. Mas, esmazelados como estávamos, não conseguiríamos ir longe, pois a mastragada de gente já se aproximava em grande algazarra, expelindo urros medonhos. Se nos filassem malhavam-nos o cadáver até que o esfarelassem. Ao dobrar de uma curva disse aos meus comparças:
– Achicamo-nos à roda daquele cômoro.
Assim fizemos. Mal nos escondemos logo ouvimos passar, em grande zoeira, a turba perseguidora. Erguemo-nos depois, sãos e salvos mas de corpo dorido e amassado. Regressámos à Rebolosa e, chegados ao terreiro, demos com o baile desfeito e com a presença de apenas meia dúzia de mulheres e crianças, que se apressaram a debandar. Empunhando estadulhos, que tirámos de um carro de vacas, desatámos a zupar em tudo o que apanhámos pela frente. Abalroaram-se os tonéis do vinho e partiram-se caçoilas e copos, demoliu-se a banca da taberna e o palanque onde tocara o acordeonista.
Serviço concluído, abandonámos à pressa a aldeia pelo lado de Alfaiates, sob o malicioso olhar das mulheres, que nos observavam pelas taliscas das portas e janelos.
Fizemos boa parte, mas íamos cientes de que em breve receberíamos na Bismula os rapazes da Rebolosa, para tirar vingança.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Em tempos de solteiro já corria desenfreado por festas, feiras e romarias. Terra onde houvesse pé de dança ou se armasse briga no terreiro, ali caía disposto a tudo.
 Mas aquilo eram tempos do catano. Meu pai, que Deus haja, cortava-me as asas e, em domingos e dias santos, mandava-me pastorear as ovelhas. Ora eu não era pessoa que quedasse num lugar quando malucava ir a outro. Logo que se aprochegasse o meio do dia mandava-me a uma das cabras da piara e tetava umas goladas, rilhava a côdea que traguia no bornal, mandava o cajado pró diacho e lançava-me à desfilada, direitinho a onde me fairasse arraial. O gado ficava bem entregue aos dois cães da pastoria, que melhor do que eu o sabiam guardar.
Mas aquilo eram tempos do catano. Meu pai, que Deus haja, cortava-me as asas e, em domingos e dias santos, mandava-me pastorear as ovelhas. Ora eu não era pessoa que quedasse num lugar quando malucava ir a outro. Logo que se aprochegasse o meio do dia mandava-me a uma das cabras da piara e tetava umas goladas, rilhava a côdea que traguia no bornal, mandava o cajado pró diacho e lançava-me à desfilada, direitinho a onde me fairasse arraial. O gado ficava bem entregue aos dois cães da pastoria, que melhor do que eu o sabiam guardar.
Quando fui dar o número ao Sabugal, e me vi livre de carregar a mochila de soldado, o velho agraciou-me com um par de botas ferradas.
– Não quero que rompas a pele dos calcantes nem dês cabo de mais tamancos. Aqui tens calçado p’rás tuas correrias domingueiras.
Queria ver-me casado e fora de casa! Botei-me então a correr esses caminhos de Deus, em busca de noiva, nos entrementes do contrabando a que me passei a dedicar.
Encertei-me nas levas do amor namoriscando uma raparigota de Alfaiates, a Maria Bernardina. Era moça pegada aos vinte, a quem não faltavam pretendentes lá na terra. De tal lhe andavam ao fairo, que logo quando lhe botei faladura me apareceram os rapazes mais tisudos do povo a reclamar a patenta. Tive que lhes baralhar as voltas e andar fugido daquele poiso. Só em noites de breu me atrevia ir trocar umas lerias com a galfarra. Mas, enfadado dessas lidas, quis pôr tudo em pratos limpos:
– Ó Bernardina! Ou vamos amanhã ter com o prior ou vou-me andando à pergunta d’outra.
Ficou-se-me em pranto, o raio da moça. Que não podia ser, que tudo tinha o seu tempo, que lhe diria o pai se ainda mal sabia do derriço… Tive de largá-la e ir em busca de outras paragens.
Conheci então a Maria Rita num arraial em Ruivós. Era rapariga esbelta, trabalhadeira e, ao que soube, bem entendida nas lidas da cozinha. Vinha-me a calhar! Ainda lhe cheguei a falas, mas logo me veio aos ouvidos que seu pai, que era o regedor, a tinha bem guardada para um morgado lá do povo. Para evitar demasias decidi retirar-me de tais terrenos.
Durante muito tempo corri a Raia à cata de rapariga. Namoradeiras havia muitas, mas a maldita fama de corrécio e bom puxador de naifa não me ajudava nada. E já quase tinha perdido a esperança de formar família e mudar de vida, quando se me chegou o Chico Moita, meu companheiro de caminhos e atalhos, e me disse ao ouvido:
– Olha lá, Zé! Boa mulher, bem constituída e desembaraçada, há-a na Malhada. Não seria mau dares por lá uma volta.
– E que idade tem a perdigota?
– Já anda chegada aos trinta, mas está ali um bom partido. Se por lá fores toma tino no que te digo: só quer homem trabalhador e que dê bom chefe de família. Ao que por aí ouvi zurrar, já muitos se lhe chegaram e não a convenceram.
No dia seguinte, logo pela alba, meti-me a caminho da Malhada Sorda, a ter com a dita senhora. Não é que tivesse grande fé no propósito, mas sempre lá ia para me desenganar. Soube no povo que tinha uma quinta a pouca distância, onde vivia e tomava conta de muito vivo. Recebeu-me uma mulher alta e morena, vestida com saiote até meia canela e uma curta blusa de tomentos, deixando adivinhar fartos e formosos seios. A blusa arremangada deixava mostrar também uns braços musculosos, por certos devidos à muita faina.
– Que quer cá da quinta? Se vem pra comprar ovos ou peles de ovelha, por agora a casa está vazia.
– Venho plos seus dotes, minha senhora! – arrumei-lhe de caras.
– Ora, isso não é pra qualquer um! Entre, que já se verá.
Já no curral, mediu-me de alto a baixo e deitou a manápula a uma garrancha.
– Muitos têm vindo na mesma fé. É certo que preciso de marido, que o tempo está-me a passar, mas só me leva o que for melhor que eu em trabalho e em manha.
– E como quer que lhe mostre a valentia? Jogamos à pancada?
– Nada disso. Pegue nesta garrancha e dê-me uma demão.
Hesitei em ajavardar a roupa nova que vestia, mas decidi-me a aceitar a compita. Entrei na corte e arranquei o estrume, que encimei em moreia no curral. Depois fiz a cama do vivo com duas fachas de palha centeia e descarreguei ainda um carro de feno que estava junto à palheira. No fim, já cansado, quis saber a sentença:
– Ora diga-me se o desembaraço foi do seu agrado.
– Bem, isso ainda se verá na ordenha do gado, que está por fazer.
– Conho! Agora percebo porque nenhum a desencantou desta furda! Se quer criados pague a um ganhão que a sirva no trabalho e a aqueça na enxerga.
Palavras ditas e em três pulos tornei ao caminho que me levava a casa. Alguma cachopa lá encontraria na terra que isto ali de andar a mando de saias não me estava no feitio. Bem me dizia minha mãe: livra-te de mulher que sabe latim e de moça que faz im!
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Nos tempos que se seguiram ao final da Guerra de Espanha, surgiu uma nova mercancia para atravessar a raia, o minério, a que os mais sabidos chamavam volfrâmio. Catavam-no do fundo da terra, fossando dentro de largas e fundas poças, como porcos em lapacheiro.
 Voltou-se à forma de contrabandear de outros tempos, alombando cada cargueiro duas arrobas de minério e rompendo afoito pela linha fronteiriça. Todas as noites se formavam carreiras com dezenas de rapazes, carregados que nem bestas, que seguiam pelos campos de Portugal e de Espanha, a arfar, procurando furtar-se à vigilância das autoridades. Se o carrego chegasse ao destino, cada um receberia a justa recompensa.
Voltou-se à forma de contrabandear de outros tempos, alombando cada cargueiro duas arrobas de minério e rompendo afoito pela linha fronteiriça. Todas as noites se formavam carreiras com dezenas de rapazes, carregados que nem bestas, que seguiam pelos campos de Portugal e de Espanha, a arfar, procurando furtar-se à vigilância das autoridades. Se o carrego chegasse ao destino, cada um receberia a justa recompensa.
Eu era listo e finório que nem uma zorra naquelas andanças, pois desde galfarro me embrenhara na lide. Conhecia as planuras e os cerros cobertos de mato de toda a raia como as ruelas do meu povo. Era vergalhudo e tinha corrida forte, pelo que fui contratado.
Dez escudos pagavam, ao tempo, por transportar e entregar no destino uma carga, que ia numa sacola de lona com a boca lacrada, que se atava ao corpo com baraços. Logo me incumbiram de secultosa missão: seguir em primeiro nas carreiras para levantar os guardas, caso se alapardassem à espera dos contrabandistas, como era seu uso. Pagavam-me vinte escudos pela temeridade, desde que chegasse ao destino com a minha carga.
Pois agora lhes conto uma parte acontecida nesse saudoso tempo. Numa noite de luar, caminhava diante de duas dúzias de companheiros, escolhendo caminho, já muito chegado à linha da raia. A carreira de contrabandistas era como uma verdugueira que se arrastava contornando barrocos e matagais. Aqui cosidos com um cômoro, ali gatinhando por entre a ferrém, mais além passando uma várzea em corrida. E eu sempre á frente, afoito, confiante, pleno conhecedor do terreno. Mas, por trás de um silvado, onde nunca o sonharia, saltou de chofre um guarda, de braços estendidos para me abarcar.
– Eh, ladrão! Larga a carga!
Apre! senti-lhe o calor do bafo. Mas agachei-me num repente e livrei-me da pesada manápula que me ia agasnatar. E como não andava a descuido nesta labuta de candongueiro, meti lesto a mão ao bolso da jaqueta e apertei uma mancheia de pimento queimoso, desse colorau vermelhão, que se traz de Espanha. «Espera que já tomas!» e, ao erguer-me para lhe escapulir, mandei o pó à cara do sacana.
– Ai, que me cegaram! – berrou aflito.
E dei forte arrancada para me ver livre de outro fiscal, que me vinha no encalço.
– Fugir, que vêm fuscos! – gritei a avisar a malta.
A carreira desfez-se num repente e o grupo desbaratou-se como bando de perdizes pelo meio do mato. Da minha parte, tratava de me ver livre do guarda que me perseguia. Queria safar a pele e o fardo, para não dar a noite por perdida. Mas o outro estava mais fresco e, livrando-se do capote, depressa me alcançou, mesmo quando estava chegado ao fim da clareira e me ia meter num giestal. Enganchou a mão ao saco de lona e toca de puxar. Bem me custou, mas tive que dizer adeus ao carrego. Deixei sair dos ombros as guitas que seguravam o fardo e, gatinhando, embrenhei-me por entre as giestas, deixando o guarda agarrado ao saco de minério.
Extenuado, deixei-me depois ficar de borco, a arfar e de orelha fita, atento às vozes que os fuscos trocavam entre si. Nenhum dos meus companheiros fora arrestado mas, pelo que escutava, deixaram cargas no terreno. Retomando a ousadia, resolvi contornar o local do encontro e ir mirar da outra banda o que os fiscais tramavam. Chegado ao lado oposto, arrumei-me a uma moita, dali seguindo com o olhar o movimento dos guardas. O luar só me deixava notar um dos homens, à distância de uma barrocada, que se sentara ao redor de meia dúzia de fardos amontoados. Depressa conjecturei que o outro, no certo o dos olhos apimentados, fora ao posto buscar reforços para o transporte da mercadoria apreendida. O fusco parecia nervoso e ora reparava no monte de sacos, ora espraiava o olhar pelo giestal para onde se escapulira a malta.
Hesitei, mas decidi-me tentar à sorte. Agarrei um rebolo, ergui-me, balancei o braço e enviei-o pelo ar com força bem puxada. A pedra salvou a planura e foi cair, em grande espalhafato, nas giestas da outra banda. O guarda levantou-se e olhou atento, puxando da espingarda, que aperrou. Nova barrocada, e outra vez se perturbou o silêncio da noite. O homem, desesperado, decidiu-se a ir de encontro ao perigo. Saltei então do meu refúgio e, em passo rápido e cauteloso fui-me aprochegando da mercadoria enquanto ele se afastava em passo lento e hesitante. Junto dos sacos ripei de dois, que segurei pelos nagalhos pendentes, e ala, fogo nos pés. O guarda percebeu o truque e berrou desalmado:
– Alto lá ladrão, que te arrumo um tiro!
Pois que fogueasse. Eu parar? Nunca!
Soaram dois estampidos. Alcancei a malhada e embrenhei-me à desfilada por entre os carvalhos. Só parei ao fundo de um vale, por trás de um muro. Apalpei-me – estava vivo!
Já amanhecia quando cheguei ao Seixo Branco, ponto de reunião marcado para o caso de maus encontros. Lá estavam todos os contrabandistas.
– Pensávamos que te tinham deitado a manápula – disse-me o Chico Rófia.
– Qual quê? Estive a apanhar cargas, rapazes! – disse-lhes ufano.
Foi noite cansativa, mas em que ganhei o dobro do meu soldo: quarenta escudos de recompensa, por duas cargas, a minha, e outra de desagravo.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
De madrugada, ainda lusco-fusco, ergui-me da enxerga e fui à corte desamarrar o macho, que depois aparelhei e carreguei com uma boa carga de fazenda.
 Seguia agora pela tapada da Relha, com a besta de rédea. O animal andava com dificuldade, batendo os cascos no códão formado durante a noite. As encostas em redor branqueavam do sincilro pousado nas giestas e carvalhos. Era Janeiro, tempo em que o vento cieiro e as geadas faziam tremelicar toda a Beira. Mas eu era homem do frio. A vida de contrabandista e azemel não permitia sentar-me por muito tempo à roda do borralho. A azáfama era muita e não havia na redondeza feira ou mercado a que faltasse.
Seguia agora pela tapada da Relha, com a besta de rédea. O animal andava com dificuldade, batendo os cascos no códão formado durante a noite. As encostas em redor branqueavam do sincilro pousado nas giestas e carvalhos. Era Janeiro, tempo em que o vento cieiro e as geadas faziam tremelicar toda a Beira. Mas eu era homem do frio. A vida de contrabandista e azemel não permitia sentar-me por muito tempo à roda do borralho. A azáfama era muita e não havia na redondeza feira ou mercado a que faltasse.
Meti pelo vale Carvalhão, em direituras de Vilar Maior. Quando entrei na antiga vila, já o Sol raiava derretendo a geada, pondo os campos a fumegar. Povoado adentro enfiei pela quelha onde tinha poiso o Tonho Varão, velho companheiro de ofício e de largas caminhadas, que me esperava para seguirmos de carava para o mercado da Malhada. À entrada do curral prendi a besta à argola de ferro chumbada na parede, abri a portaleira e ia a dar passo para dentro quando, para meu espanto, me caiu nos braços a mulher do Tonho, esbaforida e a berrar que nem uma vaca acabada de parir.
– Acode-me! Acode-me, ó Zé, c’o mê home me quer derrear!
Sem saber o que fazer com aquela massa de gordura agarrada ao cachaço, surgiu-me o marido com a cilha da burra na mão.
– Anda, meu grande estojo, que te faço a pele em tiras!
Avancei então dois passos, colocando o monte de banha atrás de mim, disposto a enfrentar a fera.
– Alto lá, Tonho! Se sou teu amigo, bem te aconselho: ao borracho mete-se-lhe a mão por baixo. Tens aqui um pedaço de mulher e passas o tempo a sová-la? Fêmea tão bela e valente não há outra na Raia!
– O quê? É uma desalmada! Só quer ressonar… O sol de alevanto e ela encafuada no ninho, tendo a vianda dos bácoros pra fazer. Anda cá, colandrona, que te faço as contas!
– Deixa, homem, se bem dorme melhor se conserva. Lembra-te que esta mulhar já te pariu três ganhões, que bem alimentou e educou. Deixa-os crescer e verás que valentões se vão fazer. Pensa lá Tonho, na sorte que Deus te deu…
Transtornado pelo que ouvia, o homem ficou quedo, dando mostras de não saber que fazer. E eu continuei a atacar-lhe, agora de falinhas mansas.
– Toma fé na tua vida. Isto é mulher de bom ventre, não a desmanches. Já apanhou porrada cabonde, e ainda te vai dar à luz mais uns catraios. E tu bem os precisas, para teu descanso!
De pouco em pouco, o Tonho Varão foi-se ficando.
Consegui convencê-lo de que aquele pedaço de unto era a melhor fêmea de toda a Raia.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Ainda era rapazote quando, numa noite de lua nova, vinha de Espanha nas lidas da candonga na carava do meu machito, azangado com uma carga de fazenda. Conhecedor dos atalhos, afoitara-me a usar o macho no carrego da mercancia, ciente de que carabineiros e guardas não dariam fé da passagem.
 Avezado a menear no breu nocturno, lá ia entre chavascais, por carreiros esconsos onde o mais afinado não se afoitaria. Mas a um passo, o raio do macho assustou-se e deu pulo para a banda, caindo numa barroca.
Avezado a menear no breu nocturno, lá ia entre chavascais, por carreiros esconsos onde o mais afinado não se afoitaria. Mas a um passo, o raio do macho assustou-se e deu pulo para a banda, caindo numa barroca.
Olhei ao deslado e nada vi nem ouvi que justificasse o sobacão do animal, que me arranjara contratempo. Bem lhe puxei pela prisão, a ver se o ajudava a sair do barranco, mas a coisa estava jossa.
Magicava em ir pedir uma demão ao povo mais próximo, quando suou uma voz forte, vinda do negrume:
– Tem-te quedo, ladrão!… Larga a carga!
Lancei o olhar e reparei nuns botões a luzir. Ia agarrar a cachaporra que sempre me acompanha, quando me seguraram o braço…
– Fica sossegado Tosca, que desta não escapas.
Era o Amadeu Cuco, cabo da Guarda Fiscal, que ainda há dias me fizera largar o carrego, mas que nunca me puzera as mãos em riba. Desta levara a melhor, o alma de seiscentos, pois ali me tinha rodeado, da companhia de mais duas praças.
– Agora filei-te! Um dia tinha de suceder… Estás tramado!
Ainda cuidei em dar salto para os silvados, onde sabia que me não apanhariam, mas deu-me dó deitar à margem o meu pobre machinho, companheiro de tantas labutas, e apus-me, com a ajuda dos fuscos, à tarefa de o retirar do chavascal. Aliviámo-lo da carga, atámos uma corda ao rabicho da albarda e, puxando todos à mesma vez, arrupámos o animal da barroca.
Já com a carga refeita no lombo da besta, levaram-me a caminho das Batocas, direitinho ao posto.
Pelo caminho pus-me a malucar em como sair daquela embrulhada. E não me atarantei. Sendo cristão juramentado, sabia que Deus escreve direito por linhas ínvias, e acreditei que me haveria de escapulir.
Já amanhecia quando avistámos o casario das Batocas, ocasião ugada para desengaçar o meu plano. Cheguei-me à roda do Cuco e dei-lhe falas mansas:
– É que está um códão! Isto só aquenta com um gorcho de aguardente.
– Deixa-te ir caludo. Anda ligeiro que já aquentas.
O lafaruz não queria dar parte de fraco.
– Pinga da boa tem-na lá a Maria Fachana. Aquilo deixa um home a botar fumo… Damos lá uma saltada que sou eu quem paga. Não é agora por mor de dois tostões que vamos deixar de tomar o mata-bicho. E vós bem o mereceis, que sois gente de bem e cumpridores do dever.
Os outros fuscos, que gostavam da pinga, davam tento ao que eu dizia.
– Ora, e não hemos de lá ir, nosso cabo? Sempre se aquenta o corpo! – disse um deles ao comandante.
O cabo, que também era amante da pinga, concordou e, a meio do povo, entrámos na taberna.
– Vamos lá, rapaziada! Um dia não são dias, e o de hoje é de beber.
Ali se prantaram a deborcar toda a copa de aguardente que apanhavam entre os dedos. Pela minha parte, ia-lhes dando paleio e mantendo a copita cheia, fingindo que bebia. Demos ao lambarão sobre o tempo, a lavoura e a vida difícil das autoridades nestas terrinhas de Cristo, tão a deslado do mundo. E a ti Maria sempre de cabaça pronta, atestando os copos aos meus captores, parecendo adivinhar que os queria bem encharcados de aguardente.
Quando os apanhei já bem toldados e a cantar à desgarrada, escancarei as portas e ala, botei o pé para fora da venda. Ainda tive tempo de desatar o macho, e dar-lhe uma palmada na traseira, sabedor de que me levaria a carga ao curral. E larguei a correr para o lado contrário ao que tomara o macho, galgando que nem uma lebre levantada do poisadoiro.
O cabo Amadeu, ao dar fé no imbróglio, veio à rua e ainda deu uma carreira no meu encalço, berrando para uns homens que vinham ao cimo do povo:
– Agarrem-no! Agarrem-no! C’ainda tem de pagar mais umas copas.
Era o agarras! Estava livre e salvara também a montada e a carga daqueles rapinantes.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
José Tosca, arraiano façanhudo, homem dos quatro costados, senhor de si e dos seus, deu brado por aquela coroa de povos de Riba-Côa e Beira-Serra.
 Guedelha solta, cara bem talhada, pele tisnada pela resca e olhar de ratão, ei-lo de meanha estatura e genica que bonda para ninguém lhe pôr a mão em riba com cuidados em domá-lo. A ventura está-lhe no sangue, corre-lhe na mona o malucar constante em galgar o mundo à cata de fortuna. Preado contrabandista, feirão errante, lavrador das horas mortas, futriqueiro quanto baste para burlar e zombar do mais esperto dos comparsas. Um basófias de nomeada que conhece os caminhos chegados a Castela de lés a lés e se gaba à boca cheia de seus feitos e aventuras nas terras da raia. Ciente de responsabilidades, justo quanto basta, temente a Deus e ao Dianho, também é judeu no trato com quem o empulhe. Duas lérias mal mandadas, à maneira de chalaça, e logo trabalha a naifa ou a cacheira para domar e castigar o tratante.
Guedelha solta, cara bem talhada, pele tisnada pela resca e olhar de ratão, ei-lo de meanha estatura e genica que bonda para ninguém lhe pôr a mão em riba com cuidados em domá-lo. A ventura está-lhe no sangue, corre-lhe na mona o malucar constante em galgar o mundo à cata de fortuna. Preado contrabandista, feirão errante, lavrador das horas mortas, futriqueiro quanto baste para burlar e zombar do mais esperto dos comparsas. Um basófias de nomeada que conhece os caminhos chegados a Castela de lés a lés e se gaba à boca cheia de seus feitos e aventuras nas terras da raia. Ciente de responsabilidades, justo quanto basta, temente a Deus e ao Dianho, também é judeu no trato com quem o empulhe. Duas lérias mal mandadas, à maneira de chalaça, e logo trabalha a naifa ou a cacheira para domar e castigar o tratante.
Conta as suas estórias a quem passa e lhe dá um migalho de atenção, sentado num velho mocho, frente ao seu casebre, à gostosa soalheira. Salta à vista o ar farfante de quem se considera um herói da bárbara e agreste terra beirã. Senhor de manhas e artimanhas, pôs vulto em terras de Riba-Côa e fez-se notar, junto com outros tisudos arrraianos, no maralhal de gentalha anónima de que as rudes aldeias abarrotavam. Fala das façanhas como se as vivesse no momento e sente em si o orgulho das arteirices que armava, com o ar destemido de quem sabe que foi senhor do seu mundo.
Nos dias que correm, os povoados raianos estão desertos de gente. Restam apenas, em muitos, os vestígios de outras eras, o pardo casario de granito ou xisto, em ruínas, quelhas de piso maldanamoso, esbarrondado pelo farto correr das águas. Um desmazêlo. Já não soa o chirriar do antigo carro de madeira, o trautear das modas ao balanço de lutas e labutas, tão-pouco o ralhar dos feros lavradores tornando as juntas, nem o berregar desenfreado da canalha a jogar ao eixo e à cabra cega.
José Tosca, com suas facécias, faz renascer do borralho mortiço, ainda que por fugazes instantes, os tempos idos das aldeias perdidas em silêncios confrangedores, implorando vida e ardor. Ouvir estas lérias é recordar parte desse pequeno mundo venturoso e simples que a modernidade quase derriscou e que ainda não substituiu por mais feliz vivência.
Paulo Leitão Batista, «Aventuras de um velho contrabandista»
leitaobatista@gmail.com
Inicia-se agora no Capeia Arraiana a publicação de uma série de episódios, tipo folhetim, que constituem as «Aventuras de um velho contrabandista». Este primeiro acometimento afigura-se uma espécie de prefácio às estórias que se irão seguir semanalmente e que demonstram o espírito venturoso do arraiano José Tosca.
plb

 Clique para ampliar
Clique para ampliar Clique para visitar a Caracol Real
Clique para visitar a Caracol Real Clique para visitar Vinhos de Belmonte
Clique para visitar Vinhos de Belmonte Clique para ampliar
Clique para ampliar



 Clique para ver o blogue oficial
Clique para ver o blogue oficial


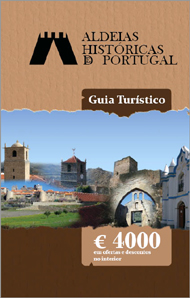


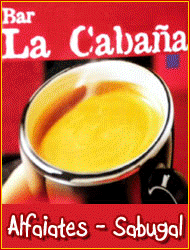
 Clique para ver a página web
Clique para ver a página web
 Clique para visitar
Clique para visitar Clique aqui
Clique aqui Clique para visitar
Clique para visitar Clique para visitar
Clique para visitar
 Clique para ampliar
Clique para ampliar







 Clicar na imagem para aceder
Clicar na imagem para aceder Clicar na imagem para ver
Clicar na imagem para ver Clique para ver o calendário
Clique para ver o calendário
Comentários recentes