You are currently browsing the category archive for the ‘Arroz com Todos’ category.
Há assuntos que se explicam melhor por fábula. Aqui vai portanto a minha opinião ao artigo do António Marques, sobre a desertificação do Sabugal.

 Havia numa terra um Gigante que adorava pessoas.
Havia numa terra um Gigante que adorava pessoas.
Não exactamente como é comum gostar-se de pessoas.
O Gigante adorava comer pessoas.
Tudo começou num dia, há muito tempo, por acaso, quando ele estava deitado à beira de um caminho onde passava um lavrador.
Sem saber o que estava a fazer, tentou comer-lhe um pé, só para se divertir do pobre homem.
Depois, apreciando o sabor, tentou comer uma mão, e logo a seguir um braço, e quando deu conta já tinha comido uma pessoa inteira.
Tomando-lhe o gosto, passou a frequentar os lugares habitados, para comer pessoas.
E ao fim de uns dias já engolia um adulto inteiro de uma só vez, à velocidade de um raio.
Mas esta é a parte melhor: Quanto mais gente comia, mais apetite tinha.
E em vez de comer uma pessoa inteira de cada vez, já devorava às dezenas e centenas ao mesmo tempo, porque não era esquisito e o seu apetite era cada vez mais insaciável.
E foi aí que as coisas começaram a dar para o torto:
As pessoas começaram a escassear, porque o gigante andava a comer pessoas a mais e muito depressa.
E aqui vem a parte pior: O Gigante tinha cada vez menos gente para comer.
Foi ter com ele uma deputação de pessoas corajosas e disseram-lhe que não podia comer mais gente, porque assim desertificava-se a terra.
O Gigante deixou-se ficar sentado a pensar durante um tempo na verdade daquele raciocínio. Mas o seu apetite era insaciável e habituara-se à carne humana. O que é que ele podia fazer?
Então, quase sem pensar, arrebanhou do chão a delegação e comeu-a.
E viu que era saborosa!
E continuou a matança…
O Gigante chamava-se Fome.
A terra… Esquecimento!
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Embora perceba o seu contexto, que é o da actual crise económica da Europa e de Portugal, o artigo do meu querido amigo António Emídio sobre o «Egoísmo Alemão» é redutor e injusto para a cultura e povo alemães, porque os julga por uma época histórica e por um único filósofo.

 O que faz, equivaleria a julgar o povo e cultura portuguesas pela Inquisição, pelo regime do Estado Novo, ou pela crise económica e política actual!
O que faz, equivaleria a julgar o povo e cultura portuguesas pela Inquisição, pelo regime do Estado Novo, ou pela crise económica e política actual!
As contribuições da Alemanha para o património cultural da humanidade são evidentes, numerosas e conhecidas, a ponto de ser conhecida pela terra dos poetas e pensadores (das Land der Dichter und Denker), e não é a actual situação da Europa que apaga esta verdade!
A Alemanha foi o berço de vultos importantíssimos na história da música no passado (Sebastian Bach, Christian Bach, Carl Weber, Felix Mendelssohn, Beethoven, Wagner, Händel, Brahms, Orff, Strauss, Schumann, Offenbach, ou que foram de cultura e língua alemã como Mozart, Haydn, Alban Berg, Bruckner, Mahler, Franz Liszt, Schönberg, Dietrich Buxtehude, Schubert, etc.) e continua no presente a ter uma enorme cultura musical (destaque para o Tokio Hotel, Scorpions, Alphaville, Böhse Onkelz, Boney M., Rammstein, Die Ärzte, Die Toten Hosen, Lacrimosa, Accept, Kreator, Destruction, Grave Digger, Sodom, Gamma Ray, Running Wild, B. Guardian, Avantasia, Helloween,, Edguy, Megaherz, Tankard, Desaster, Inquisitor, Protector, Cinema Bizarre. etc); nas artes, de movimentos e nomes bem conhecidos (No Renascimento, Albrecht Dürer foi um dos nomes maiores. Max Ernst, no surrealismo; Franz Marc, na arte conceptual; Joseph Beuys, Wolf Vostell, Bazon Brock, no neo-expressionismo Georg Baselitz); no pensamento, dos mais importantes filósofos modernos (Copérnico, Kant, Hegel, Marx, Nietzshe, Schopenhauer) que influenciam toda a filosofia actual, inclusive a francesa, tida como a Terra das Luzes, mas que não teve um único filósofo original; na religião, de Lutero, o pai da reforma protestante; na teologia uma escola sempre avançada no tempo (com nomes como Friedrich Schleirmacher, Davisd Staruss, Albert Ritschl, Ennst Troeltsch, Adolf von Harnack, Herman Samuel Reimarus, Gerhard Maier, Ernst troeltsch, Hans Kung, Erich Fromm, Ratzinger) e da qual nasceu o recente e importante manifesto reformista «Igreja 2011, uma viragem necessária», subscrita por mais de duzentos catedráticos de teologia alemães, austríacos e suiços; na literatura, alguns dos mais importantes poetas, romancistas e dramaturgos mundiais (Goethe, Schiller, Novalis, Holderlin, Thomas Mann, Heinrich Mann, Klaus Mann, Hermann Hesse, Günter Grass, Gerhart Hauptmann, Georg Büchner, Frank Wedekind e mais recentemente Ernst Toller, Peter Weiss e Bertolt Brecht, etc).
Na ciência e tecnologia há também conhecidos alemães (na ciência, Albert Einstein e Max Planck, Werner Heisenberg, Max Born, Hermann von Helmholtz, Joseph von Fraunhofer, Daniel Gabriel Fahrenheit. Wilhelm Conrad Röntgen, na técnica Wernher von Braun, Heinrich Rudolf Hertz, Alexander von Humboldt; na matemática Carl Friedrich Gauss, David Hilbert, Bernhard Riemann, Gottfried Leibniz,Carl Gustav Jakob Jacobi, Hermann Grassmann, Karl Weierstrass, Richard Dedekind, Felix Klein e Hermann Weyl; na invenção Johannes Gutenberg, Hans Geiger,Konrad Zuse; engenheiros e industriais como Ferdinand von Zeppelin, Otto Lilienthal, Gottlieb Daimler, Rudolf Diesel, Hugo Junkers, Hans von Ohain, Nikolaus Otto, Robert Bosch, Wilhelm Maybach e Karl Benz) e as principais pesquisas na Europa do século passado tiveram origem na Alemanha, laureada com cerca 1/3 dos prémios Nobel (química e física) entre 1901 e 1933, e cujos cérebros, com a diáspora da segunda guerra, estiverem na origem do desenvolvimento cientifico dos EUA.
E se tal não bastasse, na Alemanha existem cerca de 300 teatros, alguns de nome mundial, como os Deutsches Theater, Schillertheater e Opernplatz em Berlim, Teatro Nacional, em Munique, Theater im Hafen, em Hamburgo, 130 orquestras profissionais, como a Orquestra Sinfónica Alemã, em Berlim, Orquestra Sinfónica de Hamburgo, e pelo menos onze orquestras estatais, 630 museus de arte com acervos de importância internacional, como o Ludowig, de Colónia, ou de Arte Contemporânea ou de História da Alemanha, em Berlim, cerca de 370 estabelecimentos de ensino superior de renome internacional, como a secular universidade de Heidelberg, a Universidade Humboldt de Berlim, Técnica de Dresden, Colónia, Bremen, Tübingen. Técnica de Munique, Ludwig Maximilian de Munique, Livre de Berlim, Escola Superior Técnica (RWTH) de Aachen e de Konstanz.
O «antigermanismo», é uma questão de preconceito e deve-se à ignorância da importante e brilhante cultura Alemã, sobretudo literária e filosófica, no concerto dos países civilizados e cultos, que é muito superior à cultura francesa; uma cultura brilhante, assente nas suas universidades e construída pelos seus mais notáveis filósofos e poetas da Europa, que foram beber, como Goethe, Hoderlin, Schopenhauer e Heidegger, aos Gregos e à Revelação Bíblica, das águas da melhor inspiração intelectual e espiritual.
É este intimo diálogo entre a poesia e a filosofia, em que muitos poetas, como Holderlin, também foram filósofos, e muitos filósofos, como Heidegger, que também foram poetas, faz a particularidade do «Génio Alemão». Um diálogo que até é semelhante ao da «tradição portuguesa» – cujo expoente máximo foi o Infante D. Henrique, Camões, Vieira, no passado; e mais recentemente Sampaio Bruno, Pessoa e Pascoais – porque os Alemães, como alguém disse, também de algum modo procuraram essa «Índia Nova de que são feitos os sonhos», no dizer admirável de Fernando Pessoa, Índia que não está no mapa, e que os mitólogos situam eruditamente na perdida Atlântida, de que nós, nas Ilhas e na Península, somos ainda o remanescente.
Heidegger, um dos últimos filósofos Alemães de alta qualidade, fazendo sua toda a compreensão da idealidade romântica e grega, interpreta Holderling, um poeta que, quase à semelhança do nosso Pascoais, enlouqueceu por querer encontrar o Céu.
No livro que lhe dedicou, agudo e penetrante é o estudo que Heidegger faz do poeta, esse poeta louco de Dionísio, como em parte foi também o nosso Pascoais. Tal como Nietzsche, enlouqueceu pelo deus que, na mítica grega, corresponde a Cristo, porque é o Deus sacrificado.
Esta correlação e reciprocidade entre Dionísio e Cristo é fundamental e importantíssima para a nova cultura e influenciou toda a Europa Ocidental, inclusive Portugal.
Quem não leu entre nós a obra de Pascoais, nomeadamente os seus livros «S. Paulo» e «Jesus e Pã», ou Sampaio Bruno e o seu «Brasil Mental» e «A Ideia de Deus», para perceber que esta procura da consciência interior tão presente na poesia e pensamento alemão, esta dualidade entre a matéria e o espírito, esta correlação entre Dionísio e Cristo, influenciou a cultura europeia?
Foi precisamente a imitação deste diálogo entre a poesia e a filosofia, de influência alemã, conscientemente feito pelo Nosso Sampaio Bruno e Teixeira de Pascoais, e de que Leonardo Coimbra faria a síntese, que deram origem ao Existencialismo Português, e permitiram um florescimento da cultura portuguesa na transição do século XIX para o XX em torno do movimento da Renascença e da revista Águia, que influenciaria muitos dos movimentos culturais e artístico do nosso país do século XX, inclusive, por remota filiação o pensamento, entre outros, dos nossos Álvaro Ribeiro, Júlio Marinho, Eduardo Lourenço e Pinharanda Gomes.
Resumindo e concluindo:
O povo Alemão, é como todos os povos e indivíduos: tem fases boas e menos boas de existência; e não é uma fase ou aspecto menos bom da mesma, que, generalizando, nos dá o direito de a distratarmos no seu todo!
O povo alemão, é como qualquer povo. Nem melhor, nem pior!
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
A Câmara do Sabugal vai requalificar a Praça da República, arrancando os cotos das árvores que cortou em redor do chafariz, plantando de seguida, ao que parece, uns medronheiros.

 Assim como assim, a República já anda de «penas para o ar»…
Assim como assim, a República já anda de «penas para o ar»…
O crime de cortar as árvores, já não pode a Câmara repará-lo. Como dizia o Manuel António Pina, no prefácio de um livro sobre o mundo das árvores, elas «são seres silenciosos que, a nosso lado, partilha quotidianamente a mesma única vida, a sua e a nossa vida. Mas damos por elas, as árvores, tão comum e familiar é a sua antiquíssima presença perto de nós, e tão anónima. A maior parte das vezes pouco mais somos capazes de dizer do que “árvores”, porque também as nossas palavras se foram, pouco a pouco, tornando silenciosas. E, no entanto, cada árvore, como cada um de nós, é um ser absoluto e irrepetível, idêntico e apenas mutuamente a si mesmo, uma vida única com uma história única, um passado para sempre atado, de forma única, ao nosso próprio passado».
Mas pode muito bem, se quiser emendar a mão, minimizando o estrago, da forma como passo a explicar:
Manuel António Pina teve uma ligação afectiva com aquele largo, aquelas árvores e aquele chafariz que se situa bem defronte da casa onde nasceu, como podem testemunhar algumas pessoas que com ele privaram na intimidade e ouviram histórias das suas brincadeiras naquele largo.
Numa recente entrevista o Manuel A. Pina manifestou a sua gratidão por ter sido lembrado e agraciado pela câmara da sua terra natal, terra essa a quem o ligava um profundo afecto, testemunhado nessa mesma entrevista.
Na TSF, por ocasião da morte do poeta, Francisco José Viegas, Secretário de Estado da Cultura e amigo do poeta, que sabia da paixão daquele por gatos e árvores, sugeriu que em nome do poeta maior, que desapareceu, devia ser plantada uma árvore.
A árvore que mais associada está ao poeta, por estar no seu quintal, é a macieira, conforme refere o poeta num poema do seu livro «Como se desenha uma casa»:
Anoiteceu, apagamos a luz e, depois,
como uma foto que se guarda na carteira,
iluminam-se no quintal as flores da macieira
e, no papel de parede, agitam-se as recordações.
Porque não dá a câmara ao Largo o nome do poeta e planta em redor da fonte umas macieiras?
É coisa simples de fazer, homenageava-se um homem bom e excelente poeta da terra, e ouro sobre azul, apagava-se a burrice feita!
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Acho interessantes as propostas do artigo de António Pissarra, no sentido de «potenciar economicamente» a Capeia Arraiana.

 Tudo o que sejam propostas e ideias, são sempre oportunidade de reflexão, discussão e progresso. Não sendo inimigo do progresso, contudo, vejo algumas delas com algumas reservas! Eu diria mesmo, com muitas reservas! E explico muito resumidamente porquê:
Tudo o que sejam propostas e ideias, são sempre oportunidade de reflexão, discussão e progresso. Não sendo inimigo do progresso, contudo, vejo algumas delas com algumas reservas! Eu diria mesmo, com muitas reservas! E explico muito resumidamente porquê:
A Capeia não é um produto do portefólio de uma empresa oferecido a um determinado mercado, mas um produto cultural, manifestação, entre outras, de uma alma, de uma sensibilidade excessiva que a paisagem extrema e particular de Riba-Côa produziu num povo.
Peço que leiam aquele artigo de Alexandre S. Martins, no último Cinco Quinas, a propósito dos encerro em Aldeia Velha, que é um bom exemplo desta alma excessiva. Neste texto, de genuíno sabor popular, vê-se, pelo como o autor fala, pensa, sente, age, como ser ribacudano é uma arte. Da alma ribacudana, vemos sem dificuldade neste texto as seguintes qualidades: Sinceridade, bravura, generosidade, orgulho!
O homem ribacudano tem um carácter próprio, um conjunto de qualidades, conservadas e transmitidas pela herança e tradição, de que a Capeia é uma das várias manifestações.
É por intuir nas Capeias este alto sentido transcendental, de manifestação da sua alma, que o povo a ela adere de forma tão espontânea e entusiástica. Não é outro o motivo!
Adivinho o sorriso de quem lida com as coisas da ciência, troçando desta minha fé «ingénua» no espírito e na alma dos povos.
Aqui remeto-os para aquele belo poema de Leal Freire, Prece (aqui), sobre a terra de Riba-Côa, como a «terra mãe», onde a alma do poeta, que é «um balão voador que pelo espaço deambula», depois da sua viagem, quer ser amortalhada. As almas pertencem a uma paisagem, que é o seu pai e sua mãe, como defendia Pascoais. Os poetas, esses seres divinos que pressentem as almas nas sombras, como Leal Freire, sabem-no:
A alma de Leal Freire…
«Começa em Ciudad Rodrigo
Acaba em Vilar Maior
[…]
Levita o ar a Bismula
Desce em Aldeia da Ponte
[…]
Ruelas de Almedilha
Ou esquinas de Valverde
Picos rupestres dos Foios
Cercanias de Arganhã».
Como dizia Pascoais, «se a montanha é a terra firme que pisamos, a nuvem intangível e aérea não será a água que a fecunda?». A matéria sem o espírito não é nada!
O primeiro período da infância dos povos foi o poético, como o do ciclo da natureza é a Primavera. E digam os sábios o que quiserem, como referia Pascoais também, a poesia é muito mais antiga e muito mais bela que a ciência. Logo muito mais verdadeira.
Se Leal Freire diz que há uma «Alma Ribacudana» própria de uma «Paisagem Ribacudana», quem somos nós para o negarmos?
Oxalá a gente de Riba-Côa e quem está á frente destas iniciativas pensem nisto. Muitas vezes é necessário intercalar o espirito no deve e haver, pôr um poema no lugar das regras de marketing.
A alma é a compensação da matéria. E é precisamente isto que me preocupa: É que tornando a Capeia num mero produto comercial, ponham no lugar do Ser, de que ela é manifestação, o Ter!
Adulterando o que há em nós de genuíno, misturando-o ou copiando-o com o que nos é alheio, entre outras coisas com um festival de Rock, como entre outras coisas, nos é sugerido, destruam o nosso carácter…
Troquem a nossa figura por uma máscara!
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Saíu no Cinco Quinas mais um artigo sobre a situação na empresa municipal Sabugal Mais. Agora sobre o novo enquadramento jurídico.
 Trata-se de um assunto, que por recorrente, já aborrece. Tenho pena de não ter disposição nem tempo para o ler com atenção de alto abaixo, pois outros assuntos, de mais valor para mim, me solicitam.
Trata-se de um assunto, que por recorrente, já aborrece. Tenho pena de não ter disposição nem tempo para o ler com atenção de alto abaixo, pois outros assuntos, de mais valor para mim, me solicitam.
Não tenho tempo, nem o meu espirito se contenta com essa bisbilhotice intelectual que trata de saber o que os outros dizem.
Mas dá-se o caso de, fazendo uma leitura cruzada do mesmo, a páginas tantas, lá para o fim, li que a nova lei que veio regular as empresas municipais é retroactiva e que ofende direitos já adquiridos. E protestava o distinto autor lutar contra esta retroactividade da dita lei.
Ora, com o devido respeito, a nova lei não é retroactiva e pode aplicar-se perfeitamente às situações passadas, como é o caso do estatuto jurídico da Sabugal Mais.
Aqui, meus amigos, podem fiar-se na minha atitude de ignorante ou na do sábio autor do referido artigo. Eu na minha pobre ignorância, apenas posso afirmar que o assunto é tão complexo que há várias doutrinas jurídicas sobre ele. E sendo um simples e pobre pardal pulando de galho em galho da lei, apelo aos pios eruditos daqueles mochos da ciência, que são os grandes mestres da doutrina jurídica, para que acreditem que não há qualquer retroactividade da nova lei e, como tal, ela não é inconstitucional. Vamos pois à «vaca fria»:
A irretroactividade da lei tem a ver com o conflito de aplicações de leis no tempo em casos em que uma lei nova sucede a uma lei antiga. Não se trata em a lei nova não poder dispor para situações passadas, mas sim em ela ter que salvaguardar direitos adquiridos.
Para simplificar e esclarecer já, uma lei nova pode aplicar-se a situações passadas sem problema, desde que não fira direitos adquiridos, actos jurídicos perfeitos, ou casos julgados.
Mas até aqui chegar a esta conclusão, não é fácil:
A doutrina clássica, que se denomina de direitos adquiridos, considerava três situações distintas, ante uma lei nova:
Faculdade: poder que a lei atribui a alguém e ainda não foi exercido.
Expectativa: As pessoas poderão vir a possuir um direito, se a lei não for revogada.
Direito Adquirido: É o direito que tem origem em facto apto a produzi-lo em vista da lei em vigor.
Há o respeito ao direito adquirido, isto é, o entendimento de que a lei pode ser aplicada a qualquer situação jurídica, inclusive anterior à sua vigência, desde que não colida com aquele.
Uma lei nova não pode prejudicar direitos já consagrados, sob pena de prejudicar a segurança jurídica e as justas expectativas do comércio jurídico. Se o faz, é retroactiva; não o fazendo, não é.
Há contudo quem substitua as ideias de expectativa e de direito adquirido pela de situação jurídica abstrata e situação jurídica concreta e funda-se na existência de um facto ou ato jurídico.
E neste caso, saber se uma norma, sob este ponto de vista é retroactiva, é portanto um exercício casual e complexo de interpretação jurídica que pode implicar aturado estudo.
E para complicar ainda mais o assunto, há correntes de doutrina que distinguem, para se avaliar da retroactividade ou não de uma lei, entre leis de direito público e de direito privado; se for de direito público a lei pode ser retroactiva; sendo de direito privado, nunca pode.
Para outros, não importa esta distinção, porque a lei, quer seja pública ou privada, regula na mesma relações jurídicas; e neste caso a lei nunca pode ser retroactiva. Acresce ainda que é dificílimo discriminar nitidamente aquilo que é de ordem pública e aquilo que é de ordem privada, tanto mais como reza o aforismo de BACON – jus privatum sub tutela juris publici latet. O interesse público e o interesse privado entrelaçam-se de tal forma, que muitas vezes não é possível separá-los.
E para complicar mais ainda, há ainda quem distinga, para saber se a retroactividade é ou não admissível, entre factos pendentes e factos pretéritos, isto é, entre os factos exauridos inteiramente, sob a vigência da lei antiga (pretéritos), e aqueles surgidos no regime da lei anterior e prosseguem até serem atingidos pela lei nova (pendentes). No primeiro caso, não há que falar em conflito, porque se trata de realidade consumada, indiferente à nova lei. Também não há conflito, quando os factos surgem e se consumem inteiramente, sob a égide da lei nova. Quando os factos constituídos na vigência da lei anterior continuam a produzir-se sob a lei nova, é que surge um problema de conflito e problema de retroactividade, porque admitindo que tais efeitos ficam submetidos à disciplina da lei nova, esta tem efeito retroativo.
Depois, ainda há quem partindo desta doutrina, salvo erro originária da escola de Lyon, vá ainda mais ao pormenor, optando por duas subescolas; a objectiva ou a subjectiva: Para a primeira delas, também chamada teoria dos factos passados, seria retroactiva toda lei que violasse direitos já constituídos (adquiridos); para a segunda, também chamada a teoria dos factos pendentes, seria retroactiva toda lei que se aplicasse a factos passados antes de seu início de vigência. Para a primeira, a Lei nova deveria respeitar os direitos adquiridos, sob pena de retroatividade; para a Segunda, a lei nova não se aplicaria (sob pena de retroatividade) a factos passados e aos seus efeitos (só se aplicaria a factos futuros). A primeira protege a situação jurídica existente; a segunda os direitos adquiridos.
Por fim, como entre nós Baptista Machado, há quem destaca que o desenvolvimento da doutrina sobre a aplicação na lei no tempo, como é o da lei nova em relação à antiga, acaba por revelar especificidades do “estatuto contratual” em face do “estatuto legal”. Enquanto este tem pretensão de aplicação imediata, aqueloutro estaria, em princípio, submetido à lei vigente no momento de sua conclusão, a qual seria competente para o reger até à extinção da relação contratual. Mas isto vale apenas, quando muito, para os direitos adquiridos; não para o seu exercício.
É aqui que começa, a confusão de muitos leigos em direito, quando acusam certas leis de serem retroactivas.
MOREIRA ALVES lembra a peculiaridade no “estatuto contratual” ao enfatizar que nas situações estatutárias, como é o das pessoas colectivas, não há que falar em direito adquirido, porque elas podem ser alteradas ou extintas segundo o arbítrio de outrem, designadamente oficiosamente, obedecendo a critérios de ordem pública, ou de estatuto jurídico.
Mesmo as duas principais teorias sobre aplicação da lei no tempo – a teoria objectiava e subjectiva – afastam, de forma enfática, a possibilidade de subsistência de situação jurídica individual em face de uma alteração substancial do regime ou de um estatuto jurídico.
Assim sustentava também SAVIGNY, afirmando que as leis concernentes aos institutos jurídicos outorgam aos indivíduos apenas uma qualificação abstrata quanto ao exercício do direito e uma expectativa de direito quanto ao ser ou ao modo de ser do direito.
O notável jurisconsulto distinguia duas classes de leis: a primeira, concernente à aquisição de direito; a segunda, relativa à existência de direitos.
E passo a citar a sua lição a este propósito:
«A primeira, concernente à aquisição de direitos, estava submetida ao princípio da irretroatividade, ou seja, à manutenção dos direitos adquiridos. A segunda classe de normas, que agora serão tratadas, relaciona-se à existência de direitos, onde o princípio da irretroatividade não se aplica. As normas sobre a existência de d, que todo o estudantireitos são, primeiramente, aquelas relativas ao contraste entre a existência ou a não-existência de um instituto de direito: assim, as leis que extinguem completamente uma instituição e, ainda, aquelas que, sem suprimir completamente um instituto modificam essencialmente sua natureza, levam, desde então, no contraste, dois modos de existência diferentes. Dizemos que todas essas leis não poderiam estar submetidas ao princípio da manutenção dos direitos adquiridos (a irretroatividade), pois, se assim fosse, as leis mais importantes dessa espécie perderiam todo o sentido».
Deveriam ser, portanto, de imediata aplicação, as leis que abolissem a escravidão, redefinissem a propriedade privada, alterassem o estatuto da vida conjugal ou da situação dos filhos.
Esta orientação foi retomada e desenvolvida também por GABBA, segundo o qual somente existia direito adquirido em razão dos institutos jurídicos com referência às relações deles decorrentes, jamais, entretanto, relativamente aos próprios institutos.
Nesse sentido, assinala o emérito teórico, ipsis verbis:
«Como dissemos inicialmente, nós temos direitos patrimoniais privados em relação aos quais o legislador tem liberdade de editar novas disposições de aplicação imediata, independentemente de qualquer obstáculo decorrente do princípio do direito adquirido. Esses são: 1º) direitos assegurados aos entes privados, graças exclusivamente à lei, como seriam a propriedade literária e a propriedade industrial; 2º) direitos, que não são criados pelo legislador, e aqueles direitos que, desenvolvidos por efeito da liberdade natural do trabalho e do comércio, têm uma vinculação especial e direta com o interesse geral e estão sujeitos a limites, condições e formas estabelecidas pelo legislador, como, v.g., o direito de caça, de pesca, o direito de propriedade sobre florestas e minas e o direito de exigir o pagamento em uma outra espécie de moeda. Não há dúvida de que, como já tivemos oportunidade de advertir (p. 48-50), a lei nova sobre propriedade literária e industrial aplica-se não só aos produtos literários e às invenções anteriormente descobertas, como àquelas outras desenvolvidas após a promulgação da lei; e assim aplica-se imediatamente toda lei nova sobre caça, pesca, propriedade florestal ou sobre o sistema monetário».
Em concordância, ROUBIER, distingue, em relação às leis supressivas ou modificativas de institutos jurídicos, aquelas leis que suprimem uma situação jurídica para o futuro sem afetar as relações jurídicas perfeitas ou consolidadas daqueloutras que não só afetam a situação jurídica como também os seus efeitos, que resume assim:
«Em suma, diríamos que as leis que suprimem uma situação jurídica podem visar ou ao meio de alcançar esta situação – e aí são assimiláveis pelas leis que governam a constituição de uma situação jurídica –, ou, ao contrário, podem visar aos efeitos e ao conteúdo dessa situação – logo, elas são assimiláveis pelas leis que regem os efeitos de uma situação jurídica; no primeiro caso, as leis não poderiam atingir sem retroatividade situações já constituídas; no segundo, elas se aplicam, de imediato, às situações existentes para pôr-lhes fim.»
O problema relativo à modificação das situações subjetivas em virtude da mudança de um instituto de direito não passou despercebido a CARLOS MAXIMILIANO, que assinala, a propósito, no seu clássico O direito intertemporal, Ipsis verbis:
«Não há direito adquirido no tocante a instituições, ou institutos jurídicos. Aplica-se, logo, não só a lei abolitiva, mas também a que, sem os eliminar, lhes modifica essencialmente a natureza. Em nenhuma hipótese granjeia acolhida qualquer alegação de retroatividade, posto que, às vezes, tais institutos envolvam certas vantagens patrimoniais que, por equidade, o diploma ressalve ou mande indenizar.»
E podíamos ir por aí fora, dando exemplos, citando a lei, porque esta é a doutrina pacífica seguida entre nós e em todos os países de tradição romanística. Mas é quanto basta para perceber a questão.
Concluindo; a nova lei que se aplica às empresas municipais, está entre aquelas leis que têm a ver com exercício de direitos, com normas supressivas e limitativas de institutos jurídicos, e por isso ao estabelecer novas regras do seu funcionamento e prever a sua extinção, verificadas certas circunstâncias, não é de forma alguma retroactiva.
Não sendo retroactiva, não se coloca qualquer problema acerca da sua hipotética inconstitucionalidade, por aquele motivo, como é evidente.
O mal nestes assuntos, digo-o na minha humilde ignorância, é haver sempre por aí muito sapateiro com pretensões de tocar rabecão!
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Quando saiu o meu artigo sobre o ethos do povo raiano, o José Nunes Martins, de Malcata, observou que o referido ali, a respeito do povo raiano, se aplicava também ao povo português.

 Tratou-se de uma observação inteligente, que me fez pensar. De facto, em resultado de uma feliz conjugação da herança étnica e paisagem própria de Riba-Côa, que são as mesmas que se verificam no todo do território nacional, as mesmas características da alma portuguesa manifestam-se a do povo raiano, como talvez em nenhum outro. São precisamente essas circunstâncias étnicas e de paisagem, que estão na origem na religiosidade cristã e pagã do povo raiano, afloradas na parte final do artigo sobre o Aspecto Sagrado Das Capeias.
Tratou-se de uma observação inteligente, que me fez pensar. De facto, em resultado de uma feliz conjugação da herança étnica e paisagem própria de Riba-Côa, que são as mesmas que se verificam no todo do território nacional, as mesmas características da alma portuguesa manifestam-se a do povo raiano, como talvez em nenhum outro. São precisamente essas circunstâncias étnicas e de paisagem, que estão na origem na religiosidade cristã e pagã do povo raiano, afloradas na parte final do artigo sobre o Aspecto Sagrado Das Capeias.
Daí que, o que se afirma do povo da raia pode extrapolar-se para o português e para se analisar a alma portuguesa pode-se tomar como exemplo a particularidade da alma ribacudana.
Existe um livrinho, de 120 páginas, com o título Arte de Ser Português, editado em 1920, escrito por Pascoais para leitura no ensino público, a fim de incutir na juventude o sentido patriótico, que aborda esta questão da alma do povo português.
Trata-se de um livro muito importante porque resume a doutrina do “existencialismo lusitano”, e ao qual nos cingimos, para transpor para a alma ribacudana tudo o que no mesmo Pascoais refere a propósito da alma portuguesa.
O pensamento subjacente a esta obra, que Pascoais já exprimira em vários artigos da Águia, e desenvolve na Saudade e o Saudosismo (em forma de polémica epistolar com António Sérgio), é a de que ser português é uma arte e como tal, digna de cultura.
Por isso caberia aos professores, trabalhando como se escultores fossem, modelar as almas dos jovens para lhes imprimir os traços da raça lusíada. Traços estes que lhe dão personalidade própria, «a qual se projecta em lembrança do passado, e em esperança e desejo do futuro».
Isto é, o fim desta arte seria «a renascença de Portugal, tentada pela reintegração dos portugueses no carácter que por tradição e herança lhes pertence, para que eles ganhem uma nova actividade moral e social, subordinada a um objectivo comum e superior».
As descobertas teriam sido o início desta obra, e desde então a pátria tem dormido. Despertando, saberia continuá-la.
A Raça, em Pascoais, não tem o sentido pejorativo, conotado com o Estado Novo, sendo apenas um «certo número de qualidades electivas, próprias de um povo, organizado em pátria, isto é, independente sob o ponto de vista político e moral».
Estas qualidades são, ainda segundo ele, de natureza animal e espiritual e resultam do meio físico (paisagem) e da herança étnica (tradição), histórica, jurídica, literária, artística, religiosa e económica.
Na Raça portuguesa a sua herança étnica está nos povos que primitivamente habitaram a península e dos quais descendem os portugueses, castelhanos, vascos, andaluzes, catalães, galegos, etc.
Esses povos pertenciam a dois ramos. O ariano (galegos, romanos, godos, celtas, tec.) e o semita (fenícios, judeus e árabes).
Dos primeiros veio a civilização greco-romana, o culto pela forma, a beleza como representação da realidade próxima e tangível (naturalismo), o paganismo e o panteísmo; dos segundos veio a civilização judaico-cristã, bíblica, o culto de espírito, a unidade divina, a beleza concebida para além da matéria.
Ao primeiro corresponde a verdadeira alegria terrestre, a infância, a superfície angélica da vida, o naturalismo, o amor carnal que continua a vida; ao segundo a dor salvadora que nos eleva ao céu, o sonho da redenção, o espiritualismo judaico, o amor ideal que purifica e diviniza.
Do ponto de vista étnico, o indivíduo, porque não cabe dentro dos seus limites individuais, porque é um ser social, herda as qualidades da família e da sua raça. Assim sendo, o português participa também desta herança étnica e histórica, «adquirindo uma segunda vida que mais vasta, domina a sua existência como indivíduo».
Por sua vez, exceptuando a planície monótona do Alentejo, de cariz mourisco, resume Pascoais a paisagem portuguesa aos planaltos desnudos de Trás-os-Montes, de hostil aridez judaica, e ao Minho viridente, alegre e colorido, de vales e pradarias, de matriz celta e ariana, que estão de acordo pela sua apetência dolorosa com o genuíno semita, e pela sua apetência alegre com o genuíno ariano.
A alma lusíada tem a sua origem na fusão dos antigos povos da península e na paisagem. Nas belas palavras de Pascoais «esta bela flor espiritual brotou de uma haste mergulha as raízes na terra e no sangue, entre os quais se estabeleceram verdadeiros laços de parentesco».
Ou seja, a paisagem é fonte psíquica da raça, porque ainda segundo Pascoais «tem uma alma que actua com amor ou dor sobre as nossas ideias ou sentimentos; transmitindo-lhes, o quer que é da sua essência, da sua vaga e remota qualidade que, neles, conquista acção moral e consciente».
Foram destes dois sangues, que equivalendo-se em energia «deram à Raça lusitana as suas próprias qualidades superiores», e trabalhadas e combinadas desta forma feliz pela paisagem, resultaram na criação da alma portuguesa.
Foi da combinação entre a herança e a paisagem que esta alma, absorveu por essa razão na sua feição religiosa a ideia pagã e a cristã, dualismo este de que resultaria o saudosismo.
É precisamente na paisagem original da região do Tâmega, segundo Pascoais a que conjuga a paisagem dolorosa de Trás-os-Montes e a paisagem alegre do Minho, onde a voz do sangue (herança) e da terra (paisagem), estabelece o diálogo que caracteriza o carácter desta complexa fisionomia dualista portuguesa, alegre e ao mesmo tempo dolorosa; materialista e ao mesmo tempo espiritual.
Ora, é aqui divergimos de Pascoais: Podendo concordar que na região do Tâmega se reúnam os dois elementos da paisagem; falta-lhe sempre o elemento semita da origem étnica, que só existe abaixo do Douro.
Sucede também que, mais que na região do Tâmega, é na região de Cima-Côa que se reúnem de forma clara o elemento paisagístico e étnico na sua plenitude.
Em nenhuma parte do território português se concentram tanto a paisagem de contrastes, a aparência alegre dos verdes campos minhotos, com a mágoa e a dor silenciosa dos ermos transmontanos, como na paisagem mediata e extática dos lameiros, veigas, hortas, cabeços, tapadas e planalto de Cima-Côa.
Em nenhuma parte as brancas nuvens do céu, aonde sob o beijo da chuva amorosa vão beber os ramos sequiosos dos carvalhos e dos freixos; a linfa que, nascendo nos corações dos montes, atravessa os vales estreitos, envolvendo as pedras musgosas, viridificando regatos e prados.
Em nenhuma parte o sol irrompendo ébrio de fortaleza acima dos carvalhais, energia vital que todo o mundo inunda, sangue revigorante da videira, essência de cor que a verdura floresce e a terra alegra num íntimo acordar.
Em nenhuma parte a brancura da lua, entre o arvoredo, projectando no silêncio da noite inquietas formas de luz e de sombras, almas sem corpo, espíritos mortos, onde os olhos bebem a luz das estrelas, e os ouvidos escutam o sinistro lamento da paisagem.
Em nenhuma parte o imenso clarão que a todo o ser deslumbra e incendeia de loucura e alucinação; a branda luz como o roçar de asas de uma ave, convidando ao sonho e à viagem.
Em nenhum outro lugar, como em Cima-Côa, existe tão bem resumido este sentido alegre e plástico do mundo, inspirando uma religião sui generis, tão pagã como cristã.
(continua)
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
E da Antiguidade aos nossos dias, o touro continuou animal de culto, porque na Península Ibérica sempre foi um animal abundante e todos os povos terão tido uma relação próxima com o animal ao longo dos séculos.

 Prova-se pela universalidade do ódio do cristianismo ao touro e cultos mitraicos, que arrasou templos, estatuária e ritos, substituindo-os por outros como o de aspergir com água benta, procissão do «Corpo de Deus» ou no «Sagrado Lausperene», figuração do demónio (conotado com Mitra).
Prova-se pela universalidade do ódio do cristianismo ao touro e cultos mitraicos, que arrasou templos, estatuária e ritos, substituindo-os por outros como o de aspergir com água benta, procissão do «Corpo de Deus» ou no «Sagrado Lausperene», figuração do demónio (conotado com Mitra).
Contudo, os rituais, mais ou menos escondidos, nunca deixaram de ser realizados, assim se provando que a religião derrotada sempre permanece. Para ESPÍRITO SANTO (1995), as touradas portuguesas, nomeadamente as chamadas populares, têm a sua origem «nestas corridas populares do fim das ceifas, do solstício ou do fim dos trabalhos agrícolas, em Setembro» dos cultos mitaricos em que as festas do final das colheitas e da partilha incluíam sempre touradas seguidas de abate e comida.
Em conclusão, o touro tem sido, além do símbolo de deus, vítima de expiação e repasto colectivo, o elemento central da «festa» e da sua função redentora no Social. Por seu lado, FERREIRA (2007), afirma que «para muitas religiões e mesmo povos o tourear é como homenagear um deus que se encontra na figura do touro».
Este culto permanece ainda hoje nas touradas, as quais celebram a força, potência e fecundidade, porque o touro, possuindo um arreigado sentido de territorialidade, possui coragem e força bruta, é manancial de abundância, estruma as terras e quando domesticado, era um auxiliar dos trabalhos agrícolas.
A capeia é por isso também, como as restantes manifestações tauromáticas, celebração da força, potência, fecundidade, força bruta do touro da manada e força tranquila, manancial de abundância do boi agrícola;.
E assim sendo, além de reminiscência de um culto sagrado, é, neste tempo em que a vertigem da vida moderna e o barulho ensurdecedor das máquinas impedem o homem de ouvir a sua voz interior, um retorno de cada um que nela participa, ao caminho do campo, onde respira o ar variável das estações, da irrupção turbulenta da primavera e o ocaso tranquilo do outono, o cheiro das árvores da floresta, e revive a serenidade melancólica e sabedoria madura do camponês que de madrugada, no tempo certo do ano, sai com os bois para a arada, farnel na cestinha, seguido do grande cão de guarda.
O carvalho do forcão, recordando a árvore mais alta do paraíso, aberta à amplidão do céu, cujas raízes mergulham na fertilidade da terra primordial, resume esta espécie de «Gaia Ciência» da vida em que o homem só é verdadeiro e genuíno se for como o carvalho: disponível ao apelo mais do mais alto e sensível à proteção da terra que sustenta e produz.
A Capeia é, por tudo isto, a celebração de uma liturgia colectiva em nome da natureza, em nome da liberdade absoluta, em nome da amplidão, que contrastam com a liberdade e a cultura das cidades.
E sendo uma liturgia, compõe-se de um conjunto de actividades, gestos, símbolos, linguagem e comportamento, cuja origem, perdendo-se no tempo, que lhe dão um significado próprio.
Obedece a uma lógica, tem uma finalidade, estrutura e causa, e acrescenta um resultado real aos participantes.
No caso da capeia, os símbolos utilizados são o touro e o forcão e o carvalho, que têm a ver com o culto da fertilidade, como já observamos, associados ao mitraísmo e culto de dionísio.
A sequência do seu ritual é a preparação do forcão, o encerro, o desfile, a lide do touro, e o desincerro.
A simbologia do forcão e a lide do touro já os tratamos aqui num texto anterior, para o qual remetemos; o encerro e desincerro, têm semelhanças, e talvez a sua origem longínqua esteja nas procissões dionisíacas e mitraicas; e o desfile com as alabardas no desfile de falos nestas festividades.
É este o ritual que tem caracterizado a capeia e lhe tem dado um sentido coerente. Realiza-la sem qualquer uma destas etapas é desvalorizá-la e empobrecer o seu significado de culto de regeneração e fertilidade.
Um significado coerente com toda a triologia festiva de Cima-Côa, cristã e também pagã, que é constituída pela missa matinal com sermão e procissão, a capeia pela tarde e o arraial ou adega pelo fim do dia.
O primeiro invocando o favor propiciatório do céu, o segundo celebrando a força geradora da natureza, e o último consagração ao sémen fertilizador do homem e libação à seiva frutificante da videira.
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Desde o mundo antigo a figura do touro tem sido exaltada pela sua força e vigor. Os mitos gregos falavam do Minotauro (monstro metade homem metade touro), a arte minoica representava acrobatas saltando sobre o dorso de touros. O altar do templo de Salomão era adornado com chifres de touros e um dos tetramorfos associados aos evangelhos é o touro.

 A mística deste animal sobrevive ainda nas touradas, e nas manifestações taurinas, porque elas têm, como é comummente sabido de quem estuda estes assuntos, origem nos rituais de fecundidade, das forças genésicas da renovação e criação, remontando ao período neolítico, aos antigos mistérios de Mitraicos e Dionisíacos, em que a sacralidade do touro se funda na percepção do seu vigor físico e genésico, como pai do rebanho.
A mística deste animal sobrevive ainda nas touradas, e nas manifestações taurinas, porque elas têm, como é comummente sabido de quem estuda estes assuntos, origem nos rituais de fecundidade, das forças genésicas da renovação e criação, remontando ao período neolítico, aos antigos mistérios de Mitraicos e Dionisíacos, em que a sacralidade do touro se funda na percepção do seu vigor físico e genésico, como pai do rebanho.
Mas de entre estas manifestações, cujos testemunhos históricos remontam pelo menos à civilização cretense (2.200 a 1.400 a.c), a capeia é a mais completa, porque reúne o elemento vegetal (carvalho) além do elemento animal (touro), que tem a mesma simbologia que este.
De facto, o carvalho, roble (da raíz latina róbur), com que se faz o forcão, foi em todos os tempos sinónimo de força e a nível arquétipo, aponta para a Arvore do Mundo, que é o pilar genético da criação e que estava plantada no centro do jardim do Éden.
Muitas tradições consideram o carvalho uma árvore sagrada pela sua robustez e majestade e pelo seu poder de atração dos raios celestes, tinha a importância de meio de comunicação entre o céu e a terra, sendo a árvore por excelência:
Na idade média, tinha influência mágica sobre o tempo e fazia parte das poções mágicas que provocavam tempestades.
Abraão recebeu a revelação junto a um carvalho e a sua morada em Hebron era junto de um carvalho.
Ulisses, na Odisseia, consulta o carvalho de deus antes de regressar a casa.
As coroas da vitória em Roma eram feitas de folhas de carvalho e bolotas e o bosque de Diana era de carvalhos.
Os celtas veneravam o carvalho como uma divindade e na Irlanda as igrejas eram chamadas dairthech, «casas de carvalho», o mesmo nome que entre os druidas significava bosque sagrado.
Interessante, também é como Schopenhauer, na sua teoria sobre o pecado original, faz esta ligação entre a árvore do paraíso, o pecado original e a descoberta da sexualidade.
Em Pascoais, naquela obra magnífica, Regresso ao Paraíso, muito mais sublime que o Inferno de Dante, quando Adão e Eva regressam à terra no dia do Juízo final e passam junto ao que foi o Jardim do Éden, a árvore que vêm, dominando todas as outras, como centro do Jardim, não é a macieira, mas um Roble com muitos frutos.
Claro que o fruto do roble é a bolota, que tem aparência da glande, o que nos remete mais uma vez para a conotação genésica e sexual desta árvore.
O carvalho identificando-se portanto com a força genésica, é um dos símbolos de Mitra, Dionísio, Zeus ou Júpiter e Juno ou Vesta, no templo do qual havia um carvalho sagrado, sendo também com a sua lenha que se acendia o fogo sagrado.
E como, diz-nos Eliade, a fecundidade é uma especialização da vocação essencial de criadores, estes deuses celestes das religiões indo-mediterrânicas identificam-se também, desta ou daquela maneira, também com o touro.
Nas religiões do médio-oriente, Mitra (representado sob a forma de um jovem sentado num touro, ostentando na mão uma adaga para matar este, numa clara semelhança ao mito de Teseu e Minotauro ou à luta de S. Jorge com o Dragão, cujo culto esteve na origem do de Zeus e Júpiter, e se estendeu à península no período romano, surge também como divindade mediadora entre duas forças antagónicas (o Sol e a Lua), viabilizando o nascer de um novo dia, ou seja, não permitindo que a Lua ocultasse o Sol, representando a Luz Celestial, ou a essência da Luz, que desponta antes do Astro-Rei raiar e que ainda ilumina depois dele se pôr e, porque dissipa as trevas, é também o deus da Integridade, da Verdade e da Fertilidade, motivo pelo que também surge associado ao Touro primordial.
Segundo as lendas de origem persa, Mitra terá recebido uma ordem do deus-Sol, seu pai, através de um seu mensageiro, na figura de um corvo. Deveria matar um touro branco no interior de uma caverna.
O ritual de iniciação nos mistérios de Mitra era o Taurobolium, porque exigia esse sacrifício do touro. É através da sua morte ritual que se dá origem à vida com o seu sangue, à fertilidade, à dádiva das sementes que, recolhidas e purificadas pela Lua, concebem os «frutos» e as espécies animais, pois a sua carne é comida e o seu sangue bebido.
Este ritual de iniciação, em que inicialmente se sacrificava o touro e se bebia o seu sangue, evolui posteriormente para o sacramentum, banquete ritual mítraico, em que, se consagrava o pão e a água, se bebia vinho que simbolizava o sangue do touro, simbolizando o renascimento numa nova vida.
O culto de Dionísio, que é originário da Frígia (Anatólia) através da Trácia, onde Mithra se identificou também com Attis, é como estes, uma divindade associada à fertilidade. Tinha a forma de touro, liderava desfiles de bacantes e sátiros, ninfas e outras figuras disfarçadas para os bosques, que dançavam e esquartejavam animais e comiam as suas carnes cruas. Implicava também desfiles com falos, danças orgíacas de bacantes e delírio místico, o esquartejamento do touro ou do bode com o mesmo associado, cujas partes cruas eram consumidas em banquete (omofagia) e espalhadas com o sangue pelo campo como auspício de fertilidade, renascimento e imortalidade.
Na Península, onde o touro já era, desde o neolítico, um dos animais relacionados com as divindades, inserindo-se num culto com raízes comuns a todo o Mediterrâneo, à chegada dos romanos, cujos legionários tiveram contacto com o oriente, teve um novo surto orientalizante, chegando até ao fim do século III a rivalizar com o cristianismo, como se vê nos escritos de Tertuliano, espalhando-se pelos confins do mundo romano sob a designação de «Sol Invictus» (Mitra leoncéfalo) e desde a Bretanha até à China, sobrevivendo ainda no Oriente Próximo.
Daí que a partir do século I apareçam na iconografia com frequência bucrânios (crâneos de touro) e representações de touros, como aquele do silhar aparelhado que, associado à representação do sol, se encontra em exposição na Casa do Castelo, no Sabugal, o qual se assemelha a algumas imitações dos motivos helenísticos datadas do século I a.C. e que fazia parte possivelmente de uma ara funerária votiva romana, como já acontecia no mundo funerário ibérico, simbolizando a força fecundadora, ligada à crença astral de imortalidade.
(Continua)
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Somos todos uns ingénuos que gostam de acreditar na patranha de que a União Europeia foi construída deforma romântica, com todo o povo europeu pondo-se de acordo para construir um melhor futuro comum.
 A realidade é outra: A União Europeia surgiu das elites empresariais e financeiras que procuravam alcançar um mercado comum para o qual necessitavam de uma moeda, o euro, que substituísse as moedas nacionais.
A realidade é outra: A União Europeia surgiu das elites empresariais e financeiras que procuravam alcançar um mercado comum para o qual necessitavam de uma moeda, o euro, que substituísse as moedas nacionais.
É por isso não resultou!
Um exemplo: A Acta Única, que estabelecia as condições prévias de criação da União Europeia, foi da iniciativa de Wisse Dekker, dirigente da Phillips, que se encarregou de reunir quarenta representantes «das maiores empresas europeias» e de preparar entre eles um documento que foi assumido pelo comissário Cockfield para a elaboração das 300 directivas em que se baseia a Acta Única.
Outro exemplo: A banca alemã também impôs que o marco fosse substituído pelo euro, de forma ao Banco Europeu poder controlar a inflação, principal inimigo dos bancos, porque desvaloriza o dinheiro, impondo também que não pudesse comprar dívida pública dos estados, e impondo ainda uma austeridade em que cada estado não podia imprimir moeda nem ter assegurada a sua venda a um banco central, como até então faziam, para terem antes de recorrer à banca privada.
 Como se sabe, o negócio dos bancos é gerar dívidas aos clientes; é desta forma que, transformando os depósitos bancários em créditos a clientes, criam artificialmente moeda bancária e geram lucro.
Como se sabe, o negócio dos bancos é gerar dívidas aos clientes; é desta forma que, transformando os depósitos bancários em créditos a clientes, criam artificialmente moeda bancária e geram lucro.
Foi assim que os estados necessitando de financiar o défice dos orçamentos, recorreram a empréstimos públicos, criando a espiral das dívidas soberanas, que está nas mãos da banca e especuladores privados, e a qual continuará a aumentar porque os estados, face às politicas de austeridade erradamente aplicadas e geradoras de recessão, têm menos receitas fiscais, tendo de recorrer a novos empréstimos.
Foram pois os interesses financeiros e monetários das grandes empresas e dos bancos europeus que levaram à actual Europa.
Outra condição foi o tratado de Maastrich, que obrigava os estados membros a ter um défice público inferior a 3 % do PIB e ma dívida pública inferior a 60 % do PIB, o que constituiu um grande entrave ao crescimento económico e à produção de emprego, tudo medidas que o capital financeiro queria para prevenir o crescimento da inflação, que defendiam. Devia manter-se a 2 %.
A consequência foi que os países em recessão (por sinal todos periféricos), que antigamente podiam combate-la estimulando a economia, não podendo lançar mão aos mecanismos de compensação (V.G desvalorização da moeda para incremento das exportações) e não podendo competir com as empresas e bancas alemãs, foram perdendo tecido produtivo e capacidade de gerar receitas, enquanto os grandes grupos financeiros e empresas alemães foram acumulando grande quantidade de euros, que por sua vez emprestaram aos bancos e estados desses países periféricos, facilitando o crescimento da divida privada e pública destes países.
E esta política não foi inocente: Desta forma a Alemanha evitava a quebra das suas exportações, financiando a procura dos outros, apesar da capacidade aquisitiva das populações dos países periféricos estar em queda.
O mais irónico é que tendo sido a Alemanha a responsável por tudo isto, vem agora impor como receita de austeridade para debelar a crise, assente nos famosos quatro pilares do Pacto do Euro:
Competitividade com baixos salários; emprego com flexibilidade laboral; finanças públicas com diminuição da despesa pública e sistema financeiro com privatização da banca.
Tudo medidas que geram diminuição de procura privada, precariedade de emprego, diminuição de investimento e especulação financeira, e como consequência de tudo isto, aumento de desemprego diminuição de receitas fiscais, recessão e aumento da dívida.
São as mesmas receitas das políticas neoliberais que de há trinta anos para cá conduziram ao problema que agora querem resolver com aos mesmos métodos já testados na Irlanda, e que originaram uma recessão de 30%, quando o FMI previa um crescimento de 1%.
A diminuição dos índices salariais, geram diminuição de rendimento, capacidade aquisitiva, receitas fiscais e de emprego, é do mais elementar bom senso económico.
O crescimento económico da Alemanha, com a politica de La Fontaine (governo social democrata de Shroeder), deveu-se precisamente ao aumento da procura privada gerada pelo aumento do salário dos trabalhadores; não ao contrário!
Foram pois os interesses particulares das grandes financeiras e empresas alemães na criação do euro que criaram as condições para a actual crise.
E a politica de austeridade e restrição salarial imposta pela Alemanha foi a gasolina que a fez aumentar ao: diminuir a procura dos países periféricos, e financia-la com empréstimos às exportações alemãs, aumentando as suas dívidas.
E fê-lo ainda lançando mais gasolina na fogueira: emprestando, através do BCE à banca privada dos países periféricos a juros baixos, a qual, já em dificuldades por ter financiado as dívidas públicas e investimentos especulativos, em vez de financiar o tecido empresarial, estimulando o crescimento económico, comprou nova dívida pública a juros altos, dos estados, que com cada vez menos receitas fiscais, tiveram de se voltar a endividar.
Como se resolve o problema?
Gerando crescimento económico… aumentando o PIB!
E como se faz crescer a economia, quando o panorama é o do controle do défice orçamental, redução de receitas fiscais que condicionam o investimento, falta de liquidez nas pequenas e médias empresas que impedem o relançamento da actividade económica?
Muito simples:
a) O Estado, através da mudança do paradigma fiscal que é maioritariamente sobre o consumo (em queda) e carga salarial, para impostos sobre o rendimento, tributando a riqueza, incluindo a especulação financeira, a verdadeira beneficiária da crise, aplicando esta nova receita fiscal em investimentos produtivos (formação empresarial, investigação, educação, etc).
b) Aumentando paulatinamente os salários reais, para, através do aumento do poder de compra, estimular a procura, a produção e a criação de emprego.
c) Injectar liquidez na economia, financiando as pequenas e médias empresas, as verdadeiras criadoras de emprego e motores da economia, através da banca pública, que pode prosseguir políticas sociais, ao contrário da banca privada, só interessada no lucro e na especulação financeira.
d) Controle dos preços das grandes empresas prestadoras de serviços (energia, água, comunicações, etc.) quase monopolistas, que devido à sua posição dominante no mercado e condição de fornecedoras de bens essenciais, não influenciáveis pela procura, são as únicas beneficiárias da redução salarial, que lhes permite diminuir os custos de produção e aumentar a margem de lucro e continuar a financiar-se.
e) O Banco Central Europeu deve comprar a dívida dos estados (Eurobonds), com um período de carência, de forma a permitir-lhes aplicar os empréstimos no relançamento das respectivas economias, ao contrário de financiar a banca privada, como até aqui, que aplica o dinheiro para resolver os seus problemas de tesouraria resultantes da especulação financeira e na compra de nova divida pública a juros mais elevados.
Mas tudo isto exige bom senso e coragem política… coisas que não abundam, nem por estas bandas, nem nos órgãos de decisão Europeus…
E a Alemanha, vendo que os países periféricos dificilmente recuperam o puder de compra que lhes permita continuarem a comprar as suas exportações, já desistiu de financiar a crise do Euro, voltando-se para novos mercados, como a China e os EUA.
É precisamente neste sentido que devem ser interpretadas as recentes palavras da chanceler alemã, quando diz não estar a Alemanha interessada a continuar a financiar a Crise do Euro.
As empresas e financeiras Alemãs sugaram-nos quanto puderam, e agora partem para outras paragens, tal como as empresas capitalistas que explorando a nossa mão-de-obra barata e incentivos fiscais enquanto podem, se deslocam depois, oportunamente para os novos países emergentes.
Portanto, a vontade da Alemanha não é nenhuma em resolver a actual crise… a menos que seja obrigada!
E quem na Europa tem força para vergar a vontade Alemã?
Ninguém…
Por isso a União Europeia já é um cadáver com a certidão de óbito assinada…
Resquiet in pace!
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Os poetas, nas palavras de Erasmo, «formam uma raça independente, que constantemente se preocupa em seduzir os ouvidos dos loucos com coisas insignificantes e com fábulas ridículas. É espantoso que com tal proeza se julguem dignos da imortalidade». E continua: «esta espécie de homens, está, acima de tudo, ao serviço do Amor-Próprio e da Adulação». E dizia isto Erasmo, não por julgar a poesia um género literário menor, mas por saber que o mudo da poesia é o da adulação e da crítica elogiosa, com que de poetas medíocres, se fazem poetas da moda. (parte 4 de 4).
 A par do elemento natural, a «espontaneidade» constitui o segundo elemento que não caracteriza apenas a faculdade criadora mas deve estar presente em todo o processo poético e a qual jamais deve sacrificar-se às exigências estilísticas.
A par do elemento natural, a «espontaneidade» constitui o segundo elemento que não caracteriza apenas a faculdade criadora mas deve estar presente em todo o processo poético e a qual jamais deve sacrificar-se às exigências estilísticas.
Por sua vez, Pascoais explica melhor a sua visão ética da poesia no Regresso ao Paraíso, obra que Leonardo Coimbra qualificou de criacionista.
Pascoais defende aqui uma realidade cuja aparência começa na matéria e se perfecciona, na dialéctica dos contrários (Matéria e Espírito, Alma e Corpo, Luz e Sombra; Queda e Redenção, Criação e Ressorção; Ciência e Poesia; Poesia e Filosofia; Deus e Satã; Jesus e Pã; Cristianismo e Paganismo; Teísmo e Ateísmo; inteligível e sensível, intuição e razão) superada pelo espírito saudoso.
Em simultâneo, a criação da obra de arte segue o mesmo processo transfigurador e idealizante, sob a acção criadora da saudade; isto é, todas as coisas e todas as obras necessitam que o tempo as converta em lembrança, para que, após serem assimilados e integrados pela alma na sua substância, possam ser por ela exprimidos em eternas formas de beleza. E é o papel inventivo da fantasia e da imaginação que tem o poder de transfigurar o existente, criar algo de novo (heurésis), sendo partir deste momento que a obra se anima de outra vida, se converte em arte verdadeira.
Por isso, a poesia, ao contrário da escultura e pintura, que tendem a ser miméticas, copiadoras do universo criado, não copia as formas, vai além do visível. Em consequência, o verdadeiro poeta é o homem que passa da Existência à Vida, da matéria ao espírito, ou seja, da realidade à verdade, processo possível só com um conhecimento do cosmos, que a intuição poética permite.
Como vimos, partindo ambos de Platão, atalhando pela via do Heglianismo ou do Kantismo, Antero e Pascoais acabaram por chegar à mesma conclusão:
A resposta ao que é poesia e um bom poema, está de facto no temperamento, carácter e personalidade do poeta, na maneira como sente o mundo, a espontaneidade e imaginação com que exprime a sua ideia do mundo.
A universalidade da obra de arte radica na verdade pessoal do poeta, no seu carácter, nesse húmus que é comum a todos os homens, do qual brota, turva a seiva da «espontaneidade»; é neste sentido que para Antero ser verdadeiro é ser natural, já que, no poema, sentimento e ideia se adequam por intermédio da palavra – da forma –, sendo nos limites deste postulado que o justo e o belo hão-de ser medidos.
Pascoaes afirma que é na «inspiração» que reside a identificação ontológica do homem com o mundo, e será a partir desta que toda a relação estética se torna possível: «a inspiração do poeta é a sua identificação com o cosmos, a exprimir-se verbalmente ou por meio da substância originária que é o verbo, o som, música divina.»
Portanto tudo se resume no verbo fiel ao pensamento e à ideia, à representação completa do sentimento, que por intervenção da imaginação (em Pascoais) ou espontaneidade (em Antero), é a linguagem do coração do poeta.
Resumindo: A poesia é a palavra que exprime fielmente um sentimento e uma ideia. A boa poesia exprime esse sentimento e ideia com espontaneidade e imaginação, as quais dependem da personalidade do poeta.
Como se vê, demos as voltas que dermos, vimos sempre dar ao mesmo.
O que nos remete para o seguinte texto de Lobo Duarte, onde se vê este essencial equilíbrio que a poesia consegue alcançar entre ética e estética, forma e ideia e sentimento, imaginação e espontaneidade, que lhe dá uma leveza extraordinária, leveza profunda, medida pela precisão e concisão de suas imagens:
A Dona Antonia escreve versos, aquilo parece a sirene dos bombeiros a correr para o fogo. Que aqueles babosos versos lhe adocem os beiços. Ela há-de dar aquelas lamechices a uma casa de caridade. São fracos versos que a consolam naquele abandono de homem e filhos. A Dona Antonia gosta de costurar, é uma artista no ponto cruz, uma devota do ponto cruz e do Dr Sousa Martins padroeiro das diarreias e das cólicas. A Dona Antonia e os seus versos amarelos como a bilis. Ela entretem os seus bichos de estimação entre eles as pombas que poisam no peitoral a mendigar umas migalhas literárias. Dona Antonia e os seus versos fofos e quentinhos que cheiram a mofo e a naftalina.
Isto é que é poesia! A boa poesia…
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Os poetas, nas palavras de Erasmo, «formam uma raça independente, que constantemente se preocupa em seduzir os ouvidos dos loucos com coisas insignificantes e com fábulas ridículas. É espantoso que com tal proeza se julguem dignos da imortalidade». E continua: «esta espécie de homens, está, acima de tudo, ao serviço do Amor-Próprio e da Adulação». E dizia isto Erasmo, não por julgar a poesia um género literário menor, mas por saber que o mudo da poesia é o da adulação e da crítica elogiosa, com que de poetas medíocres, se fazem poetas da moda. (parte 3 de 4).
 As imagens da imaginação dão-nos «mais que pensar que o próprio pensamento», as imagens para os conceitos indeterminados são mais ricas do que a explicação dos conceitos. Mas é exactamente na explicação da imagem que o entendimento tenta demonstrar porque é que o Pavão de Juno é uma ilustração da beleza. Podemos responder que é por o Pavão ter todas aquelas cores, que para aqueles que o admiram as suas cores não têm nenhuma utilidade, etc. Ou seja, a imaginação é um campo muito fértil que deixa muita coisa em aberto para que o entendimento se aplique na imagem, numa troca de informação, num diálogo entre a imaginação e o entendimento, a que Kant chama «jogo livre das faculdades». Livre porque a imaginação e o entendimento funcionam de certa forma a sós, sem nenhuma determinação objectiva. Não há nenhum dado empírico que ajude o entendimento a estabilizar a informação que retira da imagem proposta pela imaginação. Se fosse possível determinar algo objectivo para estas imagens o jogo livre das faculdades cessaria. É precisamente o carácter inesgotável deste jogo, de troca de informações entre o entendimento e a imaginação, que explica a sensação de prazer cognitivo tida perante o belo.
As imagens da imaginação dão-nos «mais que pensar que o próprio pensamento», as imagens para os conceitos indeterminados são mais ricas do que a explicação dos conceitos. Mas é exactamente na explicação da imagem que o entendimento tenta demonstrar porque é que o Pavão de Juno é uma ilustração da beleza. Podemos responder que é por o Pavão ter todas aquelas cores, que para aqueles que o admiram as suas cores não têm nenhuma utilidade, etc. Ou seja, a imaginação é um campo muito fértil que deixa muita coisa em aberto para que o entendimento se aplique na imagem, numa troca de informação, num diálogo entre a imaginação e o entendimento, a que Kant chama «jogo livre das faculdades». Livre porque a imaginação e o entendimento funcionam de certa forma a sós, sem nenhuma determinação objectiva. Não há nenhum dado empírico que ajude o entendimento a estabilizar a informação que retira da imagem proposta pela imaginação. Se fosse possível determinar algo objectivo para estas imagens o jogo livre das faculdades cessaria. É precisamente o carácter inesgotável deste jogo, de troca de informações entre o entendimento e a imaginação, que explica a sensação de prazer cognitivo tida perante o belo.
Ao longo desta relação entre a imaginação, o entendimento e a imaginação vão-se conhecendo um ao outro e perceber como concordam entre si de forma a aquele tentar explicar este, e não a esgotando volta a tentar explicá-la, ao longo de uma troca cognitiva inesgotável entre ambos.
Este jogo livre das faculdades é tão importante para nós, «a sensação de prazer» que daí decorre é tão intensa, que nós queremos que os outros sintam a mesma coisa. Quando digo este poema é belo, não espero que o outro concorde comigo mas quero que o faça, é isto que ele deve fazer, embora não haja nenhum motivo para acreditar que ele o faça porque não há nada de objectivo em nenhuma forma que permita resolver as questões de gosto, mas se todos chegarmos a um acordo aceitando que estamos diante de uma determinada forma sentimos o jogo livre das faculdades, uma determinada imagem, todos concordarão com a beleza do poema. Vemos a forma e depois podemos virar-lhe costas porque a imagem estética do poema vai permanecer.
Percebe-se agora melhor, além da preferência de Hegel pelo belo artístico, formal, o que o separa de Kant:
Para Hegel, o Espírito, o Absoluto incarnam-se nas próprias coisas. Não há nada na realidade, que não seja, em graus diversos, a manifestação do Espírito absoluto, e nada, por consequência, que o espírito humano, ao menos em teoria, não possa conhecer: tudo o que é real é racional, e acessível à razão. A recíproca também é verdadeira: tudo o que é racional é suscetível de se concretizar na realidade. O belo encontra-se na forma, na estética, do conteúdo para a forma.
Kant, ao contrário, apesar de falar de ideias estéticas, limita o poder da Razão ao conhecimento dos fenómenos. A Razão, o espírito humano não têm acesso às coisas em si, ao Absoluto. O belo está apenas na imagem que o jogo dialético entre o entendimento e a imaginação extrai da forma, na ética, da forma para o conteúdo.
A consequência, é que para Hegel, o único belo que o interessa é o belo artístico, o das produções humanas, excluindo-se o belo natural, porque aquele, sendo produção do espírito e comunicando a sua superioridade aos seus produtos e à arte, é superior a este.
Uma das consequências dessa superioridade incontestável do espírito é que a arte não deve imitar a natureza, ao contrário do que defendia Aristóteles, mas expressar o belo, porque o seu objetivo não é de satisfazer a lembrança, mas a alma, o espírito.
E por isso é que para Hegel, a ideia do belo é a própria realidade concreta que toma a forma sensível do belo artístico, um pensamento que não é atividade passiva, recolhimento ou distanciamento, mas na faculdade activa responsável pelo domínio da criatividade, da capacidade de criar formas e instaurar significados, contrário a Kant, que à semelhança de Platão, para quem a ideia do Belo, como a do Verdadeiro e do Bem, é abstrata, a-temporal, a-histórica.
Percebe-se claramente, de novo, quanto a Ideia hegeliana do belo difere da Ideia kantiana:
Em Hegel, o belo é a própria realidade concreta apreendida no seu desdobramento histórico. Quando esta realidade toma a forma sensível do belo artístico, determina o Ideal do belo artístico. E este Ideal do belo aparece na história de várias formas fundamentais (arte simbólica, clássica e romântica), que traduzem o modo como a imaginação tenta escapar da natureza, dar forma a um conteúdo.
Para kant, o belo existe enquanto fim em si mesmo: agrada pela forma, mas não depende da atração sensível nem do conceito de utilidade ou de perfeição. A ideia do Belo, como a do Verdadeiro e do Bem, é abstrata, a-temporal, a-histórica, dá conteúdo à forma, vai além da forma.
Entre nós, foi Antero com a sua visão Hegliana, e Pascoais, com a sua visão Kantiana, que mais profundamente pensaram a arte poética.
Em Antero, apesar de atraído pelo positivismo de Proudhon e Michelet, foi a filosofia de Hegel, com a sua manifestação do ideal em arte, que mais influenciou a sua evolução intelectual, onde o lugar concedido à criação artística, enquanto manifestação do espírito humano, configura um pensamento estético singular, de cariz metafísico, no qual o belo surge como um absoluto.
No que diz respeito à sua concepção estética, Antero evolui em três estádios; no primeiro, onde se manifesta a herança estética do ideal Platónico, o sentimento e a verdade constituem o fundamento da arte e da poesia. Num segundo momento, e já profundamente imbuído da concepção hegeliana e algo positivista da arte, reconhece que a razão substituíra o sentimento, e se convertera na fonte do novo modelo naturalista da arte.
Nesta fase, Antero admite a morte da arte. À semelhança de Hegel, entende que o século XIX, como século científico e positivo, viria a prescindir da arte, por esta já não corresponder à necessidade de uma consciência que se supera, ou seja, por já não corresponder a um ideal que existe por si mesmo, e que não carece de formas sensíveis para subsistir, mesmo as «mais esplêndidas».
Numa terceira e última fase Antero defende, numa síntese entre o espírito e a natureza, entre o Sentimento e a Verdade, um estado superior da consciência que possa conciliar ciência e arte, poesia e filosofia, confirmando o Homem com o único e o último fim da arte, que é a Estética da Natureza.
O sentimento; à semelhança da intuição poética em Pascoais, seria a fonte da criação artística, em particular da poesia, e da gnoseologia a partir da noção de verdade intimamente relacionada com a espontaneidade sentimental do eu, à semelhança da imaginação em Pascoais.
A poesia, segundo Antero, a grande a verdadeira poesia, a que se escreve com uma mão sobre o coração, sem querer outros modelos além da natureza, outras leis mais que as da razão, essa vive e chega longe nos séculos.
(Continua)
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Os poetas, nas palavras de Erasmo, «formam uma raça independente, que constantemente se preocupa em seduzir os ouvidos dos loucos com coisas insignificantes e com fábulas ridículas. É espantoso que com tal proeza se julguem dignos da imortalidade». E continua: «esta espécie de homens, está, acima de tudo, ao serviço do Amor-Próprio e da Adulação». E dizia isto Erasmo, não por julgar a poesia um género literário menor, mas por saber que o mudo da poesia é o da adulação e da crítica elogiosa, com que de poetas medíocres, se fazem poetas da moda. (parte 2 de 4).
 Após a leitura de uma obra poética, analisando um estilo, um tema, uma originalidade, uma técnica, uma escola, podemos dizer que ela é talentosa, sublime, genial. Pensamos evidentemente, que o seu criador é, por isso, talentoso, sublime, genial. Mas isto são conceitos que tentam explicar mecanismos psicológicos. O que significam cada um deles? Existem de facto? Existem só em determinados indivíduos, ditos artistas, e não nos outros?
Após a leitura de uma obra poética, analisando um estilo, um tema, uma originalidade, uma técnica, uma escola, podemos dizer que ela é talentosa, sublime, genial. Pensamos evidentemente, que o seu criador é, por isso, talentoso, sublime, genial. Mas isto são conceitos que tentam explicar mecanismos psicológicos. O que significam cada um deles? Existem de facto? Existem só em determinados indivíduos, ditos artistas, e não nos outros?
Donde, falar de homem vocacionado, talentoso, genial, é falar de conceitos que, tendo evidente utilidade instrumental, são escassos como explicação de um processo criativo.
Podemos dizer portanto que uma obra é genial, mas já dificilmente isso se pode afirmar de um artista, porque a explicação da criatividade artística é mais uma questão de psicologia; o que nos remete para a conclusão de que a compreensão da criatividade estética de um poeta deve ter em conta a compreensão da sua natureza. Isto leva-nos a Manuel Leal Freire e ao seguinte poema sobre a Capeia:
Negro
Mais negro que os fogueiros ào inferno;
Gordo,
Mais gordo que as mulheres de um rei negróide;
Bufão,
Mais bufão do que Noto, Eolo e Bóreas à compita;
Veloz,
Mais veloz que os golfinhos de Nereu –
Entrou na praça o boi galhardo.
Escarvando,
Olfacteou o argiloso chão,
Com um ar de Satã alucinado.Depois,
Erguendo a cabeça,
Achou pequenas a pequenez da praça
E a amplidão dos céus.
Depois, ainda,
Mugiu
Em ódio clamoroso e clangoroso.
Então,
A praça entrou nos delírios do pavor.
O forcão
Quedou-se desamparado
No meio do terreiro
E os capinhas galgaram em pânico
O espaço que os separava das trincheiras.
Sozinho,
No meio da praça,
O boi,
Já gigante,
Mais se agigantava.
Empoleirado num carro,
Exalçado a lenha
E enfeitado a colchas,
O tamborileiro rufava,
Querendo rebentar o velho bode.
Então os solteiros ganharam coragem
E, saltando aos magotes para a arena,
Imobilizaram o boi
Entre os aplausos dos homens
E os gritos das mulheres.
Este poema é de inegável beleza; provoca sentimento de prazer. Mas porque digo isto deste poema, e dos anteriores não?
A resposta está no temperamento, carácter diferente de quem os criou, isto é, a criatividade que está na origem dos diferentes poemas baseia-se também em personalidades diferentes. E que tipo de personalidades são esses?
Ao contrário da anterior, que é plana, a personalidade de Leal Freire é redonda, ideativa-criativa, poética, pela facilidade que tem em pôr, de forma artística, um pensamento em verso, aliando a sensibilidade estética (formal), à sensibilidade ética (criativa).
O autor dos poemas anteriores «arruma» versos; Leal Freire, personalidade artística, vive a vida como uma forma de arte, revive no dia a dia a sua fantasia, o lúdico, o sonho, que transporta para o quotidiano o seu sonho artístico, como se vê sobejamente no seu poema «Capeia».
É que a poesia é arte, e como tal, coisa do espirito que só conhecemos tendo educado um apurado sentido ético e estético. Por isso a poesia é coisa para ser tratada com a seriedade da filosofia, como faremos daqui para diante.
Quem melhor perceberam isto nos tempos modernos foram Hegel e Kant, ambos partindo de Platão no diálogo com Hippias maior, da ideia geral do belo, para elaborar uma «filosofia da arte» ou da poesia. Aquele tratando a poesia como as restantes manifestações de arte, mas a mais sublime entre elas; este referindo-se expressamente à poesia.
Para Hegel, como podemos ver na Introduction à l’Esthétique, Aubier, Paris, 1964, tradução de Mirian Magda Giannella, o belo existe aqui e em todo lugar ao redor de nós, intervindo «em todas as circunstâncias da vida» como um «génio amistoso que reencontramos em todo lugar».
E – não é para nos espantarmos – o único belo que o interessa é o belo artístico, o das produções humanas, excluindo-se o belo natural, porque aquele, sendo produção do espírito e comunicando a sua superioridade aos seus produtos e à arte, é superior a este.
Uma das consequências dessa superioridade incontestável do espírito é que a arte não deve imitar a natureza, ao contrário do que defendia Aristóteles, mas expressar o belo, porque o seu objetivo não é de satisfazer a lembrança, mas a alma, o espírito.
A prova é que a arte sempre simbolizou, representou, figurou o sentimento religioso do homem ou sua aspiração à sabedoria, sendo graças aos vestígios artísticos das civilizações e das culturas antigas, que podemos reconstituir o que foram as ideias e as crenças que animavam os homens das épocas anteriores.
E por isso é que para Hegel, a ideia do belo é a própria realidade concreta que toma a forma sensível do belo artístico, um pensamento que não é atividade passiva, recolhimento ou distanciamento, mas na faculdade activa responsável pelo domínio da criatividade, da capacidade de criar formas e instaurar significados, contrário de Platão, para quem a ideia do Belo, como a do Verdadeiro e do Bem, é abstrata, a-temporal, a-histórica.
Por sua vez, na Crítica da Faculdade do Juízo, Kant distingue entre beleza pura e livre (arte à grega) e beleza dependente (conceito): A primeira, encontra-se exclusivamente na forma, sem qualquer conceito (ex. música sem palavra e determinadas artes decorativas) que agrada pela forma pura; a segunda depende de algum conceito, o qual perturba a nossa relação com o objecto.
Quando a beleza depende dos conceitos, como a poesia, somos determinados por algo cognitivo da nossa relação com a forma que atrapalha esta nossa relação com a forma. Estes conceitos podem ser determinados, com um determinação objectiva, criados através de algo no objecto que determina esses conceitos (ex. o conceito de mesa depende daquilo que é o objecto mesa, em que para atingirmos o conceito de mesa temos de encontra um objecto externo correspondente), ou indeterminados, sem referência externa (ex. conceito de Bem-aventurança, Vida Além-túmulo, Beleza).
O nosso entendimento, o nosso sistema cognitivo, está montado expressamente para unificar os dados da experiência e para nos conduzir a conceitos objectivos claros e distintos e não encontrando este tipo de conceitos, a imaginação vai propor-lhe imagens, aquilo a que Kant chama ideias estéticas, de modo a encontrar um correspondente objectivo para estes conceitos.
A arte dedica-se precisamente a isto, à tentativa de criar imagens (ideias estéticas, segundo Kant) para conceitos indeterminados. Por exemplo, para o conceito de beleza seria representada por uma imagem da mitologia, o Pavão de Juno. Outro exemplo é a forma como Kant representa o cosmopolitismo, escolhendo um verso de Frederico II, em que este descrevia um belo pôr-do-sol e a certa altura compreendemos que ele está a falar de si próprio no fim da vida, tal como o Sol deu a volta ao mundo e compreendeu todas as coisas também o homem cosmopolita conheceu tudo, deu a volta ao mundo e pode descansar tranquilamente.
(Continua)
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Os poetas, nas palavras de Erasmo, «formam uma raça independente, que constantemente se preocupa em seduzir os ouvidos dos loucos com coisas insignificantes e com fábulas ridículas. É espantoso que com tal proeza se julguem dignos da imortalidade». E continua: «esta espécie de homens, está, acima de tudo, ao serviço do Amor-Próprio e da Adulação». E dizia isto Erasmo, não por julgar a poesia um género literário menor, mas por saber que o mudo da poesia é o da adulação e da crítica elogiosa, com que de poetas medíocres, se fazem poetas da moda. (parte 1 de 4).
 É bem difícil um bom poeta ser reconhecido pelo público. De facto, como se reconhece o valor de um poeta? Sim. Um poeta? Poderá alguém saber que é um poeta? E Grande?
É bem difícil um bom poeta ser reconhecido pelo público. De facto, como se reconhece o valor de um poeta? Sim. Um poeta? Poderá alguém saber que é um poeta? E Grande?
Pois bem, para verem como esta coisa de ser poeta depende mais de interesses pessoais e conhecimentos nos meandros da crítica, do que de critérios literários, aqui deixo um exemplo concreto, que deu, numa das suas verrinosas crónicas, Luíz Pacheco, personagem genial com quem privei:
Escrevia o insuspeito Urbano Tavares Rodrigues, em meados de sessenta, a respeito de um neófito poeta e seu livro:
«Os versos encantadores de… (omito, tal como o Pacheco, o nome do livrinho, por caridade) anunciavam já a problemática que hoje enriquece a vida mental de… (ressalvo o do autor também, por pudor) e, sendo esses versos, como são, de bonne frappe (esta é para impressionar os tolos!) revelam o poeta lírico, que uma vez controlado por mais áspera auto-crítica, juntando o refinamento estético ao temperamento emocional que lhe exalta e acende as vivências – parece capaz de todos os voos».
A respeito do mesmo poeta, o Diário de Notícias disse: «…, afirma-se poeta de lei, vivendo a emoção sentimental e sabendo exprimi-la sinceramente em versos embaladores, melodiosamente ritmados, matizado o pensamento de imagens multicores, ora na singelez popular das redondilhas, ora na gravidade austera dos decassílabos heróicos ou na majestosa imponência dos alexandrinos, modelando em formas harmoniosas a essência da inspiração.»
O Primeiro de Janeiro, num rasgado elogio, apregoou também urbi et orbe o certificado de pedigree do poeta, da seguinte forma: «… é o livro dum poeta (será?). E publicam-se tantos livros de versos, tão poucos poetas se revelando, que é agradável ler um livro como este em que a chama da poesia se sente crepitar… trabalha a redondilha com toda a graça e subtileza.» E sugeriu Luíz Pacheco, a páginas tantas da sua crónica, para averiguarmos da justiça da crítica, saborearmos a voz do tão elogiado poeta, sentirmos a forma «emocional em como ele exalta as vivências», em como «faz crepitar a inspiração», a leitura do seguinte poema, intitulado…
Humanismo integral
Na escola ensinava o mestre
Com seu ar profissional:
– Nunca se esqueçam: O homem
é animal racional.
Mais tarde, na aula de filosofia,
Dizia outro mestre com voz beatífica:
– Animal é o género próximo
racional é a diferença específica.
Uma mulher (que lidou comigo
Em convívio ideal
Levitando em profunda abstracção)
Dirá que sou um intelectual!
Nenhuma conseguiu ter
A minha visão total:
O excesso de ambas as coisas:
– Animal e racional.
De facto podemos constatar que neste poema não existe nenhum «refinamento estético», «o temperamento emocional, que lhe exalta e acende as vivências», «os versos harmoniosamente ritmados», «as imagens multicolores», «a singeleza popular das redondilhas», «a gravidade austera dos decassílabos ou a majestosa imponência dos alexandrinos»… Muito pelo contrário! O insuspeito Júlio Dantas (nem mais nem menos), a respeito do mesmo livro e poeta também não fugiu à regra do exagero laudatório:
«Acabo de ler o seu livro. De todo o coração o felicito e lhe agradeço. Estamos na presença dum poeta. Nos seus versos há poesia (poesia verdadeira!), há alma, há vida, há centelha, há clarões, há talento às mãos cheias.» Dixit Júlio Dantas!
Voltemos novamente ao poeta, só para tirarmos as teimas. Inspiração se chama estoutro poema, do tão celebrado poeta, proposto ainda pelo Luíz Pacheco:
Para fazer os meus versos
Não posso ficar em casa.
O tecto prende-me a alma
Inquieta qual bater de asa.
A secretária e a cadeira
Não bastam para os poemas:
Não cabe lá a alma inteira
Nos seus variados temas.
Sublime inspiração! Aqui de facto «há vida, há centelha, há clarões, há talento às mãos cheias»! Quem não vê a genialidade do poeta, é cego… Cegaram-no os clarões da genialidade! Agora outro poema, também proposto pelo Luíz Pacheco, só para vermos o que é o erotismo, bem à portuguesa, do referido poeta. Esqueçamos o título e vamos ao que interessa:
Quanta mulher fascinante
Beijei
E (julgava…) amei
Pela manhã adiante
E logo esqueci
Com a indiferença que sinto
Por todo o jornal que li.
Mais palavras, para quê? Como se vê, já muito homem ilustre se enganou e iludiu publicamente acerca do que é ser poeta e do que é poesia. Afinal, o que é ser poeta? E poesia? São questões difíceis de responder.
O mesmo se acontece com a pintura; todos julgamos possuir uma ideia do que é pintura, de reconhecer onde ela se encontre e de, em consequência, proferir juízos sobre ela. Só para termos ideia, El Greco, que foi das relações de Miguel Ângelo – um pintor que dispensa apresentação – referindo-se a este, disse: «Miguel Ângelo, sim, um bom homem; mas, coitado, não sabe pintar…» E sabemos quanto enganado estava El Greco… Estas questões são difíceis de responder porque quando as interrogações se elevam ao nível das categorias do belo, da criação, da contemplação artística, onde não temos o suporte histórico, ou da obra, entramos no campo da pura subjectividade.
(Continua)
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
«Mestre de Marca» é a segunda peça da Trilogia Castelos da Raia. O guião vai ser publicado em duas parte.
 MESTRE DA MARCA
MESTRE DA MARCA
(quatro actos)
Personagens: ROIZ (físico do rei), BARNABÉ (escudeiro), ROBERT (mestre pedreiro), JOSUÉ (aprendiz), JUAN (mestre pedreiro), GILBERT (mestre templário), ISABEL (bastarda do rei), Maria (criada), Raquel (alcoviteira), ESCRIVÃO, GUARDA, OPERÁRIO1, OPERÁRIO2 e CORO.
Vilar Maior; Largo e Castelo; estaleiro montado, andaimes e roldanas na torre. A meio um cruzeiro. À direita uma casa com este letreiro: «Mestre Robert, pedreiro da marca» À esquerda outra casa, com pequeno degrau à entrada, com este letreiro: «Mestre Roiz, físico licenciado em Paris». 1210.
ACTO I
Largo público. Ao fundo, torre de menagem e castelo. Josué, Isabel e povo, etc.
CENA I
Josué
JOSUÉ (sobe o largo, passeia de um lado para o outro, em solilóquio)
Coplas
I
Sou um aprendiz desgraçado,
Sem dinheiro para jantar;
hoje comi gato guisado,
para a fome enganar.
Apesar de bom pedreiro,
vivo com mestre Roberto
que me corta no dinheiro
E me deixa em grande aperto.
Como eu ninguém há
por cá.
Olá!
Como eu ninguém é!
Olé!
Como eu ninguém vi!
Oli!
Ninguém como eu sou!
Olô!
CORO – E ninguém, parvo como tu!
II
Que me importa pedra partir
Do meio-dia à meia-noite;
Viver nesta canseira
e andar como Job a pedir
sem nada (e revira os bolsos) na algibeira?
CORO – Sem nada na algibeira!
CENA II
Josué e Isabel (a meio do Largo)
JOSUÉ E ISABEL (A meio do Largo)
ISABEL (subindo o largo e vendo Josué a resmungar) – Bonito! A difamar o patrão!
CORO – Bonito! A difamar o patrão…
JOSÉ (compõe os bolsos) – A benção, bela infanta?
ISABEL- Adeus. (senta-se no cruzeiro) Já viste passar mestre Roíz, Josué?
JOSÉ – Já sim, senhora.
ISABEL – E há muito?
JOSUÉ – Há coisa de meia hora entrou, senhora! Tenho um recado! (Mostra-lhe um pano com brasão e cantarola) Trá lá rá lá lá…
ISABEL (ergue-se em bicos de pés)- Dá cá!
JOSUÉ (Arremeda-a) – Trá lá rá lá lá… (Esquiva-se ao alcance das mãos da moça, negando-lhe o pano)
ISABEL – Deixa-te de fitas, dá cá! (apanha o pano)
JOSUÉ – Encontro debaixo da ponte; qual a resposta?
ISABEL (cheirando o pano e guardando-o) Nem sim; nem não… (entra na casa de mestre Roíz)
JOSUÉ – (seguindo-a) Ai se mestre Roíz sabe que anda moiro na costa… (e entra na casa de mestre Robert)
CORO – Ai que anda moiro na costa!…
CENA III
ISABEL E BARNABÉ (homem de meia idade, vestido de escudeiro, barrigudo e barbudo sobe o largo dirigindo-se a casa de mestre Roíz)
ISABEL (Vem a sair com cestinha na mão, ao ver Bernardo, volta atrás, querendo fugir) – Ai! Que susto!
BARNABÉ (embargando-lhe a passagem) – Ninguém deve fugir sem ver de quê.
ISABEL – Que quer o senhor aqui?
BARNABÉ – Vim em pessoa saber da resposta: quem quer vai; quem não quer manda…
ISABEL – Então o pano era vosso… Não de cavaleiro fidalgo!
BARNABÉ – O pano e a estopa…
ISABEL (Interrompendo-o) – Olha a impertinência! Um reles escudeiro a pretendente de filha de rei… Não suba o sapateiro além da sola do sapato!
BARNABÉ – Não há recado sem resposta…
ISABEL (levantando a mão) – Para vilão, a palma da mão!
BARNABÉ (Impassível) – Quanto mais me bates, mais gosto de ti. Eh! Eh! Foi por lã, e saiu tosquiada…
ISABEL – Eu grito!
BARNABÉ – E eu corro!
ISABEL – O senhor é gordo e feio… Pode lá correr!…
BARNABÉ – O diabo não é tão feio como se pinta…
ISABEL- Feio que nem um bode!…
BARNABÉ – Quem o feio ama bonito lhe parece.
ISABEL- Convencido!
BARNABÉ – Água mole em pedra dura, tanto dá…
ISABEL – Vá esperando!…
IBARNABÉ – Quem espera sempre alcança.
ISABEL – Desengane-se!
BARNABÉ – O futuro a Deus pertence!
ISABEL – Melhores pertences e pretendentes tenho eu…
BARNABÉ – Dentro da arca, bem os oiço…
ISABEL – Muito mais bonitos…(Suspirando)
BARNABÉ – Quem conta um conto, acrescenta um ponto…
ISABEL – Para que haveria de querer um velho gaiteiro?
BARNABÉ – Quem desdenha quer comprar…
ISABEL – Comprar! Um homem tão mal feito!…
BARNABÉ – Feio por fora, lindo por dentro.
ISABEL Presunção e água benta, cada um toma a que quer…
BARNABÉ (sentando-se no degrau)- Sois a luz dos meus olhos!…
ISABEL – Ah, ele agora senta-se? Temos cão de guarda!
BARNABÉ (impassível) – Cão que ladra, não morde…
ISABEL – Temo-la bonita!
BARNABÉ – Venha sentar-se a meu lado…
ISABEL – Pois sim! Não morde, mas tem pulgas!
BARNABÉ (Chegando-se) – Esfreguei-me com vinagre! Ora cheirai…
ISABEL (Afastando-o, faz-lhe uma cara) – Vai de retro!
BARNABÉ – Como?
ISABEL (Dando meia volta e entrando) – Irra; ainda por cima é surdo!
BARNABÈ (Descendo o largo, solilóquio) – Esperneia, mas há-de cair no anzol!
Quem não arrisca não petisca…
ACTO II
Em casa de Robert. Sala. Mobília velha: mesa, bancos, três colunas a meio. Sobre cada uma destas um castiçal aceso, e na mesa, outro castiçal e uma garrafa de vinho e dois copos. Uma pedra cúbica, que Robert trabalha, e instrumentos de pedreiro sobre ela (esquadro, ponteiro martelo e esquadro). Ao fundo porta que deita para a saída. Interior da habitação. É noite.
CENA I
Josué e Robert
(Josué entra. Ao sinal de Robert, senta-se à mesa com este, conversando)
JOSUÉ – Então, há três anos entrei na irmandade; quando me aumentas o salário?
ROBERT (atirando uma bolsa para a mesa) – Toma lá, pelos teus trabalhos em atraso, e desampara-me a loja!
JOSUÉ (despejando-a na mesa e contando o dinheiro) – Aqui só estão seis dinheiros… (guardando o dinheiro)… Por mais se vendeu judas!
ROBERT – Hoje reúne o conselho; e podes pedir aumento de salário. (dá-lhe uma palmada nas costas) Anda, bebe um copo!
JOSUÉ – (esfregando as mãos) Venha de lá então esse copo…
ROBERT – Já sabes desbastar pedra e utilizas as ferramentas com mestria (enchendo-lhe o copo); podes muito bem receber o sinal…
JOSUÉ – Basta cheio. (estende o copo) Parai … Só ao meu sinal!
ROBERT – Ao sinal!… (em surdina) O sinal… Entendes?
JOSUÉ – Qual sinal?
CORO – Qual sinal?
ROBERT – A palavra do grau, meu tolo!
JOSUÉ – Venha ela!… (esvazia o copo)
CORO – Venha ela!
ROBERT – Mais devagar… Primeiro a instrução!…
CENA II
Robert, Juan e Josué
JUAN (dá três pancadas na porta e vai entrando com sacola a tiracolo, sem reparar em Josué) – Tem aqui uma bela loja, compadre. É sua?
ROBERT – Trinta maravedis pago por ela.
JUAN – E tem câmaras? (senta-se à mesa)
ROBERT – A da ceia e a do meio…
JUAN (em surdina) – E para a função, compadre?
ROBERT – A da vizinha Maria aqui ao lado, e é quanto basta.
JUAN – Função da irmandade; compadre…
ROBERT – Não diga que você também é confrade?!
JUAN – Reconhecido como tal… de patente passada e oficina montada. (exibindo sacola que traz a tiracolo) Não largo o avental nem as ferramentas de ofício!
ROBERT – Mas de onde, não nos dirá?
JUAN – Pergunta bem a quem não lhe pode responder.
ROBERT – Mas a palavra, essa dará…
JUAN – Chegai-vos cá que vo-la direi (segreda ao ouvido de Robert)
ROBERT (À parte) – Nunca ouvi palavra tão certinha!
JUAN (Reparando na sala) – Mas para quê todo este aparato?
ROBERT (À parte) – Hoje temos função! (mostrando Josué) E o felizardo está presente!
CENA III
Robert, Juan, Josué, Gilbert
Entra Gilbert, espada cingida, saco a tiracolo e senta-se à mesa.
GILBERT – Vamo-nos preparando para a função. ( tirando as ferramentas da sacola, no que é secundado por todos) o escrivão não tarda ai também, passei por ele no terreiro. (três pancadas na porta.) Quem é?
ESCRIVÃO (dentro) — Sou eu.
GILBERT — Ah, és tu… Podes entrar.
CENA IV
Robert, Juan e Gilbert. Escrivão entra e senta-se à mesa.
GILBERT — Vamos começar. ( põe a espada sobre a mesa, bate o martelo) Os senhores que estão lá fora no terreiro podem entrar.(Josué vai chamar à porta. Entram vários operários; uns de jaqueta de chita, chapéu de palha, calças de ganga, de tamancos, aventais postos, que se vão sentando. Josué senta-se com eles) Estão abertos os trabalhos. Os requerimentos?
CENA V
Um dos operários entrega um papel e outro papel e cesto. Josué tira da camisa um papel que entrega ao escrivão.
GILBERT — Sr. Escrivão, faça o favor de ler.
ESCRIVÃO, lendo — «Diz Josué, natural desta freguesia e casado com Miquelina, sua mulher à face da Santa Madre Igreja e da lei dos homens, pai teúdo e manteúdo de uma pimpolha bem sadia e coradinha e de mais outro que vem a caminho pelo entrudo, morador em casa emprestada, à rua da galinha, aprendiz do ofício nesta loginha, vai para três anos e muitas luas com mestre Roberto, e magro salário que o vai deixar em grande aperto, pede a Vossa Senhoria mande votar neste conselho subida de grau e salário. Espera receber mercê.»
GILBERT — Baixe à assembleia para votação. E que mais?
ESCRIVÃO, lendo — «O abaixo-assinado vem dar os parabéns a V.Sa. por ter entrado com saúde no novo exercício. Diz ser mestre deste ofício, e senhor de um moínho de duas pedras alvaneiras, à borda do Cesarão, que em ano de boa àgua dá bom alqueire de farinha ao dia, mais os barbos e robalos que se catrapiscam no açude, e como vem de encaixe, pede a V. Sa. o favor de aceitar um cestinho de robalos que mandou apanhar hoje à tarde, para a ceia.»
GILBERT — Tal não carece de requerimento! (aceitando a cesta e passando-a a Robert) Para a ceia… e já vêm amanhados! Adiante!…
ESCRIVÂO lendo — «O abaixo-assinado, mestre da marca há mais de sete anos nesta confraria, e cujo sinete de trabalho é um delta grego, vem reclamar do compadre Fagundes que, usa no ofício a mesma sigma, com muito prejuízo da sua clientela e bom nome. Pede Justiça.»
GILBERT (Ao operário 1) – que dizeis a isto, mestre Fagundes?
OPERÁRIO1 – A primazia da marca é minha.
OPERÁRIO2 (À parte) – Aqui o único Primaz reconhecido, é o de Sevilha…
GILBERT (Ao operário 1) – E consegues prova-lo?
OPERÁRIO1 – É o assento mais antigo no livro…
OPERÁRIO 2 (À parte) – Apela ao livro… Não tarda, às escrituras!
GILBERT – Senhor escrivão, é isto verdade?
ESCRIVÃO (Abrindo um calhamaço, que folheia da frente para trás e de trás para a frente) – Não há como saber… A era está coberta com um borrão de vinho… foi-se a prevalência do registo!…
GILBERT – Integra-se a lacuna pela equidade e glosas de Acúrcio…
OPERÁRIO 1 e 2 (Em uníssimo) – E como é isso?
GILBERT – Repartindo benefício com prejuízo… Ao reclamante, delta grande; ao reclamado, delta cursivo!…
OPERÁRIO 2 (Resmungando)- Com Acúrcio ou Tibúrcio, nada passa pelo crivo…
GILBERT (Ao escrivão) – Qual a restante ordem do dia?
ESCRIVÃO (Arrumando os papéis) – Nada mais há requerido…
GILBERT — Está bom, então sobeja-nos tempo para a instrução. Sr. Escrivão, faça o favor de… (Grita para fora:) Ó da porta! Fecha; e corre o pano!
GUARDA (Ao longe — Sim senhor.
CORO – Eles correm os panos!…
GILBERT (Para a assistência) – É a coberto de profanos…
(Estrondo de porta a fechar. Corre o pano)
ACTO III
Em casa de Roiz. Sala com lareira acesa, janela e porta que dá para interior da casa. Mobília velha: mesa a meio, bancos. Ao fundo porta que deita para a saída. Interior da habitação. É noite.
CENA I
MARIA remendando um pano junto à janela, à luz de candeia; depois ISABEL.
ISABEL (Entra aborrecida e espreita à janela) – Foi-se!
MARIA – Quem?…
ISABEL (Absorta)– Ein?
MARIA – Quem é que se foi ?
ISABEL (Perturbada) – Ah! O peralvilho do Barnabé…
MARIA – Por falar no diabo, menina: se casasse com ele…
ISABEL – Havia de ser muito infeliz…
MARIA – Ao contrário: É homem de cabedal, herdeiro de um bom morgadio por morte de seu tio…
ROIZ (Fora) – Maria… ó Maria!
MARIA – Lá está vosso tutor a chamar-me!…
ROIZ (Fora) – Maria!…
MARIA – Grita para aí, alma do diabo!
ROIZ (No mesmo) – Maria!…
MARIA (Aborrecida)- O que é?
ROIZ – A minha luneta?… Não dou por ela…
MARIA (interrompendo a costura)- Já viu?… Na banqueta!…
ROIZ (Fora) – Achei!…
CENA II
MARIA, ISABEL, RAQUEL (velha, trajando de negro, xaile pela cabeça)
MARIA (Retomando a costura) – Havia de ser muito feliz com esse Barnabé…
ISABEL (Olhando para a rua) Ah! ali vem a vizinha Raquel…
MARIA – Foi Deus que a mandou!… Melhor entendida em coisas de amor não há!… (vai à janela e fala para fora) Ó comadre, posso dar-lhe uma palavrinha?
RAQUEL (Fora) – Duas ou três… Quantas quiser…
CENA III
MARIA à janela e RAQUEL na rua.
RAQUEL (Modos hipócritas) – Como vai a rica comadre?…
MARIA – Assim-assim. E a senhora?…
RAQUEL – Mal das cruzes; mas agora melhorzinha. Vim da Igreja; fui pôr uma velinha à Senhora do Castelo…
MARIA – Para ficar boa?…
RAQUEL – Nem imagina! Desde que o meu Cunha se foi, nunca mais estive boa! (mãos nos quadris) Então este resfriado da noite, mata-me!…
MARIA – Que imprudência, comadre! Não ande na rua com esta orvalhada…
RAQUEL – Teve de ser. Vou ali ao mestre Roberto por uma trouxa de roupa para a barrela!
MARIA – Vai em má hora!… Mestre Roberto está de visitas…
CORO – Com trancas à porta e cortinas fechadas!…
RAQUEL (Desapontada) – Ora; e vim eu por nada!
MARIA – Já que veio, bebe um pucarinho de vinho quente?
RAQUEL (Entrando) – Se é oferecido de boa mente…
CORO – A cavalo dado não se olha o dente…
CENA IV
MARIA, ISABEL, RAQUEL
RAQUEL (Já dentro) – Ó da casa, pode-se entrar?
MARIA (Sentando-se à lareira) – Vá entrando, comadre!…
RAQUEL (Apanhando um banquinho; a Isabel) – Benção, minha infanta!… Que bela estais!… Cada vez mais parecida com El-Rei vosso pai… Abençoado seja!
ISABEL (Interessada, sentando-se à lareira também) – E vós lá conheceste meu pai!?
RAQUEL – Então não conheci?… Belo homem… um dia que por aqui passou; vinha da guerra… Andáveis vós na barriga de vossa mãe; Deus a tenha!
MARIA (Chegando púcaro ao lume, que aviva com umas tenazes) – Linda e casadoira!…
RAQUEL – Também acho!…
ISABEL (Interrompendo) – E como era ele?
RAQUEL – Assim moreno, alto, cabelo negro, despachado, como vós!…
MARIA – (Despejando o vinho num copo que dá a Raquel) – Assim, ou com mel?
RAQUEL – Mel, se tiveres…
ISABEL (Novamente) – E minha mãe?… Conheceste?
RAQUEL (Aquecendo as mãos no copo) – Vossa mãe foi gentil dama da corte… Morreu do vosso parto, quando ficastes aos cuidados de mestre Roiz…
MARIA (Vem com púcaro de mel, que serve a Raquel, e retoma a costura e conversa) – Mas só tem olhos para um jovem cavaleiro…
ISABEL – E há lá melhor partido?
RAQUEL – Então a senhora acha bom casamento?…
ISABEL – E não é?
RAQUEL – Quem?… Aquele moço que não larga a vossa janela?… Se a senhora vai na conversa, está bem aviada… Aquilo é um empata…
ISABEL – Como sabes disso?…
RAQUEL – É um pinga amores…. Ainda outro dia… era dia santo… (Como se lembrando) Que dia santo era, comadre? (recordando-se) Foi pelo Natal… vinha ele à porta da vila e metendo conversa…. Adivinhe a quem?…
MARIA – A quem, comadre?…
RAQUEL – À mulher do Josué… Diz-se que o pai é ele…
MARIA – O que é que diz?…
ISABEL – Mas ele passa aqui todos os dias por minha causa…
RAQUEL – Por sua causa?…
ISABEL – Por minha causa… Todo gentil e garboso na sua farda… Fazendo olhinhos à janela!…
MARIA – O que diz, minha rica menina?… Por isso é que não me sai da janela!…
RAQUEL – Senhora, eu tenho muita prática de homens, sei o que são essas coisas…
ISABEL – Pois olha, há um escudeiro que me quer para casar…
RAQUEL – Jura?…
ISABEL – Sobrinho herdeiro de seu tio…
RAQUEL – E quem é ele, senhora?…
MARIA (Interrompendo) – Um tal Barnabé, um labrego, ainda por cima rico, herdeiro de um bom morgadio…
RAQUEL – Agarre-o com unhas e dentes, senhora. Acredite que isto de maridos, qualquer um serve, contanto que tenha cabedais…
(Cont…)
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Como todo o objecto ritual, a pia baptismal encerra um simolismo geral, concretizado e completado pelo sentido particular atribuído à sua forma.

 A teologia da salvação insere-se pois num simbolismo que recorda a regeneração periódica do tempo e do mundo pela repetição dos arquétipos: «Cada novo ano retoma o tempo no seu início, repete a cosmogonia.» (M. Elíade) assim como o baptismo repete o baptismo de Cristo no Jordão e o ensinamento do primeiro capítulo do Génese de que Spiritus dei ferebetur super aquas.
A teologia da salvação insere-se pois num simbolismo que recorda a regeneração periódica do tempo e do mundo pela repetição dos arquétipos: «Cada novo ano retoma o tempo no seu início, repete a cosmogonia.» (M. Elíade) assim como o baptismo repete o baptismo de Cristo no Jordão e o ensinamento do primeiro capítulo do Génese de que Spiritus dei ferebetur super aquas.
Como as águas têm o poder de regenerar a vida porque nelas se banhou o deus solar, também as águas do baptismo têm o poder de regenerar os homens, porque foram tornadas fecundas pela união misteriosa entre Cristo e a sua Igreja, aquele como esposo, esta como noiva: «Hoje a Igreja uniu-se ao seu Esposo celeste, porque no Jordão, Cristo a purificou das suas faltas.» (antifona de Benedictus).
O elemento aquático está ligado ao feminino, tal como vimos, o solar ao masculino. A água é a Mãe-Terra geradora (mulher divina) ou a Serpente das águas.
A relação que se estabelece entre estes dois elementos – Masculino/Sol e Mãe/Água –, de fundo cosmológico, tem correspondência nos símbolos, onde vamos buscar os princípios necessários para os compreender, porque fazem parte do pathos, que o cristianismo recolheu da herança tradicional e do judaísmo primitivo.
Primeiro, porque o cristianismo não é o judaísmo tradicional, mas sim o profetismo e correntes semelhantes, em que predominam noções de pecado e de expiação, que se exprime na espiritualidade saturada de pathos, em que o Deus Senhor dos exércitos do judaísmo, se transforma no Messias do cristianismo como filho do homem que vai servir de vítima expiatória, persseguido, esperança e salvação dos pecadores. Foi esta concepção de Cristo como rompendo com a lei e ortodoxia judaica, que levou o cristianismo a retomar no estado puro muitos dos temas típicos da alma semita, que depois com o paulismo forma universalizados, independentemente das suas origens.
Porque o cristianismo primitivo era puramente espiritual e místico, não possuía simbolos cosmológicos. Na sua expansão encontrou as tradições das religiões antigas que utilizavam essa linguagem cósmica e, em grande parte, solar, e aceitou-as de forma a mais facilmente se universalizar.
Assim, doutrinalmente o cristianismo apresentou-se como uma forma de Dionismo, porque se formou essencialmente com vista a adaptar-se a um tipo humano de alma agitada, dilacerado, cedentrado na parte irracional do ser, pondo o ênfase na fé da salvação, retomando o tema plásgico-dionisiano dos deuses sacrificados que morrem e renascem à sombra das Grandes Mães.
Não é por acaso que a salvação no cristianismo se inicia por meio de uma mulher anunciada desde as origens e natural seja que o simbolo que a própria Igreja adoptou, fosse o da Mãe (Madre Igreja).
O orfismo favoreceu também a a aceitação do cristianismo no mundo antigo, como profanação da doutrina iniciática dos Mistérios e de outros cultos da decadência mediterrânica, em que existiam mitos de «salvação».
E destes mistérios, espécie de revelação primitiva, de simbolismo tradicional, o princípio sobrenatural foi concebido como «macho» e «fêmea», natureza e devir. No helenismo é masculino o «um» , o «que é em si mesmo», completo e suficiente; é feminina a díada, princípio diferente, o «outro» e portanto o desejo de movimento. No Induísmo, é masculino o espírito impassível – purusha- e feminina a prakti, matriz activa de toda a forma condicionada. Na tradição extremo-oriental este dualismo exprime-se por conceitos equivalentes, em que Yang – o princípio masculino – se encontra associado á virtude do céu e o Yin, princípio feminino, à terra.
É possível a partir daqui estabelecer, por analogia, uma relação inesgotável de oposições: Sol / Dia / Luz / Céu / Fecundação / Engendrar / Masculino / Imóvel / Espírito. Àgua / Noite / Trevas / Terra / Gestação / Conceber / Feminino / Móvel / Matéria.
Estes princípios, sendo opostos, superam-se, quando o princípio feminino, cuja natureza consiste em estar em relação com o outro, se orienta para a firmeza masculina. Esta sintese atinge-se quando o elemento feminino se «converte» ao masculino, que o leva a existir para o princípio oposto. Então, em termos metafísicos, a mulher torna-se «esposa», potência «geradora», que recebe do macho imóvel o primeiro princípio do movimento e forma, conforme também se encontra, de certa forma, no aristotelismo e no neoplatonismo.
E como o cristianismo teve, em particular, de assumir desde inicio a herança das confrarias artesanais, sobertudo dos contrutores, que utilizavam também nos seus trabalhos um simbolismo cosmológico, ligado às antigas religiões, não surpreende encontrarmos temas desse simbolismo também misturados na arte sagrada.
É por isso que esta simbologia ficou gravada também nos restantes simbolos da pia baptismal de Vilar Maior. O elemento Solar já o expliquei em anterior post, nos círculos concêntricos da base. O elemento Feminino e a água nas figuras femininas estilizadas junto ao rebordo, e na corda /serpente que divide dos círculos.
Estes elementos femininos representam a Mãe Virginal de todas as coisas que carrega o ceptro da fecundidade universal e relaciona-se à Vénus–Urânica e à Ishtar babilónica, considerada como a geradora das formas ideais ou os arquétipos a partir dos quais tudo se cria. O seu domínio é o oceano luminoso no qual se reflece o pensamento do criador, cujas ondas correspondem às Àguas do Génese, separadas pelo firmamento das àguas inferiores.
A própria cruz que também se encontra na pia baptismal é um simbolo desta união geradora. O traço horizontal – (sinal de subtração aritemética) é passivo, como a mulher que dorme e descansa no solo, o sentido da amplitude da extensão do mistério ao nível do nosso mundo. O traço vertical I é activo, como o homem de pé, desperto, consciente, o sentido da exaltação, da ascenção aos estadios superiores do Ser, ao céu. A actividade que atravessa a passividade, sugere uma ideia de fecundação, e filosoficamente a cruz diz respeito à união sexual de Deus unindo-se à natureza para engendrar o que é.
Como disse Monsenhor Landriot: «O simbolismo é uma ciência admirável que lança uma luz maravilhosa sobre os conhecimentos de Deus e do mundo criado, sobre as relações do criador com a sua obra, … a chave da alta teologia, da mística, da filosofia, da poesia e da estética e ciência das harmonias entre as diferentes partes do universo e que constituem um todo maravilhoso de que cada fragmento pressupõe o outro e reciprocamente, um centro de claridade, um foco de doutrina luminosa.»
De facto, os simbolos teológicos, apenas são compreensíveis, na maioria dos casos em referência a símbolos cosmológicos que lhes estão subjacentes e servem de suporte. E a arte, pela figuração, como a da pia baptismal de Vilar Maior, ajuda a explicar estes simbolos cosmológicos.
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Como todo o objecto ritual, a pia baptismal encerra um simolismo geral, concretizado e completado pelo sentido particular atribuído à sua forma.

 A pedra em que é feita simboliza a perenidade, a àgua a regeneração. A pia sendo constituída por uma bacia de água redonda, oval ou octogonal, ou por uma concha, representa o oceano primordial, as àguas da Génese, em que o espírito de Deus pairava para obter a criação. È em função a essas águas, que a pia baptismal possui o poder de operar a regeneração, uma recriação.
A pedra em que é feita simboliza a perenidade, a àgua a regeneração. A pia sendo constituída por uma bacia de água redonda, oval ou octogonal, ou por uma concha, representa o oceano primordial, as àguas da Génese, em que o espírito de Deus pairava para obter a criação. È em função a essas águas, que a pia baptismal possui o poder de operar a regeneração, uma recriação.
Oval, como o ovo cósmico, resumo da criação total que se repete analogicamente no nascimento e renascimento de cada indivíduo, imagem da renovação perpétua da vida; Octogonal, porque oito é um número sagrado do cristianismo (oito beatitudes que definem o reino dos céus, o número do oitavo céu – o empíreo -, a oitava cor – branco, a veste dos neófitos -, oito é numero de pontas da Stela Maris, sinal do espírito sobre as águas), concha, porque lembra a matriz universal, que é o continente das àguas originais e dos germes dos seres; evoca o o abismo obscuro da energia criadora, emblema do segundo nascimento; oval, como uma pérola tida como produzida pelo relâmpago penetrando a ostra, fruto da união da água e Fogo, evocando a concha o baptismo na água e a pérola o baptismo no fogo, o nascimento de cristo na alma pelo baptismo do fogo.
O símbolo Solar de Cristo e o simbolismo aquático da pia de baptismo estão relacionados:
– São Macário fala da Luz inefável que é o senhor como «pérola celeste» e do baptismo como «o mergulho que extrai a pedra do mar. Mergulhai (pelo baptismo) extraí da água a pureza que se encontra nela como a péroloa da qual saíu a coroa da Divindade». Dionísio, o Areopagita com o baptismo a «matriz da geração» e a fonte da vida que nos alimenta espiritualmente. Esta fons vitae, e a que britava no meio do Éden, do templo de Jerusalém, nas visões de Ezequiel (13.1) e de Zacarias (13.1) e que foi vista surgir do corpo divino, no gólgota (sô João, 19, 34), essa fonte de àgua e sangue – de fogo- que dá vida eterna e fonte espiritual para o mundo: «Quem tem sede, que venha a mim e beba, e do seu seio brotarão rios de àgua viva» (S. João, 7, 37-38);
– O Baptismo é um rito de regeneração, de recriação espiritual, faz o neófito participar na morte e ressureição de Cristo e na Igreja Universal: «Sepultados com Cristo no baptismo, no baptismo ressuscitastes com Ele pela fé na potência de Deus que o ressuscitou dos mortos» (col.2.12).
O gesto central neste ritual é a emersão na água, que simboliza, como já referimos numa primeira parte deste estudo, a entrada no túmulo, a morte de homem velho; e imersão da àgua que simboliza a ressureição o nascimento do homem novo. O homem pecador é simbólicamente destruído restituído ao estado informe do caos e renasce um homem novo por acção da luz primoridial, correspondendo ao fiat lux da criação original, numa alusão ao Espírito de Deus cobrindo as àguas primordiais e ao dilúvio, imagem de regeneração.
Esta ligação da simbologia solar à aquática estava mais patente na cerimónia perliminar do ritual antigo do baptismo, que já despareceu no ociedente, quando o recipiendário abjurava satanás de mãos estendidas para ociedente, império das trevas, onde se punha o Sol, e consagrava-se de mãos esendidas para oriente, ponto onde renasce Cristo, o Sol.
O banho baptismal é simultaneamente um banho aquático e solar, em que o neófito é baptizado na água e no fogo, sai da água «filho da luz» (Epif.5,8), como quando o sol renasce sobre as águas do mar e que São Gregório Nazanieno referia ao dizer que as águas iluminadas pelo Sol renascente regeneram os novos baptizados que «foram encontrados pelo raio do Sol da única Divindade».
Esta simbologia solar e aquática do baptismo como nascimento espiritual, traduzia-se também nos ritos orientais da epifania cristã, perdidos na a liturgia ocidental, que também era uma festividade do fogo e das águas, em que se realizava uma procissão com archotes, a benção das águas e das fontes, banho comum dos crentes nos rios e fontes santificados, infusão na água de um carvão incandescente, incensamento da água, crisma sagrado, colocação na água de uma cabaça com cinco velas acesas, e regresso à igreja onde se benzia a água baptismal.
A própria benção das águas no rito maronita interpreta o baptismo de Jesus no Jordão também como simbologia solar e aquática: «Naquela noite, o rio Jordão tornou-se ardente de calor, quando desceu a chama (Jesus) para se lavar nas suas ondas. Naquela noite, o rio pôs-se a fervilhar e as suas àguas entrechocaram-se, para serem abençoadas pelos passos do Altíssimo, que vinha ao Baptismo…»
Esta associação da água e do fogo, assemelha-se à doutrina romana do Sol Invictus, e convém lembrar, já vem do oriente não-cristão, em que o solestício de inverno, em que se inicia o renascimento da natureza, era festejado com celebrações epeciais. No Egipto celebravam-se as festividade de Osiris, em que se chorava a morte de Osiris-Sol morrendo no solstício e depois renascia como Harpócrates, Sol-Nascente. Por essa ocasião havia uma procissão com archotes e a água do Nilo transformava-se em vinho e que também é a origem da «festividade da imersão» dos coptas actuais.
Esta religião solar dos antigos, ensinava que o fogo, princípio derivado do Sol, para produzir renovação, a vegetação e a vida universal, se unia à Terra, mas também em primeiro lugar à Água. Nessa fase, o deus solar deve entrar em luta contra o poder das trevas, o qual assume a forma de um dragão que se oculta nas águas; O banho do deus solar destrói o dragão, princípio da morte, e unindo-se às àguas, fecunda-as e permite assim a renovação. Esquema este que já se encontrava na Babilónia, onde Marduque, montado no carro solar, derrota Tiamate, e na India, onde Indra derruba a serpente Vruta que conserva as águas prisioneiras, e na Grécia, onde Apolo vence a grande serpente Pitan e que por intermédio hebraico da luta do Senhor Deus contra o monstro Rahab, chega ao cristianismo: «Naquele momento, com a sua pesada e forte espada, o senhor vingar-se-á da idra, sepente fugidía da idra, serpente Sinuosa, e matará o dragão que está no mar.» (Isaías 27, 1).
A benção das águas no rito arménio também faz alusão a esta luta: «Chegado à margem do Jordão, Teu filho viu o Dragão oculto na água, abrindo as goelas impaciente, para tragar o género humano. Mas o teu filho único, pelo seu grande poder, pisou as àguas sob os seus pés e castigou duramente a fera vigorosa em conformidade com a predição do profeta: Esmagaste sob as águas a cabeça do dragão.»
Existe portanto um paralelismo entre a renovação cósmica da natureza pelo Sol visível, que fecunda as águas e a renovação do homem pela encarnação do verbo, Sol intelegível, que nos deu o baptismo, sinal de regeneração.
(Continua.)
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Recentemente vi, em registo audiovisual, a intervenção do deputado da Assembleia da República eleito pela circulo eleitoral da Guarda, Luís Manuel Meirinho Martins, intrepelando o secretário de Estado da Cultura, José Viegas, acerca do património judaico e para a necessidade de distinguir o «verdadeiro» património do «falso», para que se não «confunda gato por lebre».

 A vila de Sabugal, fundada por Afonso IX de Leão nos fins do século XII, tinha uma feira franca e acolheu uma relevante população judaica («A documentaçâo da primeira metade do século XIV refere-nos comunas de judeus em Castelo Rodrigo, Sabugal e Monforte.» in Tavares, 2000: 121).
A vila de Sabugal, fundada por Afonso IX de Leão nos fins do século XII, tinha uma feira franca e acolheu uma relevante população judaica («A documentaçâo da primeira metade do século XIV refere-nos comunas de judeus em Castelo Rodrigo, Sabugal e Monforte.» in Tavares, 2000: 121).
Ali residiram alguns cristãos novos processados nos séculos XVI e XVII pelo santo ofício, conforme o comprovam estudos feitos recentemente pelo professor Jorge Martins.
Una grande parte do bairro junto ao castelo é de origem medieval e ainda está razoavelmente conservado e revela uma típica cidade da baixa Idade Média.
No grupo de casas imediato ao castelo há ainda várias casas do século XV, que embora de piso térreo, têm os seus vãos de portas e janelas decorados com motivos manuelinos
Perto há outra casa, esta de dois pisos, que tem as arestas da porta de entrada biseladas e mostra um desgaste no umbral direito.
A casa número 3 da rua D. Sancho I, que se encontra em risco de ruir, constitui um exemplo do mesmo tipo de casa, tendo do lado direito da porta o exemplo de cruz peana.
A casa com o n.º 5 da rua Alvarez Cabral tem um desgaste no seu umbral direito e uma cruz de sobremesa gravada na fachada e outras gravadas no lado esquerdo.
Existem ainda outras casas semelhantes um pouco afastadas do castelo, mas ainda dentro da muralha, como o número 6 da rua D. Dinis que tem decorada con motivos manuelinos a entrada e mostra no seu umbral direito um acentuado desgaste.
Há ainda no Sabugal, espalhadas pela vila, nomeadamente nas imediações da Misericórdia, mais casas do século XV que constituem perfeitos exemplos do tipo estudado anteriormente como modelo de casas de judeus burgueses de classe media. Várias de estas casas têm cruzes gravadas na fachada, desgastes na porta ou ambas em simultâneo.
Concluindo…
Não há qualquer dúvida dos vestígios judaicos na vila do Sabugal, a qual tem ainda um bairro baixo medieval quase intacto e digno de preservação.
É «criminoso» o desleixo a que tem sido votado o bairro do castelo, onde se permite a ruina ou recuperação sem qualquer critério das casas quinhentistas e seiscentistas, muitas vezes «nas barbas» da edilidade, que não mexe um dedo para punir os responsáveis, alguns deles até com assento na Assembleia Municipal, nem faz um levantamento e classificação deste património edificado, ou lança mão dos instrumentos legais para obrigar os proprietários a recuperarem este património.
Castelo Rodrigo é, pela cuidada recuperação do seu património, um exemplo que devia ser seguido pela Câmara Municipal do Sabugal que se alheou completamente deste assunto. Mas mais «criminosa» que a inércia da Câmara, são ainda as insinuações daqueles que, tendo altas responsabilidades políticas, menosprezam, nos areópagos do poder, de forma tão leviana o património da sua terra.
«Não devemos esquecer que a Câmara não é uma simples empresa de eventos; nem um deputado a voz do interesse de um grupo de amigos.»
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Recentemente vi, em registo audiovisual, a intervenção do deputado da Assembleia da República eleito pela circulo eleitoral da Guarda, Luís Manuel Meirinho Martins, intrepelando o secretário de Estado da Cultura, José Viegas, acerca do património judaico e para a necessidade de distinguir o «verdadeiro» património do «falso», para que se não «confunda gato por lebre».

 Esta intervenção de Manuel Meirinho estaria correcta, se não tivesse subjacente, como parece, a sua conviccão da inexistência desses vestígios judaicos no Sabugal. Penso que foi este, não outro, o verdadeiro motivo da sua intervenção, porque já tinha ouvido alguns rumores, de alguns defensores da tese da inexistência ou irrelevância dos vestígios judaicos, acerca desta iniciativa.
Esta intervenção de Manuel Meirinho estaria correcta, se não tivesse subjacente, como parece, a sua conviccão da inexistência desses vestígios judaicos no Sabugal. Penso que foi este, não outro, o verdadeiro motivo da sua intervenção, porque já tinha ouvido alguns rumores, de alguns defensores da tese da inexistência ou irrelevância dos vestígios judaicos, acerca desta iniciativa.
As referência históricas à comunidade judaica do Sabugal são antigas, qualquer curioso de história sabe, remontam a D. Dinis, ao século XIV e XV, aos censos de D. Manuel e aos processos da inquisição nos seculos XVI, XVII e XVIII. Contra facta non rimenda!Não há vestígio de qualquer sinagoga no Sabugal, como de resto não há noutras povoações em que há a certeza de terem existido famosas judiarias. Mas daí inferir-se, como muitos pretendem, que no Sabugal não houve judiaria, ou sequer judeus e vestígios judaicos, é estúpido. O mesmo raciocínio levaria à conclusão absurda de que só houve judiarias em Castelo de Vide e Tomar…
Mas se alguma dúvida subsistisse acerca da presença judaica no Sabugal, ela está perfeitamente comprovada nas características arquitectónicas e marcas do casario do seu bairro seiscentista.
A este propósito, seguiremos resumidamente um excelente estudo de Emílio Fonseca Moretón, que pode ser consultado no Anuario Brigantino 2004, nº 27 , com o título «Viviendas de Judíos Y Conversos En Galicia Y El Norte de Portugal», pág. 431 e seguintes.
Diz o autor que a tipologia e morfologia das casas habitadas por judeus e cristãos na idade média era semelhante, porque a vida de um judeu e de um cristão eram semelhantes, salvo nas precrições alimentícias, usos religiosos, festas e descanso semanal.
 O que caracterizava as casas judias era o mezuzá: uma pequena caixa que guardava o rolo de pergaminho com os versículos do Deuteronomio, que era colocada aproximadamente a altura do hombro de uma pessoa adulta, no plano interior da porta, con preferencia do lado direito, da porta de entrada da casa. (fig.1 – Casa de Albuquerque.)
O que caracterizava as casas judias era o mezuzá: uma pequena caixa que guardava o rolo de pergaminho com os versículos do Deuteronomio, que era colocada aproximadamente a altura do hombro de uma pessoa adulta, no plano interior da porta, con preferencia do lado direito, da porta de entrada da casa. (fig.1 – Casa de Albuquerque.)
Quando isto acontece, estamos sem dúvida em presença de uma casa judia. Nos casos em que não exista esta cavidade para a mezuzá, nada nos indica que tenha sido casa de um judeu ou de um cristão.
No entanto existem uma série de características, que podem ser indicios claros de uma casa que foi habitada por judeus:
Na idade média, a casa mais comuns ns burgos e pequenas cidades era de jum ou dois pisos, quase sempre de madeira ou adobe e raramente em pedra, salvo nos locais em que esta abundava.
Desde meados do século XV generaliza-se um tipo de casa, que embora não eclusiva dos judeus, é características destes pelas profissões liberais e ofícios artesanais que estes exerciam.
É uma casa de dois andares: a baixa destinada a oficina, comercio aberto ao público, enquanto no piso superior vivia a família.
O piso térreo tem normalmente duas portas, uma que cortuma ser mis larga qjue dá acesso à oficina ou comércio; e a outra, mais estreita, de acesso a uma escadaria que conduz ao piso superior, onde se abrem na fachada uma ou duas pequenas janelas, quase sempre na verical das portas. Nalgumas os moradores costumavam usar um pequeno banco exterior adosssado numa lateral da fachada que servia para expôr as mercadorias ou banca de trabalho. (fig. 2 – conjunto de casas de Penamacor, séc. XIV-XV.)
 Muitas destas casas ainda se conservam nos dias de hoje, graças ao facto de se situarem em locais que não registaram muito desenvolvmento urbanístico posterior ou porque se enontram em centros históricos protegidos que evitaram a sua demolição.
Muitas destas casas ainda se conservam nos dias de hoje, graças ao facto de se situarem em locais que não registaram muito desenvolvmento urbanístico posterior ou porque se enontram em centros históricos protegidos que evitaram a sua demolição.
Apesar destas casas serem normalmente simples e funcionais, muitas costumam ter algum elemeto estilístico, que varia segundo o grau de pretensão dos moradores.
É frequente que tenham as arestas exteriores dos ombrais das portas e janelas biselados. Outras vezes vezes acresecentou-se-lhes um grau maior de estilo e se decoraram os lintéis das portas e janelas com um falso arco conopial (manuelino) que perdurou muito para além da época manuelina.
Outra das características de uma casa de judeus convertidos é, segundo opinião hoje aceite, as cruzes gravadas na fachada. Frequentemente encontram-se junto à porta de entrada, muitas vezes gravadas no local exacto em que devia estar a mezuzá.
Quando nos encontramos ante uma casa dos séculos XIV, XV, XVI e incluso posteriores com estas características, muito provavelmente estamos em presença de uma casa de conversos ou famílias de cristãos novos.
Os conversos ou seus descendentes uma vez baptizados, podiam ser julgados pela inquisição por suspeita de judaizar (heresia). Ante a perseguição posterior ao seu baptismo, o lógico é quepara protegerem-se proclamassem externamente perante os vizinhos, que conheciam a sua ascendência judaica, e os familiares do santo ofício a sua nova fé, gravando na fachada das casas no lugar antes ocupado pela mezuzá, uma cruz: «a cruz do converso» e que muitas vezes era suprimida e substituída por um pequeno desgaste no lugar do mezuzá e que resultam do afiar ritual e propiciatório dos instrumentos de trabalho.
 Esta cruz que proclama externamente a fé crista não teria nenhum sentido na fachada da casa de um cristão velho, cuja fé é manifesta e fora de dúvida para os seus vizinhos. Ela só faz sentido em casa de conversos ou seus descendentes.
Esta cruz que proclama externamente a fé crista não teria nenhum sentido na fachada da casa de um cristão velho, cuja fé é manifesta e fora de dúvida para os seus vizinhos. Ela só faz sentido em casa de conversos ou seus descendentes.
Porque durante as perseguições da inquisição os cristãos novos eram suspeitos de judaizar ocultamente (marranos), estas cruzes gravadas nas imediações da porta, além de protecção, eram um comprovativo da sua falta de limpeza de sangue. Por tal motivo, estas cruzes só aprecem onde houve judeus, estando por isso documentadas no norte de Portugal: na Guarda, Sabugal, Castelo Rodrigo, Almendra, Pinhel, Caminha, Valença, Monção, Vila Nova da Cerveira, Chaves, Ponte do Lima, Montalegre. Na Galiza: en Allariz, Videferre, A Mezquita, Tui, Santiago.
A cruz algumas vezes consistia em dois traços cruzados, mas em muitas apresentava-se esquematicamente assente sobre um suporte assente sobre um suporte que unas vezes é um triângulo, semelhante à cruz do santo ofício, e outras sobre um traço curvo, estilizando um candelabro invertido, chamadas «cruzes de converso» ou «cruzes de sobremesa».
Para um judeu o símbolo religioso fundamental é o candelabro de sete braços, a menorá, e é representado de forma esquemática como uma linha vertical assente sobre um triângulo ou sobre um traço curvo e cruzada por três linhas curvas apontadas para cima. Ao fazer-se cristão, substitui automática este símbolo apagando quatro braços endireitando os restantes transversais, transformando-a em cruz que assenta sobre uma base como a menorá. Uma espécie de candelabro de três braços.
(Continua.)
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Nos últimos vinte anos assistimos ao fim da divisão da Europa em dois blocos político-militares e à multipolarização do mundo, com o fim da «guerra-fria». A consequência, foi a aceleração da unificação a nível financeiro, económico, social, tecnológico e informativo, do espaço planetário, que já estava em curso com o inicio da era moderna e a que chamamos globalização. (continuação.)

 II – Cidadãos medíocres
II – Cidadãos medíocres
Atingimos assim uma sociedade de «cidadãos medíocres» que não querem ter que escolher o que é digno de estima, e que perdendo esse hábito, têm cada vez mais dificuldade em articular em público questões com um conteúdo moral sério, que lhes parecem violar o espírito democrático da tolerância, porque exigem a escolha entre melhor e o pior, o bem e o mal. Uma sociedade de «cidadãos ignorantes», que segundo Francis Fukuyama, «querem saír por ai abraçando todas as pessoas, dizendo-lhes que por mais miserável e vil que seja as suas vidas, têm, mesmo assim dignidade, são alguém». De cidadãos amorais que «não estão dispostos a excluír, como indigno, qualquer acto ou pessoa».
Sem capacidade de deliberar, ou seja de realizar escolhas políticas, de se comprometer moralmente, o cidadão torna-se indiferente à implicação das decisões políticas no seu futuro, centrando-se na sua privacidade, na satisfação dos interesses próprios do momento e reduzindo a vida política à mera formalidade procedimental que sustenta o status quo, que mais não é, segundo Pascal Bruckner, referindo-se ao execício cíclico do direito de voto, que «mudar de pessoal político como fazemos zapping na televisão, por fadiga das mesmas imagens», escolher apenas aqueles que absorvem catarquicamente a culpa e responsabilidade que os «cidadãos medíocres» afastaram de si.
Como consequência, temos a apetência pelo relativismo, em que todos os sistemas de valores são relativos ao tempo e lugar, não sendo nenhum deles verdadeiro, mas apenas reflexo de interesses dos seus proponentes. Deste ponto de vista, o «cidadão medíocre» acredita que o seu modo de vida é tão bom como qualquer outro e que por tal motivo realiza-se ficando em casa, auto-satisfeito da sua tolerância e ausência de fanatismo.
Não é por acaso que na democracia moderna os cidadãos se preocupam mais com os ganhos materiais e vivem num mundo económico dedicado à satisfação de uma miríade de necessidades do corpo. A felicidade consiste no bem-estar individual, compreendido não como vida feliz, mas atomisticamente, como instante feliz, acesso súbito, casual e fugaz na busca do conforto de uma vida burguesa, em que a privacidade e a satisfação dos desejos individuais é o valor essencial.
Uma «vida nua», sem afectos, apática, acomodaticia, sem, nas palavras do Zaratrustra de Nietzsche, «qualquer crença ou superstição», sem personalidade, incapaz de iniciativa e de resistência, socialmente irrelevante, cedendo à mais leve pressão, sofrendo todas as influências, adaptável a todas as circunstâncias e atenta a qualquer vantagem pessoal, de moral equilibrista e oportunista.
De forma eloquente, Zygmunt Bauman caracterizou a psicologia social destes «cidadãos medíocres»: «Estão fora da sua órbita o engenho, a virtude e a dignidade, privilegios dos caracteres excelentes; sofrem deles e os desdenham. São cegos para as auroras; ignoram a quimera do artista, o sonho do sábio e a paixão do apóstolo. Condenados a vegetar, não suspeitam que existe o infinito para lá dos seus horizontes. O horror do desconhecido os ata a mil prejuízos, tornando-os timoratos e indecisos: nada aguça a sua curiosidade; carecem de iniciativa e olham sempre o passado, como se tivessem olhos na nuca. São incapazes de virtude; não a concebem ou lhes exige demasiado esforço. Nenhum afan de santidade alvoroça o sangue em seu coração; às vezes não delinquem por cobardía ante a culpa.»
E Antero de Quental, no «Ensaio Sobre o Futuro da Música», resumiria esta patologia como um «espírito cheio de esperança e vazio de crenças, alimentando de sonhos um infinito desejo de realidades, triste até à morte, alegre até ao frenesi, atrevido, intemerato – e desolado».
Em suma, uma sociedade de “cidadãos medíocres», incapazes de conceber uma perfeição, de formar um ideal; rotineiros, honestos e mansos; que pensam com a cabeça dos outros, compartillham a hipocrisia moral e ajustam o seu carácter às suas conveniências egoístas. Uma cidadania de homens vulgares, vivendo na contradição intima entre o sentimento de infinita liberdade e uma consciência infeliz, nas palavras de Hegel, porque apesar de livres para agirem e darem o seu contributo individual para uma sociedade melhor, as suas características são imitarem todos os que o rodeiam, pensarem com a cabeça alheia, serem incapazes de ideais próprias, adaptados que estão a viverem em rebanho.
Por isso não me surpreendi quando vi recentemente Julius Assange, numa manifestação de indignados, gritar a palavra de ordem de que «somos indivíduos»; da mesma forma que foi natural o meu apelo de colaboração numa acção popular contra a ilegalidade do atentado ao património, em Sortelha, «cair», salvo algumas honrosas excepções, «em saco roto».
Tudo não são mais que sintomas patológicos do mesmo «espírito cheio de esperanças e vazio de crenças», da «consciência infeliz», que caracterizam os «cidadãos medíocres» da sociedade moderna; dessa «coisa essencialmente moderna» que é a «ambição ilimitada, junto com um doloroso sofrimento, uma fraqueza mórbida, uma vaga e indefinível doença», nas palavras de Antero de Quental.
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Nos últimos vinte anos assistimos ao fim da divisão da Europa em dois blocos político-militares e à multipolarização do mundo, com o fim da «guerra-fria». A consequência, foi a aceleração da unificação a nível financeiro, económico, social, tecnológico e informativo, do espaço planetário, que já estava em curso com o inicio da era moderna e a que chamamos globalização.

 I – A nova cidadania
I – A nova cidadania
A maior transformação que a globalização trouxe, foi o aparecimemnto de uma era pós-política e um novo conceito de cidadania:
Como dizia Carl Schmit na apresentação do seu «conceito político», «o mundo político é um pluriuniverso, não um universo». Isto é, da vida política faz parte um natural antagonismo e afastameno entre os homens e as diversas comunidades.
Porque político, numa perspectiva Schmitiana e tradicional, é a possibilidade de diferenciar soberanamente entre amigo e inimigo, e no mundo, o exercício unilateral de soberania, a globalização, unificando o espaço planetário, facilitando a circulação de capitais, pessoas, bens e informações, num processo de esbatimento de fronteiras, reconfigurou aquele conceito de política.
Alguns autores falam inclusive do aparecimento de uma «nova política», uma «sub-política» na qual os estados, partidos e elites políticas tradicionais já não monopolizam o protagonismo, aparecendo novas iniciativas promovidas por novos actores políticos em que, como refere Ulrich Beck, «as iniciativas dos cidadãos conquistam temáticamente o poder».
Com efeito, como explicava Heidegger no seu Ser e Tempo, o mundo é um totalidade relacional que nada deixa fora da sua estrutura unificadora pela teia global de relações, conexões e remissões, com que permite que tudo se torne mais próximo e «à-mão».
Junger, por sua vez, vê na «moblição total» promovida pela unificação da técnica no espaço planetário, o afastamento do presente temporal das paisagens românticas e isoladas do passado.
Ou seja, a globalização, como estrutura unitária subjacente à totalidade dos entes, permite que cada um seja o que é na quotidianiedade da nossa relação com ele; isto é, um novo tipo de cidadão. A globalização marcando tudo o que é humano pela técnica, impõe aos novos cidadãos já não a opção por políticas diferentes, mas a participação no processo de globalização crescente e inevitável, ou a fuga alienante, romântica e cada vez mais impossível, porque no mundo deixaram de haver clareiras à globalização.
E porque todo este processo é inevitável, as escolhas políticas não fazem qualquer diferença, e consequentemente, qualquer conflito político é hoje indiferente.
É esta crença na indiferença das escolhas políticas que caracteriza hoje a cidadania em geral e na prática política das democracias em que hoje vivemos. Uma consciência da total irrevelância e indiferença das escolhas e decisões politicas realizadas.
Sendo indiferente o que se escolhe, também o pocesso deliberativo, no âmbito do qual são feitas as decisões e as escolhas, é desvalorizado.
Por conseguinte, a «nova cidadania» caracteriza-se pelo crescente abandono da participação política, crescente descrença nas instâncias que na vida democrática têm a incumbência do momento deliberativo das decisões, o descrédito das instituições parlamentares, com gradual transferência das suas funções para as instâncias executivas, e numa arbitrieriedade crescente das decisões, as quais são cada vez mais alheias à crítica e ao debate, à racionalidade deliberativa.
De facto, num mundo totalmemte unificado e cuja mobilização é cada vez mais veloz, os cidadãos valorizam mais as decisões rápidas de governos dinâmicos, que a morosidade do debate, da crítica prospectiva e dos raciocínios deliberativos.
É por isso que os cidadãos das nossas actuais democracias são cada vez mais individualistas, descrentes na participação política e o poder se concentra cada vez mais nas mãos de governos de executivos governamentais e administrativos.
E com a desvalorização da participação política, os cidadãos vão perdendo a capacidade de deliberar, que apenas se adquire e cultiva e através de um processo gradual e lento de maturidade e educação nas virtudes cívicas, pela responsabilização nas decisões e capacidade de enfrentar as cisões e custos individuais que estas implicam.
(Continua.)
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Raia Morena, Raia Mulher Amada, Raia Mulher Rebelde…
 Raia Morena
Raia Morena
Raia, terra da memória distante,
Meu cantar torna-se triste
Quando penso em ti.
Meu cantar de saudade,
Meu cantar, maia em flor,
Que te venho dar.
Raia, terra dos primeiros jogos da infância,
Do perfume dos carvalhos e dos castanheiros,
Das mansas águas da Côa,
Da aridez dos cabeços,
Das sombras frescas dos freixos,
Dos quintais, dos chãos e dos vergéis com os seus mimos,
Dos beirais amigos
Onde a minha alma cansada,
Ao florir da giesta,
Atravessando montes e rios,
Todos os anos
Regressa.
Raia, mulher morena
De olhos ciganos,
Rebelde contrabandista,
Coberta de maias,
Beijo a tua boca em fogo,
Que me fala de amores
Na penubra doce da tarde,
Quando ébria de luz e melancolia,
Atravessa a minha alma
Montes e rios,
Para voltar a ti.
Raia, mulher amada,
Não tenho outra coisa que te dar
Senão um ramo de maias
De intensa fragrância,
Colhidas no teu corpo em flor.
Raia, mulher rebelde,
Meu cantar é um ramo de maias
De intensa fragância,
Quando penso em ti.
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Cinco Castelos, Cró, Côa, Trutas, Capeia e Bucho Raiano. E é disto que o concelho vive. Disto, do mês de Agosto, e de eleições de quatro em quatro anos.

 I – A Côa
I – A Côa
Muitas àguas leva a Côa,
Junto à vila do Sabugal;
Quando as àguas vão crescidas,
Ninguém passa no pontal.
O meu rio vai tão cheio,
Que não o posso atravessar!
Vai cheio de mil dores…
Ninguém o póde passar!
Foje a Côa, fujo eu,
Cada um com o seu fado,
Sempre em direcção ao mar,
Qual de nós o mais pesado?
Eu levando meus desgostos;
Ele, a rama dos salgueiros…
Qual de nós o mais pesado,
Correndo ambos ligeiros?
Mas debaixo da velha ponte,
Onde a àgua faz remanso,
Quando beija os salgueiros,
Tem a Côa bom descanso.
As àguas do arco grande,
Aos pés da velha muralha,
Em noite de lua cheia,
Há lá melhor mortalha?
O luar batendo nas àguas,
E nos salgueiros como ladrão,
Assim me roubou a Côa,
A alma e o coração.
Estas àguas da velha ponte,
Por querer seus amores,
Na alma me deixaram,
Mil penas e mil dores.
Mansas àguas tem a Côa,
E salgueiros ao Luar!
Mas quando a cheia é de máguas,
Ninguém as póde passar!
Obs: O meu avô Lourenço Martins, devido à sua conhecida paixão da pesca, foi o homem do concelho do Sabugal que mais conheceu e amou o Côa. Ele tratava o rio como mulher; «a Côa», pela fertilidade das suas águas. Este poema é, glozando uma cantiga de Antero de Quental, homenagem aos dois.
II – D. Pixote de La Raia
Era uma vez um certo país longínquo, em cujo Interior profundo havia uma pequena e histórica aldeia.
Nesta pequena e histórica aldeia havia um castelo com muralha envolvente; dentro da muralha, varias casas; fora da muralha, mais casas; e numa destas casas, vivia um homenzinho.
Era uma vez um certo país longínquo, em cujo interior profundo havia uma pequena e histórica aldeia; e nessa aldeia, um homenzinho que gostava de pás giratórias.
O homenzinho sonhou numa noite que seria bom ter moinhos junto às casas, à muralha e ao castelo daquela pequena aldeia do interior profundo, desse país longínquo.
Depois, o homenzinho enfadando-se do seu ócio diário, quis fazer os moinhos com grandes pás giratórias; e vieram operáros que abriram alicerces, junto às casas, à muralha e ao castelo daquela pequena e histórica aldeia do interior profundo, desse país longínquo.
E o homenzinho, visitando a obra, feriu-se num desses alicerces, abertos junto às casas, à muralha e ao castelo daquela pequena e histórica aldeia do Interior profundo desse país longínquo.
Veio então uma máquina voadora com umas grandes pás giratórias buscar o homenzinho daquela pequena e histórica aldeia do interior profundo, de um país longínquo…
Abreviando a História:
Era uma vez um homenzinho obececado em pás giratórias, que um dia andou de helicóptero!
III – Descendo à terra
Agora, que já assentou no Largo da Fonte a poeira do bailarico do Quim Barreiros, vamos às contas da festa.
O Sabugal é das mais enfadonhas, tristes e melancólicas vilas do Interior. Há várias razões para isso: O extremo das amplitudes térmicas do clima; a monocromia da paisagem, que só muda uma vez por ano, com as maias; as águas duras e indigestas da Côa, que tudo conjugado, dobram as vontades, embrutecem as inteligências, produzindo um mal de tristeza nas gentes.
Deste mal de tristeza – origem das mais diversas enfermidades do corpo, do espírito e do carácter – vemos apenas alguns dos sintomas que explicam como na política local se debatam sempre as velhas questões, sempre as mesmas, sem estudo, sem elevação, sem ideias, sem firmeza, sem novidade.
Mas a câmara municipal quiz capacitar-nos, pelo contrário, num programa televisivo, que nos corredores dos paços municipais fervilham ideias, projectos, realizações, que num esforço sobrenatural da intervenção da providência nas sobreditas limitações da condição humana, por milagre, mudarão o destino e a sorte dos seus munícipes e o futuro do concelho, trazendo a gente e dinheiro que faltam.
A câmara, finalmente, após dois anos de retiro para reflexão e estudo, veio apresentar-se aos munícipes e ao país, como corpo pensante, deliberativo e executivo de uma política concertada para o concelho!
E em que consiste essa política?
Cinco Castelos, Cró, Côa, Trutas, Capeia e Bucho Raiano. E é disto que o concelho vive. Disto, do mês de Agosto, e de eleições de quatro em quatro anos.
Numa conjuntura normal, espalhando-se ao país a notícia deste grande projecto civilizacinal, todo o país deprimido viria ao Sabugal comer o nosso cabrito, o bucho e a truta, esvaziar os nossos pipos, pescar nos açudes os mais saborosos bordalos e os mais grossos barbos, banhar-se no Cró, palminhar os nossos caminhos de onde melhor se avistam os brancos casarios das aldeias, emergindo por entre os carvalhos e castanheiros, ao longo de campos de giestas em flor.
Mas não é assim, porque é de notar que a tão cantada Riba-Côa que supomos ser o coração do paraíso terrestre, é tão extremamente pobre, relassa e deprimida como todo o resto do país.
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Era uma vez um certo país longínquo, em cujo interior profundo havia uma pequena e histórica aldeia.

 I – D. Quixote – O que é isto?
I – D. Quixote – O que é isto?
(A Leonardo D’Avinci – Sabugal)
Nos tempos medievais dos campeões andantes,
E das baladas como a dom bom rei de thule,
Andava D. Quixote em busca de gigantes,
Magro, tristonho, ideal, crente Fausto do Sul.
Batalhador juiz da Virtude e do Crime,
Defendendo o oprimido, a mulher, o ansião,
Corria o mundo assim, ridiculo e sublime,
Em seu magro corcel, sob arnez de cartão.
Cheio de tradições, o velho mundo absorto,
Da banda do meio dia, ouvia o seu tropel.
E como insectos vis sobre um carvalho morto,
Riam as multidões do ultimo fiel.
Ia triste a cismar, com a alma abatida,
Nos caminhos do mal rasgando as ilusões
Magro Fausto do Sul, buscando a Margarida
Cheio de apupos vis, d’escarneos e irrisões.
Vinha de batalhar espancado e abatido,
Cheio de contusões e lodos d’atoleiros,
E ao pé montado um burro, e o escudo já partido,
Sancho Pança a Matéria , e o rei dos escudeiros!
Vinha sereno e grave, escarnecido e exangue,
Emagrecido e calmo em meio dos estorvos,
-Vinham ladrar-lhe os cães, e pressentindo sangue,
Grasnavam-lhe em redor bandos negros de corvos.
Sancho Pança fiel, vasculhava a escarcela,
E ascultava a borracha emudecida enfim;
Enquanto o herói cismava, inclinado na sela,
Na conquisa ideal do escudo de Membrin.
Paravam aldeões, lavradores crestados;
Vinham à porta as mães, fiando linho fino;
E os magros charlatães viam passar, pasmados,
Na sombra d’um cavalo o extremo paladino.
Dançavam os truões; as suas enxurradas
Com a lodosa voz, perguntavam: Que é isto? –
Satan n’um coruchéu, dizia às gragalhadas:
– Ó campeão do Bem! Ó vitima de Cristo!
(Gomes Leal, in Claridades do Sul)
II – Por Terras De Riba-Côa
Fui a Riba-Côa em trabalho. À espera tinha o Romeu e a Talinha com quem jantei na Ramitos, nos Fóios, na companhia de uma simpática família de emigrantes. O cabrito assado, acompanhado de um molho vinagrete, estava divino; o vinho bom, da casa, na temperatura certa; os companheiros de mesa, hospitaleiros e simples, como é costume da gente da raia, admitindo sem cerimónia um convidado de última hora.
No dia seguinte, pela manhã, uma visita ao museu do Sabugal, onde se pode ver uma boa exposição de pintura sobre a Capeia, de Alcino Vicente, com bastante prefusão de cor e movimento. O espólio do museu está bem organizado, também é digno de visita, e abarca da pré-história aos tempos modernos. Um pequeno reparo: Uma chamada para um fotograma de monumento do acervo do museu de Vilar Maior, como sendo uma «alminha popular» devia ser corrigida para «estela pré-histórica». Nesse dia o almoço foi na Trutalcôa, em Quadrazais, com o Sr. Presidente da Câmara. De entrada umas trutas de escabeche a abrir o palato a um tinto Penca; de seguida uma saborosa posta de vitela, tenrinha, assada na brasa, para terminar o vinho. De sobremesa, um queijo semi-curado, acompanhando um La Mancha tinto. O resto da tarde, passou-se em conversa amena, a dois, pelo viveiro, à sombra do arvoredo, e regresso ao Sabugal.
À noite, o excelente jantar na Casa do Castelo, na companhia do Romeu e da Talinha. Uns lombinhos de pescada fritos, acompanhados de arroz, salada de tomate e pimento em conserva; o vinho, um tinto Bons Amigos, da adega das Cortes, Leiria, oferecido pelo almirante Manuel Raúl. A conversa foi sobre diversos assuntos culturais do concelho: O novo livro do professor Jorge Martins, que vai sair em colaboração com o Kim Tomé; a próxima visita particular do Manuel António Pina aos seus amigos Talinha e Romeu, para matar saudades da casa onde nasceu; o episódio da senhora judia, filha de um alto dignatário das Nações Unidas, que chorou convulsivamente junto ao armário e prova a cada vez maior internacionalização da casa; a visita do Joaquim Pinto de Sousa e do Joaquim Tenreira para meados de Agosto; e outros assuntos a que a discrição de uma cúmplice amizade impõem o manto da reserva.
No dia seguinte, depois de alinhavado o assunto que me trouxera, passagem pela Casa do Castelo para a despedida: Dois dedos de conversa, a compra de dois números da revista Sabucale, algumas compotas e um licor, e enquanto a Talinha atendia uma arquitecta e pintora Lisboeta, excelente freguesa que voltará pelo fim de ano, eu tentei despachar um casal de funcionários de um organismo internacional em Genebra, que me exigiu, na hora, uma palestra abreviada sobre o criptojudaísmo, a emigração safardita para a Holanda, Brasil e colónias da Nova Inglaterra e sobre a obra do resgate.
A saída foi por Sortelha, para agradecer à Nide o licor, e de onde parti carregado com mais um licor e compotas e deslumbrado com a agradável surpresa da ermida árabe, convertida à invocação de S. Cornélio, de arquitectura semelhante das que existem em Alvor, Algarve, à entrada da aldeia, do lado direito da estrada que vem do Sabugal.
Por fim, um desvio por Manteigas, que se pretendia breve, mas que as lembranças da infância e a amizade antiga e fraterna do Luís e da Fernanda prolongaram agradavelmente até à noite, em volta de uma boa mesa e à mão de uma boa garrafeira de Quinta Dos Termos.
A chegada a Leiria foi penosa, pela madrugada, e com mais um queijo da serra na bagagem!…
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Era uma vez um certo país longínquo, em cujo interior profundo havia uma pequena e antiga vila…

 I – Pranto de Alzira
I – Pranto de Alzira
A lua já se pôs,
As Plêiades também:
Meia-noite; foge o tempo,
E chora um mocho,
No silêncio do jardim.
Vem, meu amado.
Vem até este gracioso bosque de macieiras, onde a água fresca canta entre as raizes das árvores, e a trémula sombra da figueira desce um sono pesado sobre as minhas pálpebras.
Vem, meu amado.
Trancemos juntos multiflores coroas de ramos de sândalo e murta,
Que pomos em meus cabelos,
Vem, segreda-me palavras doces ao ouvido, e minha alma te ouvirá cativa e amorosa, e as nossas noites serão como os regatos tranquilos cobertos de flores primaveris, ou roseiras brancas, cujo perfume a brisa sopra docemente, em fragâncias doces ao olfacto;
E meus lábios serão teus lábios, meus cabelos serão os teus cabelos, como a raiz é da flor, a flor é da abelha e da abelha é do pólen.
Vem, decansa a cabeça nos meus seios, bebe a doçura da minha boca, que eu sou o mel de que teus lábios gostam.
Vem, amado do meu coração!
Vem; vem, que toda eu te quero!
Vem; procura o calor das minhas coxas,
Que começam a estremecer;
E verás como, chamando-te com as minhas mãos, e puxando-te para o meu leito, um fogo urgente me sobe pela carne, um frio suor me recobre;
E como, no transporte doce da minha alma,
Sacudindo os cabelos orvalhados de estrelas,
Pálida, perdida, febril,
Um frémito me abalando…
O corpo se me arrepiando…
Respirando a custo…
Caio num langor profundo…
E morro.
Cai a lua, caem as plêiades;
Meia-noite; passa o tempo,
E eu, aqui deitada, sozinha,
Ouvindo o pranto do mocho,
Nada mais ouvindo que o pranto,
Morrendo de tristeza.
II – Fábula do Castelo
Era uma vez um certo país longíncuo, em cujo interior profundo havia uma pequena e antiga vila.
Nesta pequena vila havia um castelo; defronte desse castelo, um largo; deitando para o largo, varias casas; e numa dessas casas, um estabelecimento; nesse estabelecimento, passando-se um guarda-vento exterior, um andar térreo com dois cães e uma mulher franzina a receber os visitantes; e na cave, uma cozinha com sala anexa; e na sala um armário.
Era uma vez um certo país longíncuo, em cujo interior profundo havia uma pequena e antiga vila.
Nesta pequena vila havia uma câmara; na câmara uma empresa; na empresa um funcionário.
O funcionário da empresa da câmara da pequena vila do interior profundo do país longíncuo, avisou a senhora franzina que estava com dois cães no estabelecimento da casa do largo do castelo da pequena vila antiga do interior profundo desse país longíncuo, que um grupo de pessoas iam ver o armário que havia na sala da cave do estabelecimento da casa do largo do castelo da pequena vila antiga do interior profundo desse mesmo país longínquo.
A senhora franzina que estava com dois cães no estabelecimento da casa do largo do castelo da pequena vila antiga do interior profundo do país longínquo, esperou.
Inutilmente esperou, porque tudo não passou de uma partida do funcionário que havia na empresa da câmara da pequena vila do interior profundo de um país longínquo!
III – Mykonos
Sobe-se a rua estreita, ladeada de casas brancas com portadas e sacadas azuis, como é costume nas pequenas aldeias gregas, estendidas sobre as escarpas do mediterrâneo com águas de azul intenso.
Num recanto, ao cimo dessa rua, um pequeno chafariz, cuidadosamente caiado, e uma bilha de duas asas, como as que havia nos chafarizes de algumas das nossas vilas alentejanas, convidando os viajantes a dessedentarem-se.
O barril da água, grego, tal como o alentejano, tem o mesmo feitio; e duas orelhas. O mais interessante é que os alentejanos, tal como os gregos, pegam-lhes pelas orelhas e dão-lhes um beijo, um beijo sequioso, quando querem beber.
Curiosamente, na antiga Grécia, uma forma carinhosa de cumprimento era dar um beijo na fronte e, ao de leve, puxar pelos lóbulos das orelhas.
A esta forma de beijar, davam os gregos o nome de «cytra», nome que puseram também, pela semelhança do beijo ao gesto de beber, a estes barris de duas asas:
«Chose curiose, les grecs avaient une façon a eux de s’embrasser. En déposant un baiser sur le front de la perssone aimée, on lui tirait, en meme temps les oreils, et ce baiser, qui nous paraitrait irrespecteux, reçut le nom dune vase à deux anses, la chytra», como refere W. Froenner, na Anthropologie des vases grecs, La chronique Medicale, n.º 6, 1926, pág. 165.
Num pequeno chafariz de Korfos, o mesmo sol abrasamdo a carne, a mesma luz âmbar à tardinha, a mesma água consoladora da fonte, a mesma bilha de duas asas; todo o Alentejo distante!
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Vem, meu amado.
Vem até este gracioso bosque de macieiras, onde a água fresca canta
entre as raizes das árvores, e a trémula sombra das figueiras desce um
sono pesado sobre as minhas pálpebras.
Vem, meu amado.
Segreda-me palavras doces ao ouvido, e minha alma te ouvirá cativa e
amorosa, e as nossas noites serão como os regatos tranquilos cobertos
de flores primaveris, nenúfares brancos, cujo perfume a brisa sopra
docemente, em sonhos de amor.
Meus lábios serão teus, meus cabelos serão os teus cabelos, como a
raiz é da flor, a flor é da abelha e a asa é do pólen.
Vem, decansa a cabeça nos meus seios, bebe a doçura da minha boca, que
eu sou o mel de que teus lábios gostam.
Vem, amado do meu coração!
Vem; vem, que toda eu te quero!
Vem; procura o calor das minhas coxas
Que começam a extremecer.
O amor é mais doce,
Feito ao amanhecer.
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Em Portugal fizeram-se obras públicas que não estão de acordo com os nossos recursos próprios; lançaram-se impostos e contrairam-se empréstimos, em desproporção com o rendimento disponível; há desiquilíbrio entre o sector primário e os restantes; Não se compensou o aumento da despesa, com medidas económicas reprodutoras de riqueza e temos excessiva carga fiscal.

 A consequência de tudo isto foi o esgotamento sucessivo das disponibilidades de rendimento, de forma que, para resolver o deficit se teve de recorrer aos empréstimos, com aumento da dívida soberana, e mais aumento de impostos.
A consequência de tudo isto foi o esgotamento sucessivo das disponibilidades de rendimento, de forma que, para resolver o deficit se teve de recorrer aos empréstimos, com aumento da dívida soberana, e mais aumento de impostos.
O problema é que a elevação dos impostos tem influência sobre a produção, o crédito e o rendimento disponível, pelo que o grande desafio não devia estar na extinção do deficit, mas na maneira de extinguir este sem afectar de mais o rendimento de que depende toda a economia.
A solução devia por isso, no caso português, ter passsado pela redução de todas as despesas que não fossem produtivas, e do imposto ter sido acompanhado de medidas verdadeiramente económicas e de operações que pudesem reduzir a dívida pública.
Acesce que no caso de aumento da colecta para compensar o deficit, quer pelo aumento dos impostos directos sobre o rendimento, quer pelo aumento dos impostos indirectos sobre o consumo, diminui o capital disponível ao sector produtivo, o que não é de desprezar quando ele já é escasso, como em portugal.
De facto, o capital disponível de um país, resulta dos excessos continuados da produção sobre o consumo. Não havendo reservas de capital resultantes desses excessos, como tem sido o nosso caso, não há progresso económico, porque é do capital economizado, que uma parte se destina à produção directa, e a outra, ao invetimento para o futuro.
Ora, quando a reserva de capitais é insuficiente para ambas ao mesmo tempo, paraliza e diminui a produção, ou diminuem as disponibilidades de rendimento dos empresários e dos trabalhadores; e de duas uma: aumentam os preços dos bens com a restrição ao consumo, ou aumentam as importações com recurso ao crédito.
Se houver capital necessário à produção, o país produz o suficiente para fazer com o estrangeiro trocas reciprocas equilibrando a balança de transacções. Mas se o capital disponível for sistematicamente aplicado em consumo não produtivo, ou canalizado para o aumento dos impostos, como tem acontecido sistematicamente no nosso país, o capital disponível diminui, e diminuem os bens de consumo, tornando necessária a sua importação, que tem de ser paga em dinheiro.
Mas nós estamos, como é sabido, na rotina de gastar muito, de gastar mal, de produzir pouco para o que consumimos. A consequência é que não criamos riqueza que disponibilize capital suficiente para as importações, pelo que recorremos sistemáticamente ao crédito.
E quanto mais dinheiro pedimos, mais caro ele se torna, o que faz com que troquemos os bens comprados, que não aumentaram de valor, por moeda, que se valorizou excepcionalmente. Estamos a dar uma coisa cada vez mais valiosa, o dinheiro, em troca de outras cada vez menos valiosas, os bens importados. O crédito sistemático a que temos recorrido, não supera portanto a falta de recursos, antes os diminui, além do que é, pelo seu reembolso com juro, uma antecipação por conta da nossa produção futura.
Convém por conseguinte que, aumentando as receitas fiscais, pela ampliação da materia colectável na actividade produtiva, se empreguem mais criteriosamente os nossos recursos em capital circulante, que é o mais activo e remunrador de imediato , e se crie uma ampla fonte de receita desenvolvendo as industrias agricolas e a pesca, únicos sectores que podem começar a salvar o país.
Mas para que aumente a receita fiscal sem tirar recursos à economia, tem de se criar riqueza, nunca aumentar os impostos, como se tem feito, o que é um erro económico num país como o nosso, com falta de capital disponível para investir no sector produtivo, por ser aplicado sistematicamente aos bens de consumo e ao pagamento do deficit da balança de transacções.
As grandes obras, que não correspondem aos nossos recursos, ao capital disponível, o déficit da balança de tansacções, a dívida externa exagerada e a juros incomportáveis, o crédito mal aplicado, os impostos elevados, foi o que tornaram grave a situação financeira do país.
Mas o absurdo é que persistimos no erro do aumento de impostos para a diminuição do deficit, quando é pela criação de riqueza geradora de matéria colectável e capital disponível, que a recuperação da economia se faz.
Contudo, não havendo um sector primário forte, de nada serve todo o ouro que o país consiga juntar. Para evitar a maçada de mais linguagem técnica, a importância da agricultura explica-se bem pelo seguinte conto:
Diz-se que um rei, tendo achado no seu reino algumas minas de ouro, empregou a maior parte dos seus vassalos a extraír o ouro dessas minas; e o resultado foi que as terras ficaram por cultivar, havendo uma grande fome no país.
Mas a rainha, que era prudente e que amava o povo, mandou fabricar em segredo frangos, pombos, galinhas e outras iguarias, todas de ouro fino; e quando o rei quiz jantar, mandou-lhe servir essas iguarias de ouro, com que ele ficou todo satisfeito, porque não compreendeu, ao princípio, qual era o sentido da rainha; mas, vendo que lhe não traziam mais nada de comer, começou a zangar-se.
Pediu-lhe então a rainha, que visse bem que o ouro não era alimento, e que seria melhor empregar os seus vassalos em cultivar a terra, que nunca se cansava de produzir, do que trazê-los nas minas à busca do ouro, que não mata a fome nem a sede, e que não tem outro valor além da estimação que lhe é dada pelos homens, estimação que havia de converter-se em desprezo, logo que ouro aparecesse em abundância.
Esta Rainha tinha Juízo.
Juízo que, por tudo o que se vem dizendo, nos falta a nós.
É por isso que somos lixo!
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Não foi por acaso o relevo que demos à Ordem do Pereiro, no contexto da ocupação Leonesa de Riba-Côa. Esta ordem, posteriormente designada de Alcântara, tinha possessões no Médio Côa e na Estremadura castelhana, na Serra da Gata (Elges, Valverde e Navas Frias) e na Serra de S. Pedro de Albuquerque, a Norte de Badajoz, o que implicaria, como veremos adiante, uma acção preventiva de D. Dinis, para garantir a retaguarda da hoste portuguesa, aquando da campanha de 1296, também chamada, da Guarda, sobre Valladolid.

 As fontes portuguesas, nomeadamente a Crónica de Portugal de 1419, a Monarquia Lusitana, e a Crónica de D. Dinis, a Crónica Geral de Hespanha, dão como motivos para a campanha de 1296, os seguintes:
As fontes portuguesas, nomeadamente a Crónica de Portugal de 1419, a Monarquia Lusitana, e a Crónica de D. Dinis, a Crónica Geral de Hespanha, dão como motivos para a campanha de 1296, os seguintes:
a) O não cumprimento da clausula de casamento da nossa infanta D. Constança com Fernando IV, acordada em 1291 e reafirmada em 1295.
b) A não demarcação da fronteira, conforme o previsto na trégua de Setembro 1295, em Ciudad Rodrigo.
E estas são, resumidamente também, as razões que a nossa historiografia dão para a campanha de 1296.
Contudo, alguns autores, como o espanhol Manuel Gonzagalez Jimnez, dão como motivo a aliança de D. Dinis com Jaime II de Aragão (casado com D. Isabel, irmã deste) para a quebra de hegemonia do império de Castela, que reunira, sob o domínio de Afonso X os reinos da Galiza, Leão e Castela, ou, como pretende também o espanhol Gonzales Minguez, o recurso de D. Juan face às dificuldades aragonesas no cerco de Mayorga Del Campo, o que está mais de acordo com a crónica de Fernando IV, de Fernán Sanchez.
O contexto em que se deu a campanha foi o do «pleito sucessório» espanhol. Morrendo Fernando de Lacerda, filho primogénito de Afonso X, originou-se a guerra civil de 1282-1284 em torno desta descendência pela coroa de Leão e Castela, entre Sancho, filho também de Afonso X, e Afonso, filho de Fernando de Lacerda, acabando por suceder aquele, com o nome de Sancho IV, a Afonso X.
Entretanto, falecendo Sancho IV, doze anos após, deixando como herdeiro uma criança de dez anos, fruto do seu casamento, canonicamente anulado por motivos de parentesco não dispensado entre nubentes, com Maria de Molina, que implicava a bastardia do herdeiro, D. Fernando IV, suscitando novamente a legitimidade de Afonso de Lacerda, que Aragão apoiava militarmente.
Em campo surgiu também o Infante D. Juan de Lacerda, igualmente filho de Afonso X, que exilado em Granada, procurou o apoio de D. Dinis, pelo tratado da Guarda, de Julho de 1295, de que saiu a nossa declaração de guerra a Castela, mas da qual não resultaria qualquer acção armada, apesar da mobilização da hoste, porque seria assinada a trégua de 6 de Setembro de 1295, de que resultou a reafirmação do referido acordo de casamento (previsto no acordo de 1291), a demarcação da fronteira para fim desse ano, e a entrega a Portugal das vilas de Noudar, Serpa, Moura e Mourão, Aroche e Aracena.
Em Janeiro de 1296, Jaime II formaliza o seu apoio a Afonso de Lacerda e patrocina um acordo deste com seu irmão, D. Juan de Lacerda, dividindo o reino de Castela, cabendo àquele Castela, Toledo, Córdova, Múrcia e Jaén, e a este Leão, Galiza e Sevilha, o que torna inevitável a hostilidade de Fernando IV.
Por sua vez, D. Dinis reúne nesse Verão, a sua hoste na Guarda. O conluio com Jaime II é evidente, pois a própria declaração de guerra deste a Fernando IV, efectuada em Março, fez-se em nome de Aragão, dos rei de França, Portugal, Sicília, Granada e dos Infantes de Lacerda.
A campanha começou, da parte de Aragão, na Primavera de 1296, dirigida pelo Infante D. Pedro, avançando de Ariza até Leão, onde se juntou a D. Juan de Lacerda, e depois até Sagun, indo cercar, de Maio a 28 de Agosto, Mayorga Del Campo, praça estratégica na defesa e Valladolid, cidade onde se encontravam Fernando IV e Maria de Molina.
Entretanto, Jaime II invade o reino de Múrcia, que conquista, enquanto Muhamad II de Granada toma Quesada e Alcoudete e D. Dinis inicia a sua aproximação à Guarda, desde Santarém, passando por Coimbra, onde se detém de Junho a Agosto.
Sabemos que entre 13 e 15 de Setembro D. Dinis se encontrava na Covilhã, data a partir da qual não há qualquer produção de cartas régias, por um período de cerca de mês e meio, que é o tempo que, com toda a probabilidade, durou a campanha.
O início da mesma, já depois do levantamento do cerco de Mayorga, devido à peste, prende-se possivelmente com o facto de as forças aliadas ainda posuirem alguma vantagem territorial e numérica, e para se não desperdiçarem os recursos que já desde 1295 vinham sendo reunidos para esta guerra, com a eminente entrada o Inverno, que inviabilizaria qualquer acção.
Previamente, D. Dinis reparara todas as fortalezas da fronteira, do Minho ao Alentejo; reorganizara a estrutura do comando militar; salvaguardara a rectaguarda do exército, assegurando a neutralidade da Ordem de Alcântara (antiga Ordem do Pereiro), que tinha domínios em Riba-Côa, com a doação da Igreja de Santa Maria de Seia e pela compra e ocupação de Coria, praça-forte nas imediações de Alcântara; tornara vassalo D. Sancho de Ladesma, senhor das vilas do Alto-Côa; reforçara a linha da raia com Ordens militares fiéis, como os Templários em Vila de Touro, e a Ordem de Avis, a Sul.
Partindo da Guarda, depois de meados de Setembro, em direcção a Ciudad Rodrigo, Salamanca, onde se juntou aos aliados, progrediu para Tordesilhas, detendo-se em Simancas, numa tentativa de pressionar Valhadolid, em jornada de cerca de 300 Km, em que gastou perto de 15 dias, atento o ritmo de progressão de um exército medieval daquelas características, enquanto as milícias de Elvas conquistavam Campo Maior e Alvalade, e a Ordem de Avis travava, em Arronches, a contraofensiva de Alfonso Perez Guzmán, Mestre de Santiago, e a frota Portuguesa vencia a de Sevilha, ao largo de Sines.
Ou por as forças invasoras não serem suficientes para acometer e sitiar Valladolid, ou porque alguns nobres comprados por Fernando IV, que entretanto conseguira cunhar moeda e recrutar novos contingentes e subornar a nobreza, abandonarem com as suas mesnadas os infantes de Lacerda, D. Dinis retirou para Medina Del Campo, na terceira semana de Outubro; mas porque D. Afonso e D. Juan de Lacerda, já sem apoios, retiraram para Aragão e Leão, respectivamente, D. Dinis acabou também por retirar para Portugal, pilhando e arrasando tudo o que encontrava no caminho.
Outro motivo para a retirada, e que aparece em pouco estudiosos da matéria, é que teria havido um acordo de Fernando IV e Maria de Molina com D. Dinis, para que este partisse (Crónica Geral de Hespanha d 1344, Conde D. Pedro, cap. DCCXIX p. 245 e Crónica de D. Dinis, Rui de Pina, cap. IX, p.247).
É certo que tanto o Conde D. Pedro e Rui de Pina ao referirem apenas que «pediram a D. Dinis que partisse», omitem qualquer contrapartida.
Mas Fernan Sanchez é mais explícito ao referir que D. Dinis recebeu um mensageiro que lhe «pediu que fosse, que se lhe entregaria Castelo Rodrigo, Alfaiates e Sabugal».
E o que sabemos das fontes é que no início de Novembro de 1296 a hoste de D. Dinis entrou em Castelo Rodrigo, no dia seguinte seguiu para Alfaiates, e depois para o Sabugal, ocupando as principais praças de Riba-Côa, sem qualquer resistência ou as violências que cometera na retirada, segundo a Crónica de D. Fernando IV, Cap.II, P.36-37.
E a maior prova de que a entrada foi pacífica e sem qualquer resistência, é que D. Dinis nem precisou de se demorar por Riba-Côa, pois a oito de Novembro Já se encontrava em Trancoso, onde emitiu as primeiras cartas régias após mês e meio de silêncio, e confirmou os privilégios das vilas de Riba-Côa.
Bibliografia:Francisco Brandão, Monarquia Lusitana, Quarta parte, INCM, 1974, fols 247 e ss.
Humberto Baquero Moreno, As relações de Fronteira no século de Alcanizes, in Jornadas Luso-Espanholas de Hist. Medieval, Actas, Vol. I, Porto, FLUP, 2000, p.644 e seg
César Gonzales Minguez, Fernando IV, Plascência La Olmeda, 1995, p. 38
José Augusto Pizarro, D. Dinis, Lisboa, C List. 2005, pp. 108 e seg.
Fernando Sanchez, Crónacerda de D. Fernando IV, Tomo I, Madrid, Real Academia de História, Cap. II pp. 33 e seg.
Manuel Gonzalez Jimenez, Las relaciones entre Portugal e Castilha durante el siglo XIII, IV jornadas luso-Espanholas de Hist. Medieval, Vol. I, Porto, FLUP, 2000, p.16
Crónica geral de Espanha, Lindley Cintra, 1990, cap.DCCXIX, pp. 244 e seg.
Crónica geral de Espanha, 1344, cap. DCCXIX p. 245
Visconde de Santarém, Corpo Diplomático Português, tomo1, Paris, Ailland, 1846, p. 46 e seg
Jerónimo Zurita, Anales de La Corona de Aragón, Zaragoza, 1610, Tomo I, Livrp V, fol. 367
Crónica Del Rey D. Dinis, Porto, Lello & Irmãos, 19777, cap. VIII, p. 246 e seg
Vergínia Rau, Itenerários Régios Medievais I, Itinerários Del Rey D. Dinis, 1279-1326, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1962, pp. 46 e seg.
Saúl António Gomes, Doc. Medievais de santa Cruz de Coimbra, IANTT, in estudos Medievais, n.º 9, 1988, doc. 22 p. 95-96, doc. 24 p. 96-97.
Mario Barroca, D. Dinis e a Arquitectura Militar Portuguesa, in IV jornadas luso-Espanholas de Hist. Medieval, Vol. I, Porto, FLUP, 2000, pp.801-822
Gama Barros, História da administração Pública em Port. dos séc. XII a VV, vol. V, Lisboa, Sá da Costa, 1948, p. 232.
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Hoje, e na próxima semana, com a concisão de argumentos que impõe um blogue, vamos glosar duas teses sobre Riba-Côa, muito difundidas por alguma da nossa Historiografia; a saber: A hipotética conquista do território pelo nosso rei D. Afonso Henriques e posterior perda para os mouros ou leoneses, ou para aqueles, com posterior reconquista destes; a conquista militar de Riba-Côa, por D. Diniz, no âmbito da guerra sucessória entre o Infante D. João de Lacerda e Fernando IV de Castela, e sua posterior incorporação de iure, com o tratado de Alcanizes, no território Português.

 Na minha opinião, nenhuma das teses está cabalmente comprovada histórica e documentalmente. Não alinho portanto por aquelas teses.
Na minha opinião, nenhuma das teses está cabalmente comprovada histórica e documentalmente. Não alinho portanto por aquelas teses.
De facto, salvo melhor opinião, não só que a conquista de Riba-Côa aos mouros foi Leonesa e não Portuguesa; mas também, o tratado de Alcanizes, pode apenas ter consagrado de iure, o resultado de uma composição amigável anterior, no contexto da paz acordada na referida guerra civil, em que D. Dinis se envolveu, no Outono de 1296, como aliado daquele do Infante e da coroa de Aragão.
As fontes que parecem confirmar a conquista Leonesa do território de Riba-Côa, são: Maris, no dialogo 2; Rodrigo Mendez Silva, Dialogo Real Tit. filhos do Emperador Dom Affonso; Brandão 3.pl. 1º e 37; Bernardo de Brito nas Crónicas de Cister tom. 1 liv. 5 cap. 3.. A Revista Lusitana, Vol XIII, 1 e 2, e a Crónica Geral De Hespanha, a Monarquia Lusitana de Frei Francisco Brandão, e Potrugaliae Monumentae Historicae, de Herculano.
Da posse de Riba-Côa, por D. Dinis, temos, como fontes, a crónica de D. Diniz cap. VII, VIII e IX, de Rui de Pina, a qual, apesar de referir uma conquista pela força das armas, confrontada e integrada com as fontes espanholas, designadamente com Fernando Soarez, cronista de Valhadolid, contemporâneo e testemunha presencial dos factos, que vivia na corte espanhola, estacionada nesta cidade, e, tendo em conta a forma como se projectou no terreno a campanha militar de Valhadolid, induz mais à conclusão da posse pacífica e consentida.
Os limites de Portugal e Leão, no interior, até mesmo durante o governo do Conde D. Henrique e de Afonso Henriques, sempre foram vagos. O litoral, sabe-se por uma carta de 965, ia a flumine minco usque in tagum (port. Mon. Hist Dipl. ou carta. Pág 221). Ao norte do Douro, até ao ano 1100, o ponto mais oriental, podendo considerar-se português, é Campiã (Camplana) (Iden p.455). A Sul do Douro, os territórios da moderna Beira Baixa tinham o nome de Estremadura, segundo um documento de 960 e outro de 1059 diz «in estremis ex alia parte durio.»(Iden p. 256)
Os castelos que ficavam naquela Estremadura eram, segundo a carta de 956 «Trancoso moraria longrobia nauman uacinata amindula pena de dono alcobria seniorzelli Caria cum alias penelas et populationes».
O documento de 1059 repete as mesmas povoações «Trancoso moraria longrobia nauman uacinata amindula pena de dono alcobria seniorzelli Caria».
Ou seja, os limites orientais de Portugal, na latitude do Côa, eram em meados do Sec. XI Trancoso, Moreira de Rei, Longroiva, Almendra, Penedono, Terrenho e Caria.
No sec. XII e XIII avançaram até aos limites do Côa, porque é de fins daquele século a erecção da diocese da Guarda e o foral de Pinhel, e do primeiro quartel deste, os forais de Penamacor, Belmonte, Sortelha, Touro e Castelo Mendo.
Pelo que se pode afirmar que todo o território da margem esquerda do Côa, desde o Sabugal até ao Douro, era Português. A margem direita era e sempre foi, Leonesa.
Em meados do sec. XII, mais propriamente por volta de 1156, no tempo de Fernando II de Leão, genro e contemporâneo de D. Afonso Henriques, as terras da Beira e estremadura estavam ainda sujeitas aos mouros, pelo menos o Côa Intermédio e Superior.
O Côa Inferior, sob influência do convento de Santa Maria de Aguiar por volta de 1176 já era Cristão e leonês, uma vez que o referido convento já existia em 1165, e do seu cartório fazem parte varias doações pelo rei D. Fernando II de Leão de uma terra na foz do Rio Aguiar (Cart. de Aguiar, maço 7, n.º 12) e junto à Vermiosa (iden, maço 1, n.º 25), e D. AfonsoIX doou outra em Rio Seco, na Nascente do Rio Aguiar (Mal Partida), e outra em Fonte do Canto (Mêda) ao referido convento.
Por essa altura, um grupo de moços nobres Leoneses , capitaneados por D. Soeiro, assentou arraiais perto de Ciudad Rodrigo, querendo aí fundar um castelo para combater os mouros. A instâncias de um ermitão, de nome Amando , diz Bernardo de Brito, que e recolhera numa ermida de invocação de S. Julião, junto à vila do Pereiro, Pinhel, instalaram-se neste local, uma vez que as povoações cristãs junto daquele local podiam ajudar naqueles intentos.
Com o tempo fortificaram o lugar, correu fama dos seus feitos e juntaram-se-lhes outros cristãos e, formando uma milícia religiosa, tomaram de Ordonho, Bispo de Salamanca, as regras de São Bento, segundo os estatutos de Cister, vestindo escapulário e capelo negro.
Participando sob o pendão do referido D. Fernando de Leão, em 1776 na batalha de Organal contra o nosso D. Afonso Henriques, foram compensados por aquele rei, no mesmo ano, com os lugares do Pereiro, Reigada, Vilar, Trupim, Colmeal, Almendra e Granja da Fonseca.
Ora, a instalação da ordem deu-se entre terras cristãs, mas numa zona de conquista, conforme podemos observar. Por outro lado, se o Rei de Leão doou aqueles territórios, todos no Côa Intermédio, à Ordem do Pereiro, é porque os mesmos eram Leoneses e não portugueses; ninguém dá aquilo que não tem!
Se não doou territórios na zona do Côa Superior, concelhos de Alfaiates, Vilar Maior e Sabugal, o que seria lógico, sendo uma zona de fronteira e de reconquista, é porque os mesmos àquela data ainda não eram cristãos.
A corroborar esta afirmação está o facto de já ter sido o terceiro mestre da ordem, Bento Soares Sugis, a expulsar os mouros de toda a Riba-Côa e a conquistar Almeida e todas as restantes terras de Riba-Còa que hoje pertencem a Portugal.
E esta data é seguramente posterior a 1183, pois este foi o ano em que o papa Lúcio III instituiu o Mestrado na ordem na pessoa do antecessor de Bento Sugis, Dom Gomes.
E na Ordem do Pereiro se mantiveram estes territórios porque aqui se mantinha esta ordem, quando Afonso IX de Leão lhes doou em 1218 a Vila de Alcântara, cidade para onde transitou a sua sede, passando a designar-se como Ordem de Alcântara.
A razão desta doação está no facto de os território a Sul do Sabugal ser português e da Ordem de Santiago, o que impedia esta ordem de continuar a luta aos mouros. A vila de Alcântara, recem-conquistada, recolocava a Ordem do Pereio na linha fronteira da reconquista.
A confirmar ainda esta posse Leonesa, além do domínio de uma Ordem militar Leonesa, beneficiária de doações régias Leonesas, está ainda o facto das tentativas de conquista do território de Riba-Côa a Leão, pelo nosso infante D. Afonso (futuro Afonso II), em 1195 e 1199, datas em que foi derrotado perto de Pinhel e de Cidad Rodrigo, respectivamente. Duas pesadas derrotas não têm como consequência uma conquista; como é do senso comum, e da lógica militar!
A minha dúvida está em saber se Castelo Rodrigo chegou ou não a ser portuguesa, ainda que transitoriamente, antes do tratado de Alcanizes, na sequência das campanhas de Afonso II no território. O facto prende-se com o facto de o mesmo rei, por volta de 1213 se encontrar em Castelo Rodrigo, aquando do episódio do regresso ao reino da Ribeirinha com o seu raptor, Gonçalo Viegas, neto de Egas Moniz, e sabermos por um documento do cartório de Aguiar, datado de 1194, que Fernando de Leão doou a herdade de Tourões, no termo de Castelo Rodrigo, ao mosteiro de Aguiar. Outra dúvida é se Castelo Mendo, que teve foral Português em 1229, foi portuguesa desde essas campanhas também.
Acresce ao facto, de ter sido em 1238, atenta a correcção no lapso na transcrição da data feita por Bernardo de Brito na sua Monarquia Lusitana, que Afonso de Leão concedeu carta de povoação a Vilar Maior e esta vila ter sido posteriormente integrada, em meados do século XIII, tal como Caria Talaia, pelos reis de Leão no termo do Sabugal, e de serem à data do tratado de Alcanizes todos os foros e costumes destas terras, à excepção de Castelo Mendo, Leoneses; sendo que todas as do Baixo e Côa Intermédio pertenciam à comarca de Cidad Rodrigo e as do Alto Côa, do senhorio de D. Sancho de Ladesma, formavam a comarca de Ladesma, fronteiras com Portugal.
Por tudo o que se vem dizendo, e porque as fontes omitem ter sido conquistada esporadicamente por D. Afonso Henriques, e a te-la este perdido para os mouros ou Leão, estou convencido que Riba-Côa, à excepção de Castelo Mendo, nunca foi portuguesa, antes do tratado de Alcanizes.
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Uma ausência de vontade, uma incapacidade de ver as possibilidades, e mais, uma negação das próprias possibilidades, que explicam como Riba-Côa parou no tempo da sua própria alma e é incapaz de agir sobre o seu próprio futuro.

 Por ocasião do aniversário, Jacinto – da «Cidade E As Serras» – tomado de um grande tédio, apeteceu-lhe ler.
Por ocasião do aniversário, Jacinto – da «Cidade E As Serras» – tomado de um grande tédio, apeteceu-lhe ler.
Percorrendo a sua vasta e diversificada biblioteca, não encontrou um único livro que lhe satisfizesse o desejo de leitura, acabando por subir ao quarto, com o jornal debaixo do braço.
O tédio é, como vemos pelo exemplo, uma falta de vontade. E mais que uma falta de vontade, uma incapacidade de ver as possibilidades que satisfaçam a vontade.
Jacinto não tinha vontade de fazer nada. Apeteceu-lhe ler um livro, mas no vasto mundo de possibilidades que lhe oferecia a sua biblioteca, não conseguiu eleger uma única dessas possibilidades.
Segundo Kierkgaard em Ou/Ou, o homem tem a natural tendência para a realização do seu fim, que é a aproximação do Ser infinito, pela vida ética. Esta consciência gera uma angústia, um sentimento positivo provocado pela necessidade de suplantar o estado estético, a sua matéria, finitude, e alcançar o estado ético, mais próximo do seu fim espiritual e da infinitude, que o impele a procurar permanentemente as possibilidades de realização, numa acção sobre o seu destino e o tempo futuro.
O tédio é, como vimos pelo exemplo acima, um sentimento negativo, pelo qual o homem, perante as possibilidades envolventes que lhe permitem a realização do seu fim, nem se apercebe dessas possibilidades. È uma total ausência de vontade, uma incapacidade de ver as possibilidades que lhe permitem superar o estado estético. Uma estagnação no tempo do não ser, uma incapacidade de futuro.
O tédio, como sentimento negativo da alma, anda associado à melancolia, pois esta, mais não é que o sentimento que, perante as possibilidades, as vê, mas se recusa a aceita-las.
O tédio, melancolia e angústia, são, portanto sentimentos muito próximos da alma. Aqueles primeiros, negativos; este, positivo.
O silêncio dos sinos das nossas aldeias, que referi aqui há semanas, no texto sobre a Alma Ribacudana, como caracterizando hoje essa alma, é, para mim, o mesmo que este sentimento de melancolia e de tédio de que falava Kierkegaard.
Uma ausência de vontade, uma incapacidade de ver as possibilidades, e mais, uma negação das próprias possibilidades, que explicam como Riba-Côa parou no tempo da sua própria alma, e é incapaz de agir sobre o seu próprio futuro.
Neste sentido, não concordo com o meu bom amigo Tenreira, quando diz que a minha poesia é igual à de Leal Freire.
A poesia de Leal Freire ainda fala dos tempos em que os sinos tocavam em Riba-Côa; do tempo da angústia existencial, em que o homem ribacudano agia sobre o tempo futuro.
A minha, muito mais modesta, fala do tempo presente; do tempo melancólico, em que os sinos se calaram; do tempo sem futuro; da suspensão existencial do homem ribacudano.
Estamos pois, confessados e conversados!
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
A minha formação académica começou na filosofia e teologia, passou pelo direito e, só depois, chegou à economia. Por isso, a visão que tenho da economia é heterodoxa, mais próxima da escola personalista Austríaca de Hayks, que da escola tradicional, keynesiana, assente em modelos matemáticos.
 Assim, ao homo economicus da corrente ortodoxa e clássica, das relações económicas de troca e de pura justiça comutatitva, contraponho o homo viator, um homem em permanente interrogação da sua origem, do seu papel e do seu futuro na sociedade, no seio da qual procura a sua realização na sua dupla dimensão material e espiritual. Em consequência, a economia não é tanto uma ciência de obtenção e afectação de recursos, mas um instrumento para eliminação da pobreza, porque só com acesso a um conjunto mínimo de bens o homem tem garantia de um minimo conforto material, que lhe permita também desenvolver o seu lado espiritual e cultural; a sua dupla dimensão interior e exterior (pneuma/sarx).
Assim, ao homo economicus da corrente ortodoxa e clássica, das relações económicas de troca e de pura justiça comutatitva, contraponho o homo viator, um homem em permanente interrogação da sua origem, do seu papel e do seu futuro na sociedade, no seio da qual procura a sua realização na sua dupla dimensão material e espiritual. Em consequência, a economia não é tanto uma ciência de obtenção e afectação de recursos, mas um instrumento para eliminação da pobreza, porque só com acesso a um conjunto mínimo de bens o homem tem garantia de um minimo conforto material, que lhe permita também desenvolver o seu lado espiritual e cultural; a sua dupla dimensão interior e exterior (pneuma/sarx).
Posto isto, a minha abordagem das questões económicas, designadamente da actual crise económica, é também heterodoxa, feita portanto, do ponto de vista filosófico, moral, ético e político, como o leitor, se tiver paciência em acompanhar-me, poderá constatar:
Karl Marx no seu Das Kapital já previra que «todos os povos do mundo se vêm cada vez mais intricados na rede do mercado mundial» e que o carácter internacional do capitalismo se haveria cada vez mais de tornar evidente (in Kapital, p.18) e no manifesto do Partido comunista em 1848, que as indústrias tradicionais, especialmente as de recorte local e produtos locais, haveriam de ser gradualmente ser substituídas por outras de nível internacional e novos produtos, dependendo de matérias primas provenientes de zonas remotas do mundo, e cujos produtos não serão mais de consumo trans-regional. (Karl Marx e Federich Engels; in Manifesto do Partido Comunista, Londres, 1848).
Esta previsão de Marx aconteceu pela globalização dos mercados. A consequência é que, ganhando dimensão internacional e global, a economia e o capital já não podem ser fiscalizados, como no liberalismo económico, pelo poder político de cada estado, exigindo antes, uma concertação e regulamentação inter-regional e mundial.
A livre iniciativa económica, que fazia sentido em mercados locais ou nacionais, que os respectivos estados podiam fiscalizar e regulamentar, também já não é aceitável, sob pena de conduzir a graves distorções de mercado.
A globalização da economia teve também outras consequências, que Bento XVI explica na sua encíclica Caritas in Veritate: «O mercado, à medida que se foi tornando global, estimulou antes de mais nada, por parte dos países ricos, a busca de áreas para onde deslocar as actividades produtivas a baixo custo a fim de reduzir os preços de muito bens, aumentar o poder de compra e deste modo acelerar o índice de desenvolvimento centrado sobre um maior consumo pelo próprio mercado interno. Consequentemente, o mercado motivou as novas formas de competição entre estados procurando atraír centros produtivos de empresas estrangeiras através de variados instrumentos, tais como impostos favoráveis e a desregulamentação do mundo do trabalho. Estes processos implicaram a redução das redes de segurança social em troca de maiores vantagens competitivas no mercado global, acarretando grave perigo para os direitos dos trabalhadores, os direitos fundamentais do homem e a solidariedade actuada nas formas tradicionais do Estado social.» (Caritas in Veritate, nr. 25, pp. 36-37).
É isto a que hoje assistimos; a destruição, em consequência da cada vez maior globalizaçao da economia, do estado-benificiente inventado por Bismark para subornar o proletariado com benefícios sociais, e evitar a revolução socialista.
A consequência é o retorno gradual, que já se faz sentir noutros países europeus a partir da segunda metade do século XX, enquanto em Portugal e Espanha só aconteceu na viragem do séc. XX para o XXI, ao modelo de estado liberal do século XIX e a perca das regalias sociais garantidas pelo moderno estado providência.
Marx também previu que a acumulação crescente de lucros e a concentração monopolísta do capital, com os grandes capitalistas a «comerem» os mais pequenos, levaria a tal situação de desigualdade na distribuição de riqueza, que fomentaria a revolução das massas e o fim do capitalismo.
Marx tem razão nesta análise; de facto, o maior perigo para a estabilidade política é a desigualdade social. Não chega a liberdade e a garantia formal de direitos que o sitema capitalista e burguês proporciona a todos os cidadãos, se a criação de riqueza não for acompanhada da satisfação das necessidades elementares de cada indivíduo, da erradicação da pobreza, e a igualdade de direitos estiver longe dos factos.
E também acertou, além da sua previsão da globalização dos mercados, na concentração do capital e na gritante e desigual distribuição de riqueza do sistema capitalista, potenciadora de instabilidade política e social.
De facto, a realidade mundial actual é de 40% da riqueza mundial estar na mão de 2% dos indivíduos; um bilião e meio de pessoas viverem com menos de 1€; cerca de três biliões viverem com menos de 2€, sendo que esta fatia da população dispõe apenas 1% da riqueza mundial.
A revolução das massas desfavorecidas é uma realidade histórica. Os acontecimentos das civilizações passadas e da europeia, e os do actual Magreb, demonstram-no.
Como dizia Horst kohler, antigo director do FMI e presidente da República Federal da Alemanha, não há maior ameaça para a estabilidade política e económica no mundo do que qualquer forma extrema de desigualdade na distribuição do bem-estar (citado por Reinhard Marx, arcebispo de Munique, in Das Kapital, Munchen, 2008, pág.23)
O modelo económico que conduziu a estes resultados, está por isso errado. A economia não devia, numa linha de pensamento económico moderno que vem já desde a Teoria dos Sentimentos Morais de Adam Smith, (antes do economista na célebre obra da «Riqueza Das Nações», excelente professor de filosofia moral), ser mais a economia convencional, anacrónica, alheia aos problemas de desenvolvimento, mais preocupada com a criação de riqueza das nações e orientada para o crescimento indeferenciado e consumismo, com nenhum efeito na erradicação dos níveis de pobreza.
Esta economia convencional fracassou porque, além dos resultados que são conhecidos, se desligou do fundo ético da antiga economia política, cuja preocupação é a justiça distributiva e não apenas a justiça comutativa da economia convencional.
Os programas de microcréditos de Mohamed Yunus (prémio Nóbel da Paz, quando o devia antes ter sido da economia) e Ela Bahatt, são insuficientes, mas bons exemplos de iniciativas de uma nova economia ética, preocupada mais com a pobreza, do que com a riqueza.
A globalização dos mercados exige um novo movimento internacional, como defende Jeffrey Saches no seu livro El fim de la pobreza, de cooperação entre países e regiões, em que os países ricos ajudem financeiramente os países pobres que não podem gerar a poupança por si próprios.
As empresas não deviam ter apenas como fim o lucro fácil e especulativo para satisfazer os accionistas e remunerar princepescamente os gestores.
A empresa, como elemento da sociedade, que aloca recursos sociais à sua actividade, vive da sociedade e na sociedade. Por isso a sua actividade não afecta só os que investiram nela o seu capital e trabalho.
Existe, à semelhança das relações humanas, que se pretendem de respeito mútuo, um contrato moral em que a empresa se obriga a agir com responsabilidade social, não defraudando as expectativas da sociedade num comportamento prudente e justo; isto é de boas decisões.
A moral e a ética não é só uma questão individual e pessoal. As organizações, como as empresas, são grupos humanos que também se orientam por valores, além de normas.
Como o homem virtuoso se orienta com prudência, no sentido clássico de adequar a sua acção em cada caso entre o excesso e o defeito (Aristóteles in Ética a Nicómaco, Livro VI, cap. 5), também uma empresa que se preocupa com o bem-estar social é uma empresa ética, preocupada com as boas decisões; um bem público, um daqueles bens que não só beneficiam as pessoas que investiram o seu esforço em produzi-lo, mas também quantos são afectados pela sua actividade, mesmo que não tenham contribuído para cria-lo (Amartya Sen in Desenvolvimento e Liberdade, Barcelona, 2000, pp 39-54).
E a riqueza do bem criado por uma empresa ética, responsável socialmente, é o clima de confiança, a boa sociedade, que tem valor económico incalculável, porque não contabilizável.
Resumindo:
A globalização dos mercados, a visão convencional da economia, a cultura empresarial institucional, levaram à destruição do estado social, concentração da riqueza, à não resolução dos problemas de pobreza, às desigualdades sociais, à actividade económica visando apenas a produção de riqueza e lucro.
Consequência disto, é a multidão de excluídos do bem-estar social, que clamam por uma maior justiça distributiva e acesso aos bens essenciais, a que só uma minoria da população mundial tem acesso.
A terra é a casa de todos nós, e os seus recursos naturais, independentemente da sua forma de apropriação, devem aproveitar, como defende, desde Leão XIII, a doutrina social da Igreja, a toda a humanidade, e não a um pequeno grupo.
Para isso temos de mudar o paradigma de desenvolvimento através de uma nova economia hermeneutica-filosófica que analise os fenómenos de exclusão e encontre soluções para a erradicação da pobreza.
É urgente uma cultura empresarial baseada na ética e na responsabilidade social, como ferramenta de gestão e de justiça social; uma economia do desenvolvimento.
Em suma, uma civilização ética, focada na inclusão social e na dignificação da pessoa humana; uma civilização da pessoa e para as pessoas.
Só que todos os governos, independentemente dos regimes, são oligárquicos e não cedem os privilégios de poder pacificamente; e quando caem pela força, outra oligarquia sucede á anterior. Por isso, nunca acontecerá esta mudança de paradigma económico!
Por mais mudanças e revoluções que haja, o egoísmo e a ganância humanas nunca desaparecerão. O individualismo, a que alguns filósofos da economia chamam liberdade-igualitária, prevalecerá sempre sobre o personalismo.
Para que isso não sucedesse, teriamos que ter uma sociedade, já não digo de homens nobres, interiores, que refere a doutrina paulina na carta aos Gálatas, mas pelo menos de homens honrados e bons cidadãos de que falava Benjamim Franklin, no seu pequeno opúsculo sobre os deveres de um cidadão. Uma sociedade constituída por indivíduos conscientes da sua liberdade responsável e de que a realização do bem comum é o melhor caminho para a realização e bem-estar de cada um.
Se assim não for, como dizia C. J. H. Hayes, a propósito da revolução francesa, «Plus ça change, plus c’est la même chose» (in estudos sociais, 1936, pág. 79).
Sem uma nova economia politica, filosófica e ética, e cultura de cidadania, não iremos a lado nenhum!
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Este é o 100º artigo de João Valente no «Capeia Arraiana». Parabéns ao autor da coluna «Arroz com Todos», que intervém sempre pleno de oportunidade e imbuído de saber e de espírito crítico
Administração do Capeia Arraiana
Mestre na arte de versejar, senhor de virtualidades técnicas notáveis, Manuel Leal Freire é um dos maiores poetas da nossa terra.

 5. Da Natureza à Alma
5. Da Natureza à Alma
«O povo Inglês é um povo mudo; podem praticar grandes façanhas, mas não de escrevê-las», disse Carlyle, dos ingleses.
E acrescentava, com vaidade, no seu poema épico, que os feitos dos ingless está descrito na superfície da terra.
Contrapunha, humilde, Unamuno, que mais modestamente, e mais silencioso ainda, o povo Basco escreveu na superfície da terra e nos caminhos do mar seu poema; um poema de trabalho paciente, na América latina, mais que em qualquer outra. Mas durante séculos viveu no silêncio histórico, nas profundidades da vida, falando a sua língua milenária; viveu nas suas montanhas de carvalhos, faias, olmos, freixos e nogueiras, matizadas de ervas, bouças e prados, ouvindo chamar o oceano que contra elas rompe, e vendo sorrir o sol atrás da chuva suave e lenta, entre castelos de nuvens.
E concluía: «As montanhas verdes e o encrespado Cantábrico são o que nos fez.»
De facto, como tão bem observou Unamuno, é a Natureza e o meio que fazem os povos.
O homem encontra-se determinado pela natureza, a qual engloba tanto o seu próprio corpo, como o mundo exterior. E justamente a efectividade do próprio corpo, os poderosos impulsos animais que o governam, a fome, o impulso sexual, a velhice, a morte, determinam o seu sentimento vital e sua relação com o meio.
Esta constituição vital, que Platão já descrevia na vida presenteira dos terratenentes e sua doutrina hedonista, combatida por Heráclito, encontra expressão na filosofia epicurista, que S. Paulo desdenhou, está presente numa grande parte de literatura de todos os povos, e ressuou nas canções provençais, na poesia cortesã alemã, na epopeia francesa e alemã de Tristão, nas éclogas e pastorais do nosso Bernardim, depara-se-nos igualmente, na filosofia do século XVIII.
Nesta concepção do mundo, a vontade subordina-se à vida impulsiva que rege o corpo e às suas relações com o mundo externo: o pensar e a actividade finalista por ele dirigida encontram-se aqui ao serviço desta animalidade, reduzem-se a proporcionar-lhe satisfação.
Quando tal constituição vital se transforma em filosofia, surge o naturalismo, que, de forma uniforme, desde Demócrito, Protágoras, Epicuro e Lucrécio, a Hobbes, afirma ser o processo da natureza a única e integral realidade; fora dela, nada havendo; a vida espiritual distingue-se da natureza física só formalmente como consciência, de acordo com as propriedades nesta contidas, e a determinidade conteudalmente vazia da consciência brota da realidade física, segundo a causalidade natural.
As experiências do impulso vital, independentemente das construções filosóficas, ebabulações poéticas, levavaram sempre, e isso é que nos interessa, ao mesmo: ao sossego de ânimo, à paz de espírito, que surge em quem acolhe em si a conexão permanente e duradoira do universo.
No poema de Leal Freire, encontramos também a expressão desta constituição anímica. Ele vive em si a força libertadora da grande mundividência cósmica, astronómica e geográfica, que a paisagem particular e a Terra de Riba-Côa criaram.
O universo geográfico, as suas leis gerais, o nascimento de um sistema cósmico próprio, a história da Terra que sustenta animais e homens, por último, produz um homem particular, emergente de um universo cósmico:
«vem á ceia as courelas(10)/ cada uma traz seus mimos/ dá o quintal bagatelas
a veiga fartos arrimos// Das bouças vêm canhotos(11)/ Que um bento calor evolam
E até os manigotos/ Mandam cheiros que consolam// Vinhedos, chões e vergéis(12)/ Primasias se disputam/ Nem as rochas são revéis/ Em dura freima labutam.// As do monte mandam coelhos(13)/ As da ribeira bordalos/ Pirilampos são espelhos/ A cegarrega é dos ralos.»
E o homem que resulta, em Leal Freire, desta cosmogonia é piedoso; um bom pai, há semelhança de Lucrécio, que dizia «ser piedoso quem com ânimo sereno contempla o universo»:
«O lavrador, que é bom pai,/ A ver se a ceia é pra todos/ Não manda, que ele proprio vai.»
Um homem livre que, superando o fundamento mecaniscista do naturalismo, reconhece, como o ideal natrualista de Fuerbach, Deus, na imortalidade e na ordem invisível das coisas:
«Na mesa, que é um altarzinho(9)/ Que branca toalha cobre/
[…]
As Almas Santas dos Céus(14)/ Também descem para a mesa/ A noite, negra de breu,/ Resplandesce com a reza.»
Uma natureza provida de alma, impregnada da interioridade, que nela interpolaram a religião e a poesia.
Uma natureza que covida a uma atitude contemplativa, intuitiva, estética ou artística, quando o sujeito repousa, por assim dizer, nela do trabalho do conhecimento científico-natural e da acção que decorre no contexto das nossas necessidades, dos fins assim originados e da sua realização exterior.
Nesta atitude contemplativa alarga-se o seu sentimento vital, em que se experimentam pessoalmente a riqueza da vida, o valor e a felicidade da existência, numa espécie de simpatía universal.
Graças a tal estado anímico que a realidade suscita, voltamos nela a encontrá-los. E na medida em que alargamos o nosso próprio sentimento vital à simpatía com o todo cósmico e experimentamos este parentesco com todos os fenómenos do real, intensifica-se a alegria da vida e cresce a consciência da própria força vital, tal é a complexão anímica em que o indivíduo se sente um só com o nexo divino das coisas e aparentado assim a todos os outros membros deste vínculo.
Ninguém expressou com maior beleza do que Goethe esta constituição anímica:
Celebra a ventura de «sentir e saborear» a natureza». «Não só permites a fria visita de surpresa, mas deixas-me perscrutar o seu seio profundo, como no peito de um amigo». «Fazes passar diante de mim a série do vivente e ensinas-me a conhecer os meus irmãos no silencioso bosque, no ar e na água».
Esta constituição anímica encontra a resolução de todas as dissonâncias da vida numa harmonia universal de todas as coisas, que tão bem, como Goethe, soube resumir Leal Freire:
«A prece que ceia encerra/Manda pra longe a cizânia/A paz reina sobre a Terra.»
6. Alma enérgica e sensível
Conclui Leal Freire o seu poema com aquela magnífica saudação, que resume todo o carácter da minha raça:
«Dia um da criação (16)/A quantos na tasca estão.»
Uma saudação, curta em palavras, rude, como o que vem da força expontânea da natureza envolvente.
Não é por acaso, que o nosso folguêdo mais apreciado seja a capeia; um passatempo, em que se adestram colectivamente as forças dos homens, em confronto com a força bruta de um boi.
Um divertimento rude, para um carácter simples.
Como dizia Unamuno, a respeito povo Basco, a inteligência da minha raça também é activa, prática, enérgica. Sobreviver numa terra inóspita, de fronteira, exige mais um estética de acção, que de contemplação.
«E para quê poetas em tempos de penúria?», preguntava na 248 elegía, Pão e Vinho, o poeta alemão Hölderlin.
Por isso, em séculos, não produziu nenhum poeta, nenhum filósofo, nenhum santo; mas venceu muitos exércitos invasores, munido apenas de chuços e foices.
Não que o meu povo não seja capaz de pensar, sentir.
A aridez dos cabeços, a dureza da rocha granítica, o contínuo rebentar dos bracejos entre os barrocos, a florição das giestas em Maio, o verdejar dos prados, a sombra fresca dos freixos, o murmúrio dos ribeiros a galgar as fragas, a courela, os quintais, os chãos, os vergéis com os seus mimos, um lenhador carregando ao anoitecer o seu feixe de lenha, o carro de bois carregado balançando-se nos sulcos do caminho, a geada branca sobre o campo, tudo isto se apinha, se agrupa e vibra através da nossa existência diária.
Esta fica tão perto do passo no caminho do poeta e do filósofo que se recreia, como do pastôr, que pela orvalhada sai com o seu rebanho.
Um carvalho no caminho, um freixo num lameiro, induzem todos à lembrança dos primeiros jogos e e das primeiras escolhas da infância. Quando às vezes caía as golpes do machado uma árvore no meio de um bosque, o pai de família procurava na floresta, a madeira seleccionada para as tábuas do soalho, para a cumeeira da casa, o jugo das vacas, a rabiça do arado; o homem mais experiente escolhia a galha mais afeiçoada para o forcão, os moços colhem o madeiro do Natal.
A rudez, o perfume da madeira do carvalho, do castanheiro e do freixo, falam sempre da lentidão e da constância com que uma árvore cresce, floresce e frotifica, abrindo a sua copa ao céu, enquanto a sua raíz mergulha na terra sustentadora.
O caminho do campo recolhe tudo o que tem substância em seu redor, o enigma do perene e do grande, do céu e da terra, penetrando o homem e convidando-o a uma longa e serena reflexão sobre a criação.
Mas esse caminho do campo, como diz Heidegger, «fala sómente enquanto haja homens que, nascidos no seu âmbito, possam ouvi-lo.»
Enquanto o ritmo da vida, o trabalho, as pausas do trabalho, se façam ainda ao ritmo do relógio da torre e dos sinos, que, ainda segundo Heidegger, «sustentam a sua própria relação com o tempo e a temporalidade».
Enquanto «Derem os sinos trindades/ Por sobre as casas da aldeia/ Toques de suavidades/ Que prenunciem a ceia», nas palavras de Leal Freire.
Pena é que só agora, quando o sino das trindades já não marca o tempo dos trabalhos do campo, o meu povo tenha aprendido a falar num idioma de cultura, que revela ao mundo o seu ethos de um profundo sentido do transendente, um saber amável, uma serenidade espiritual, generosidade e fraternidade universais, sob uma aparente rusticidade.
Um ethos de boi valente a investir no forcão, dócil a puxar o arado; generoso sempre, ao pico do garrochão ou da aguilhada. Um povo ao mesmo tempo nervo e sentimento.
Leal Freire, Manuel Pina, Pinharanda Gomes, Eduardo Lourenço, interpretes deste ethos, são poetas e pensadores, que ainda ouvem o caminho do campo, numa Riba-Côa onde rareiam cada vez mais os homens que, nascidos no seu âmbito, ainda conseguem ouvi-lo.
A saudação do final do poema, é o murmúrio que Leal Freire escutou, do vento acariciando as copas dos carvalhos, dos castanheiros e freixos, por esses caminhos de Riba-Côa:
«Dia um da criação, para todos os que na tasca estão!»
Para todos os que ainda consigam ouvir os sinos das trindades e o vento, da terra dos nossos pais!
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Mestre na arte de versejar, senhor de virtualidades técnicas notáveis, Manuel Leal Freire é um dos maiores poetas da nossa terra.
 3. Estrutura
3. Estrutura
Como é usual nos poemas de Leal Freire, a estrutura é simples e dominada por uma rede de correspondências externas: A – B -A- B. C-D-C-D E-F-E-F, etc.
A – Introdução (estrofe 1 e 2).
A estrofe 1 introduz o tema ( a ceia) e o tempo (à hora das trindades).
A estrofe 2 introduz a personagem (o lavrador, que é bom pai, homem bom) e justifica, ao mesmo tempo, a narração que decorre nas estrofes seguintes.
Dir-se-ia, assim, que o tempo real do poema é o que vai das trindades à oração final da ceia do lavrador, mas com um registo temporal diferente, anterior ao da sua própria cronologia, já que â manjedoura e à mesa, vem tudo o que anteriormente o campo generoso deu. Ceiam os animais e lavrador tudo o que da natureza veio.
B – Narração (da estrofe 3 à 13). Descrição do que a natureza fornece, através do alimento dos vários animais e do lavrador.
C – Conclusão (14 e 15). São duas estrofes que emergem do que se diz de 3 a 14, estabelecendo um paralelo entre a ceia dos animais e do lavrador. A sua unidade, de resto, é reforçada pela projecção, ou enjambement, da estrofe 9 (a mesa, que é um altarzinho) para a estrofe 14 (aonde descem as almas santas do céu), 15 (e acaba a ceia com uma prece) e o remeate do poema na 16 (com uma espécie de libação).
4. Tema
Este é mais um belo poema de Leal Freire, no qual, uma notável rede de correspondências entre a ceia dos animais e do lavrador confere unidade ao poema, faz da ligação entre o primeiro e ante-penúltimo versos, o resumo da ideia e do tema:
«Deram os sinos trindades […] A paz reina sobre a Terra.»
São estes os versos que resumem o poema: A vida simples e tranquila do campo, ao ritmo das trindades. Uma vida espiritual no seio da natureza que a vida moderna suprimiu com a necessidade do indivíduo em prover às sua cada vez mais exigente existência corpórea.
Uma «beatus ille», muito semelhante à áurea mediania (aurea mediocritas) já glosada na antiguidade clássica por Homero, Heráclito, Esopo na fábula do rato do Campo e do rato da cidade, e, na sequência dos estóicos, Virgílio, Horácio, também defensor de um ideal de vida calmo e sem grandes exigências, capaz de dar ao Homem a felicidade que não encontra no meio do ambiente perturbado da cidade, na glória das batalhas ou mesmo «no exercício decoroso das magistraturas» e lá fora, por Frei Luís de León, Carlyle, Tolstoy e outros, e entre nós, por Francisco Manuel de Melo, António Ferreira nalgumas das suas odes, Sá de Miranda na Carta a Mem de Sá, através do recurso também à fabula do rato do campo e do rato da cidade, e posteriormente pelos arcádicos.
Neste poema, em que Leal Freire trata o seu tema recorrente das virtudes da vida no campo, da sua «pátria chica», como costuma dizer, é o ritual da ceia, dos animais e dos homens, cuja hora é anunciada pelo toque das trindades, e culmina na prece final da ceia do lavrador, que traz a paz à terra.
E esta paz a que conduz esta bela vida, é magistralmente resumida na última estrofe, pela fraternidade e igualdade entre todos os homens reunidos na tasca, a qual dá à vida simples do campo um carácter espiritualidade e sagrado mais puros, mais próximos de Deus, porque mais próxima do criador e da sua criação:
«Dia um da criação (16)/A quantos na tasca estão.»
Sorrimos ao remate síngular do poema. Quem conhece o poeta, como nós,vê-o no seu geito bem Ribacudano, chapéu de abas, a entrar numa desas tascas das nossas aldeias e a oferecer uma rodada de bom graminês…
«A todos os que na tasca estão.»
Porque esta, é a natureza de Leal Freire, porque é um homem de Riba-Côa.
(Continua.)
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Mestre na arte de versejar, senhor de virtualidades técnicas notáveis, Manuel Leal Freire é um dos maiores poetas da nossa terra.
 1. Observação preliminar
1. Observação preliminar
A simplicidade dos temas, imagens, ideias, aliada, de facto, a uma perfeição formal ímpar, concorre na sua poesia para a construção de um universo lírico de rara beleza e que fez de Leal Freire um dos poetas que mais aprecio.
A sua poesia, é, do ponto de vista técnico, um exemplo de rigor métrico, de simetria, de perfeição. O lugar de cada palavra, obedece a um desígnio sabiamente amadurecido; o mesmo se diga da escolha da forma estrófica, em quadras tão ao gosto popular; a estrutura interna dos poemas, nem curtos nem longos, revela um elevado sentido de equilíbrio, numa construção arquitectónica cuidada e minuciosa que a sabedoria de uma longa vida de escrita trazem. Há uma subtil malha de correspondências no seu interior, a deixar perceber uma verdadeira teia, onde todos os pontos se interligam por um fio condutor habilmente desenhado que desenvolve uma ideia simples subjacente a cada um dos seus poemas.
Mas Leal Freire é mais do que tecnicismo. Quer busque no quotidiano as suas imagens (os campos, a lavoura, os animais, os rituais da aldeia), quer as recolha no tempo cósmico, quer, enfim, as molde no universo rural, os seus textos são fiéis retratos da vida simples, com palavras simples, como convém à boa poesia.
As quadras são, como se disse, um exemplo de organização, ao mesmo tempo que uma manifestação de um espírito lírico sem par.
Esta conjugação da beleza poética e da riqueza lírica com o preciosismo técnico e inegáveis virtualidades linguísticas fazem dos seus poemas excelentes instrumentos de trabalho, tanto para a aprendizagem da língua, como para o do estudo da etnografia, e dos costumes de Riba-Côa, mas que pelos valores de humanismo que confere à sua poesia, tem uma dimensão universal digna de estudo.
Aqui se faz, por isso, um exercício despretensioso que visa partilhar com os leitores algumas dessas reflexões sobre a poesia de Leal Freire.
Este post é uma primeira parte de uma reflexão sobre naturalismo e idealismo, que suscita a dimensão humana e universal da sua poesia, mas que, pela extensão e complexidade de raciocínio, não é publicável num blogue. Fica, aqui, no entanto, o desejo de, com o pequeno esforço de análise do poema «A Ceia Do Lavrador», servir e aumentar a já grande comunidade dos apreciadores da magnifica escrita de Leal Freire.
2. Texto
A CEIA DO LAVRADOR
Deram os sinos trindades (1)
Por sobre as casas da aldeia
Toques de suavidades
Que prenunciam a ceia
Mas mesmo que ande de zorros (2)
O lavrador, que é bom pai,
A ver se a ceia é pra todos
Não manda, que ele proprio vai.
Começa a sua inspecção (3)
Plas vacas, gado mais nobre
Também cabonde ração
Prás cabras, vacas dos pobres.
À égua, luxo da casa, (4)
Á burra, sua cestinha,
Mangedora a feno rasa
Mais até do que convinha.
Pois na pia do cevado, (5)
Que só pra comer nasceu,
É o farelo um pecado,
De fartura brada ao céu.
O gado de bico dorme (6)
Ao fusco se regalara
Os cães aguardam que enforme
O caldo que nutre e sara
Aos animais sem razão (7)
Aconchego já não falta
A seguir vem o pregão
Chamando pra mesa a malta.
Filhos, netos, jornaleiros (8)
O conhecem e de cor
Mendigos e passageiros
Também cabem em redor.
Na mesa, que é um altarzinho (9)
Que branca toalha cobre
Não falta caldo nem vinho
Nem pão. regalo do pobre.
vem à ceia as courelas (10)
cada uma traz seus mimos
dá o quintal bagatelas
a veiga fartos arrimos
Das bouças vêm canhotos (11)
Que um bento calor evolam
E até os manigotos
Mandam cheiros que consolam
Vinhedos, chões e vergéis (12)
Primasias se disputam…
Nem as rochas são revéis
Em dura freima labutam.
As do monte mandam coelhos (13)
As da ribeira bordalos
Pirilampos são espelhos
A cegarrega é dos ralos.
As Almas Santas dos Céus (14)
Também descem para a mesa
A noite, negra de breu,
Resplandesce com a reza.
E quando acaba a litânia (15)
A prece que ceia encerra
Manda pra longe a cizânia
A paz reina sobre a Terra,
Dia um da criação (16)
A quantos na tasca estão.
(Leal Freire)
(Continua na próxima semana.)
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
As «Aventuras de Pinóquio» e «Alice no País das Maravilhas» são duas histórias para crianças carregadas de mensagens transpessoais, psicológicas e esotéricas, dois relatos de desenvolvimento pessoal, em que Pinóquio e Alice se vão desprendendo dos seus defeitos e tornar-se verdadeiros seres humanos com ajuda de duas perssonagens; respectivamente o Grilo Falante e o Coelho, como acontece com a dupla Tamino-Pamina da «Flauta Mágica».

 Há pouco tempo, Cecília Gatto Trocchi, antropóloga da universidade de Perrusa, explicava que Pinóquio não passava de um texto maçónico carregado de esoterismo, cujas peripécias seriam perífrases de livros esotéricos, como o «Livro dos Mortos» e o «Conto da Serpente Verde», do também maçon Goethe.
Há pouco tempo, Cecília Gatto Trocchi, antropóloga da universidade de Perrusa, explicava que Pinóquio não passava de um texto maçónico carregado de esoterismo, cujas peripécias seriam perífrases de livros esotéricos, como o «Livro dos Mortos» e o «Conto da Serpente Verde», do também maçon Goethe.
Não só concordo, como defendo que, além do Pinóquio, também «Alice no País das Maravilhas» é um texto maçónico, iniciático.
A razão é porque, não só ambas as histórias estão repletas de simbologia maçónica, como foram escritas por dois conhecidos maçons, o italiano Carlo Collodi e o inglês Lewis Carrol, respectivamente, no século XIX, tal como a partitura da Flauta Mágica o tinha sido, pelo maçon Mozart, no século XVIII.
De facto, na história de Pinóquio, Gepetto é um velho mestre que usa avental (mestre maçon) e, sonhando ter uma criança, faz um boneco de madeira (paralelismo com o trabalhar a pedra), desenhando-o com um compasso (símbolo maçónico). Ao ver a estrela azul (estrela flamejante) pede esse desejo, que lhe é concedido; enquanto dormia, a fada azul deu vida ao boneco, advertindo-o que se comportassse como menino de verdade (homem de verdade). E para o aconselhar dá-lhe o grilo falante (consciência).
Mas Pinóquio tem um ego hipertrofiado, produto de distintos vícios que foi acumulando. As mentiras fazem-lhe crescer o nariz e as orelhas de burro depois, num paralelismo muito semelhante à história do «Príncipe com Orelhas de Burro», que a tradição maçónica costuma utilizar para exemplificar a vida futil e inconsciente.
Pinóquio paga as consequências dos seus actos quando é engolido por uma baleia, à semelhança do Jonas Bíblico, num paralelismo também à câmara de reflexão das iniciações e ao ritual no terceiro grau na morte de Hiram Habib, existentes na maçonaria.
No ventre da baleia Pinóquio decide mudar, deixando para trás a vida inconsciente, e, sendo expelido pela baleia, afoga-se, também num paralelismo com a morte mística do iniciado maçónico, que na câmara de reflexão morre para a vida profana, renascendo para a vida iniciática, e do mestre que, no ritual de terceiro grau, se desprende da sua carne e ossos, para ressuscitar espiritualmente.
E da mesma forma que o iniciado e mestre, Pinóquio, acorda do afogamento, renascendo sob uma forma humana mais elevada, tonando-se um homem de verdade.
E Pinóquio é homem de verdade, também segundo a interpretação psicológica da história, quando transformando-se num menino de carne e ossso, vence o gato e a raposa (os centros instintivo-motor e emocional).
Estádio que o antigo tratado do japonês Yagyun, sobre a espada e a filosofia zen, explica numa frase: «Transforma-te num boneco de madeira: o boneco não tem ego, nada pensa, e deixa que o corpo e os membros trabalhem por si mesmos de acordo com a disciplina que experimentaram. É este o caminho para a vitória.»
Na história de «Alice no País das Maravilhas», que inicialmente, de forma reveladora do seu carácter simbólico, o seu autor intitulou «Alice debaixo da Terra», numa alusão à descida ao interior de si próprio do aprendiz maçon, o paralelismo com as «Aventuras de Pinóquio» é notório:
A estrutura da história segue do princípio ao fim o esquema de uma a sessão iniciática de loja maçónica, a que são adicionados alguns elementos de fantasaia e personagens. Alice estava aborrecida, cansada de ficar sentada num banco com a irmã, sem nada para fazer. Estava de olho no livro que a irmã lia, mas logo se desinteressou, já que ele não possuía imagens nem diálogos. A menina estava convencida de que um livro sem imagens e sem diálogos não valia a pena (futilidade, inconsciência).
No meio dessa monotonia, levanta-se a colher margaridas para fazer um colar, sendo surpreendida por um velho coelho de luvas brancas (mestre maçom de luvas brancas que introduz o iniciado) sempre preocupado com o atraso para a reunião (da loja). Curiosa, Alice segue o coelho, entrando numa toca (câmara da reflexão, caixão do mestre Hiram) entregando-se a uma aventura, onde passa por varias transformações e cenários numa espécie de antecâmara, antes de aceder, através de uma porta ao jardim onde três jardineiros (os três oficiais da loja) pintavam rosas brancas de vermelho (a transformação que se dá ao transpor a porta do templo) e chamavam-se uns aos outros como se tivessem números (nomes simbólicos dos maçons), o cortejo da rainha (o cortejo de entrada) , o jogo do croqué entre todos (a cadeia de união) a ordem de cortar as cabeças (o gesto do estar à ordem em maçonaria), as deliberações e votações (também na forma maçónica), (tudo elementos da iconografia e simbologia maçónica), que a levaram ao conhecimento de si mesma.
Cada experiência porque Alice passa, com as sucessivas transformações em que cresce e diminui, explica-lhe que vivemos cercados de estímulos aos quais se reage conforme a espiritualidade que se tem. «O País das Maravilhas existe». O trabalho de auto aperfeiçoamento na subida gradual na escada de jacob, que é o símbolo maçónico do crescimento gradual na Sabedoria, é possível.
Como diz a última frase da história: Alice aprendeu «que para voltar ao País das Maravilhas basta conservar o coração puro e os olhos tão transparentes como o céu de verão.»
O Grilo Falante de Pinóquio e o Coelho de Alice representam a nossa Alma Divina, a Consciência, adormecida e presa pelo Ego e pela Mente, pelos desejos inferiores egóicos, que temos, como Pinóquio e Alice, que ouvir e seguir na formação do coração e esclareciemto do espírito.
Ambas as histórias relatam simbólicamente o caminho longo e cansativo de um iniciado maçon. O Trabalho pelo qual a Pedra Bruta se transforma numa pedra trabalhada e viva.
Demonstram os passos do Caminho, as suas Provas, nas quais se prepara o espírito para se tornar digno de entrar no Templo (Interior), naquele templo verdadeiro, que é feito sem ruído de pedra nem de martelo, em que a luz do Conhecimento (Gnose) permanece eternamente.
Em suma; independentemente da sua conotação maçónica, psicológica e esotérica, cada uma das histórias, descreve a viagem atribulada e solitária da cada ser humano, pobre, nu e cego, na procura constante da Sabedoria.
Obs: os elementos dos rituais maçónicos são retirados do livro «A verdadeira história da maçonaria», de Jorge Balaschke e Santiago Rio, Quisnovi editora, Lisboa, 2006.
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com
Comentando há tempos com um cliente a eleição de um novo presidente da câmara no seu concelho e a minha fé na mudança das políticas camarárias, retorquiu-me ele que era apenas uma questão de «ementa»; os novos eleitos apenas deixaram de comer na tasca do mercado, passando a frequentar o restaurante mais fino da cidade, e o antigo poder fez o percurso inverso, regressando à tasca do mercado.
 Foi uma resposta desconcertante, mas porque sou frequentador ocasional dos dois locais, pude constatar, algum tempo depois, o acerto de tal diagnóstico.
Foi uma resposta desconcertante, mas porque sou frequentador ocasional dos dois locais, pude constatar, algum tempo depois, o acerto de tal diagnóstico.
De facto, as decisões humanas sempre foram governadas pelo funcionamento intestinal, mudando o poder apenas o preço e o requinte da ementa do que os políticos comem.
Já estou a imaginar o caro leitor, senão incrédulo, pelo menos de «pé atrás» com o insólito de tal afirmação.
Mas de insólito esta nada tem. É a boca que governa o mundo!
Com efeito, já Voltaire defendia esta tese, ainda que de forma mais elaborada, acentuando não o papel da boca, mas da digestão nas decisões políticas, quando pôs o anatomista Sidrac in «Os ouvidos do conde Chesterfield e o capelão Goudman», a dizer que «todos os negócios deste mundo dependem da opinião e da vontade de um principal personagem, seja o rei, ou o primeiro-ministro, ou alto funcionário. Ora, essa opinião e essa vontade são o efeito imediato da maneira como os espíritos animais se filtram no cérebro e daí até a medula alongada; esses espíritos animais dependem da circulação do sangue; esse sangue depende da formação do quilo; esse quilo elabora-se na rede do mesentério; esse mesentério acha-se ligado aos intestinos por filamentos muito delgados; esses intestinos, se assim me é permitido dizer, estão cheios de merda».
– Que acontece então a um homem com prisão de ventre? – filosofava Siderac – Os elementos mais tênues, mais delicados da sua merda, se misturam ao quilo nas veias de Asellius, vão à veia-porta e ao reservatório de Pecquet; passam para a subclávia; penetram no coração do homem mais galante, da mulher mais faceira.
É uma orvalhada de bosta que se lhe espalha por todo o corpo. Se esse orvalho inunda os parênquimas, os vasos e as glândulas de um atrabiliário, o seu mau-humor transforma-se em ferocidade; o branco de seus olhos se torna de um sombrio ardente; seus lábios colam-se um ao outro; a cor do rosto assume tonalidades baças. Ele parece que vos ameaça; não vos aproximeis; e, se for um ministro de Estado, guardai-vos de lhe apresentar um requerimento. Todo e qualquer papel, ele só o considera como um recurso de que bem desejaria lançar mão, segundo o antigo e abominável costume dos europeus. Informai-vos habilmente de seu criado se Sua Senhoria foi aos pés pela manhã.
Isto é mais importante do que se julga. A prisão de ventre tem produzido às vezes as mais sanguinolentas cenas. Meu avô, que morreu centenário, era boticário de Cromwell; contou-me muitas vezes que fazia oito dias que Cromwell não ia à privada quando mandou degolar o seu rei.»
E comprova a sua tese, Siderac, com os seguintes exemplos:
«Todas as pessoas um pouco a par dos negócios do continente sabem que o duque de Guise foi várias vezes avisado de que não incomodasse a Henrique III no inverno, enquanto estivesse soprando o nordeste. Em tal época, era com extrema dificuldade que o referido monarca satisfazia as suas necessidades naturais. Suas matérias lhe subiam à cabeça; era capaz, então, de todas as violências.
O duque de Guise não levou a sério tão avisado conselho. Que lhe aconteceu? Seu irmão e ele foram assassinados.
Carlos IX, seu predecessor, era o homem mais entupido do reino. Tão obstruídos estavam os condutos de seu cólon e de seu reto, que por fim o sangue lhe jorrou pelos poros.
Bem se sabe que esse temperamento adusto foi uma das causas da matança de S. Bartolomeu.
Pelo contrário, as pessoas que têm bom aspecto, as entranhas aveludadas, o colédoco fluente, o movimento peristáltico fácil e regular, que todas as manhãs, depois de comer, se desobrigam de uma boa evacuação, tão facilmente como os outros cospem; essas pessoas favoritas da natureza são brandas, afáveis, graciosas, benevolentes, serviçais. Um não na sua boca tem mais graça do que um sim na boca de um entupido.
Tal é o domínio da privada, que uma soltura torna muita vez um homem pusilânime. A disenteria tira a coragem. Não convideis um homem enfraquecido pela insónia, por uma febre lenta, e por cinquenta dejecções pútridas, para atacar um posto inimigo em pleno dia.
Eis por que não posso acreditar que todo o nosso exército estivesse com disenteria na batalha de Azincourt, como dizem, e que alcançou a vitória de calças na mão. Alguns soldados teriam ficado com soltura por haverem abusado de maus vinhos no caminho; e os historiadores teriam dito que todo o exército, enfermo, se bateu de bunda de fora, e que, para não mostrá-la aos peralvilhos franceses, bateu-os redondamente, segundo a expressão do jesuíta Daniel. E eis justamente como se escreve a História.»
Meus amigos, a boa e má política dependem do bom funcionamento da tripa e da vesícula de quem nos governa.
Uns exemplos para que percebam:
O Ricardo apresentava um ar de icterícia persistente, indício de problema de vesícula e de mau funcionamento da tripa.
O Tony, parecendo o mais escorreito, tinha o problema de saúde que toda a gente sabe e que logo adivinhei; resolvido o problema, o novo cargo que provavelmente vai assumir (por favor não perguntem qual; ficam a saber tanto como eu) será um bom teste à vesícula para daqui a três anos.
O Robalo tendo boa cor, sofre de inchaço da barriga, tal como eu, o que indicia digestões difíceis e morosas. Fará bom mandato, dependendo de como refrear o apetite e seleccionar a dieta dele e dos que lhe estão próximos.
Daí a minha indecisão no apoio a qualquer um.
É que, à falta de melhor critério, quando tenho de escolher um político decido sempre, segundo a teoria de Voltaire, em função da vesícula dos candidatos. Têm pele macilenta, ar enjoado, inchaço da barriga, cólicas, irritabilidade? Não voto. Têm boa cor, boa forma física, serenidade? Voto.
O problema é que, não sendo médico, e tratando-se a politica de uma ciência inexacta, às vezes engano-me.
Também não tinha à vontade para chegar ao Ricardo ao Tony e Robalo e confrontá-los com a pergunta:
– O candidato vai regularmente à privada?
Isso são coisas no segredo dos deuses e da intimidade de cada um, como percebem… Por isso é que os políticos são como os melões. Só abrindo-os é que sabemos se estão maduros! E algumas vezes enfiamos o barrete…
«Arroz com Todos», opinião de João Valente
joaovalenteadvogado@gmail.com

 Clique para ampliar
Clique para ampliar Clique para visitar a Caracol Real
Clique para visitar a Caracol Real Clique para visitar Vinhos de Belmonte
Clique para visitar Vinhos de Belmonte Clique para ampliar
Clique para ampliar



 Clique para ver o blogue oficial
Clique para ver o blogue oficial


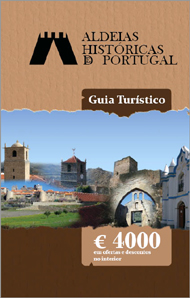


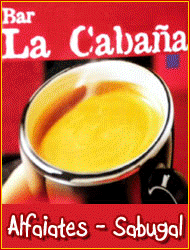
 Clique para ver a página web
Clique para ver a página web
 Clique para visitar
Clique para visitar Clique aqui
Clique aqui Clique para visitar
Clique para visitar Clique para visitar
Clique para visitar
 Clique para ampliar
Clique para ampliar







 Clicar na imagem para aceder
Clicar na imagem para aceder Clicar na imagem para ver
Clicar na imagem para ver Clique para ver o calendário
Clique para ver o calendário
Comentários recentes