O Casteleiro é / era uma terra rica? As famílias viviam todas bem naqueles anos 50? Não. Mas conheço terras onde havia maior percentagem de pobres muito pobres e bem menos famílias a viverem bastante bem. Agora dizermos que se vivia bem, não. Se não, não tinha havido tanta fuga para a emigração. Nem tanta migração para outras zonas do País.

 Na minha aldeia, aliás, sempre houve emigração. Nos anos 20, duas ou três pessoas foram para a Argentina. Depois, nos anos 40 e sobretudo «nos» 50, sazonalmente iam trabalhar para o Ribatejo e para o Alentejo. Muita juventude «fugiu» sempre para Lisboa – e por cá se organizou a vida toda. Alguns, para Angola; poucos, para Moçambique. Mas o «boom» mesmo foi nos anos 60. Do Casteleiro, como de todo o interior Centro e Norte, para a Suíça e Alemanha, mas sobretudo para a França, saíram pessoas aos milhares. Tudo o que era gente jovem, rapazes e homens até aos 40… fronteira, a «salto», e ala que se faz tarde. Sofreram, trabalharam, foram escravizados. Mas singraram. Melhoraram a vida deles e das famílias – muitas das quais depois se juntaram aos pais. De caminho, meia dúzia de pessoas foram ainda para o Canadá nessa mesma época.
Na minha aldeia, aliás, sempre houve emigração. Nos anos 20, duas ou três pessoas foram para a Argentina. Depois, nos anos 40 e sobretudo «nos» 50, sazonalmente iam trabalhar para o Ribatejo e para o Alentejo. Muita juventude «fugiu» sempre para Lisboa – e por cá se organizou a vida toda. Alguns, para Angola; poucos, para Moçambique. Mas o «boom» mesmo foi nos anos 60. Do Casteleiro, como de todo o interior Centro e Norte, para a Suíça e Alemanha, mas sobretudo para a França, saíram pessoas aos milhares. Tudo o que era gente jovem, rapazes e homens até aos 40… fronteira, a «salto», e ala que se faz tarde. Sofreram, trabalharam, foram escravizados. Mas singraram. Melhoraram a vida deles e das famílias – muitas das quais depois se juntaram aos pais. De caminho, meia dúzia de pessoas foram ainda para o Canadá nessa mesma época.
Falo da emigração apenas para referir a vida difícil e para concluir uma coisa: se havia tanta ocupação em artes, ofícios, agro-pecuárias, agro-indústrias… se isso fosse rentável, as pessoas não tinham fugido para as Franças…
Pagamento em espécie e maquia
Claro: muitas destas ocupações que aqui trago hoje eram de subsistência. Não davam dinheiro. A maior parte das pessoas pagava em géneros: um pouco de batatas, umas cebolas, uma parte do produto agrícola em causa – e estava pago.
Falo, neste caso, do que se designava por «maquia»: pagamento com farinha por ter sido moído o centeio, por exemplo. Era a maquia: a parcela que ficava na moagem, nesse caso.
Mas muitas outras tarefas e serviços eram pagos assim.
Por exemplo: o nosso barbeiro mais famoso, o ti’ Nàciso (o Sr. Narciso, aliás oriundo de Alfaiates), também era uma espécie de enfermeiro e quase médico. Pois os seus serviços nessa área eram pagos em géneros, muitas vezes. Ou porque ele queria ou porque as pessoas não tinham mais nada para pagar.
Era uma economia muito de trocas directas, embora se vendessem produtos: muita batata, milho, centeio, azeite e vinho com seus derivados – aguardente, agua-pé e jeropiga; depois veio a era dos pomares e vendia-se muita fruta; vendia-se algum trigo, alguma castanha (há mais é nas terras mais frias do que o Casteleiro); vendia-se madeira, melancia nas feiras das redondezas. E pouco mais. Nos anos 40 vendeu-se imenso minério pois a aldeia tem muito (volfrâmio e estanho, segundo dizem).
Artes e ofícios, indústrias e artesanatos
Sempre houve ocupações diversificadas nesta terra. Havia uma moagem, vários pedreiros, alfaiates, sapateiros (três), costureiras/modistas – mas cada mãe era a costureira da sua própria casa, não esquecer. Muitas mulheres davam ao fuso da roca no trabalho do linho (fiar, chamava-se). Havia duas ou três tecedeiras – tecelãs –, para trabalharem o linho já pronto para fazer tecido e depois vestuário ou roupas de cama etc..
Havia quem preparasse as tiras de tecidos para fazer as mantas de farrapos, que eram encomendadas aos farrapeiros que vinham de fora. Do Dominguiso, penso.
Havia então uma moagem e havia dois fornos.
Havia ferreiros, latoeiros. Havia carpinteiros. Mas os «artistas» (!) eram os da pequeníssima «construção civil»:
– Amanhã trago cá um artista a fazer a parede.
Havia um sector de transportes (táxi, carrinhas, camionetas).
Mas, por exemplo, não havia tractores para alugar: apenas duas ou três famílias tinham tractor e era nesse tempo para seu serviço.
No campo das agro-indústrias e do agro-artesanato, honra seja feita ao Casteleiro que sempre teve muitas unidades dessas áreas. Aliás, isso não era novo no século XX: já em meados do século XVIII havia «sete moinhos e três lagares de azeite, dois pizoins e algum dia teve também um tinte, porém hoje se acha demolido» – como dizia o tal Padre Leal no relatório ao Marquês. Ele fala de lagares à beira da ribeira. Eram os de azeite. Duzentos anos depois, no meio do século XX havia pelo menos três ainda.
Falta dizer que muitas casas tinham também lagares de vinho. Mas muita gente o fazia em dornas, como se sabe.
Na minha meninice, havia três a quatro comerciantes estabelecidos (tabernas e lojas do tipo mini-mercado com comidas e tecidos) e havia mais uns três que compravam e transportavam produtos da terra ou madeiras.
Fabriquetas
Nos anos 40, como já escrevi há tempos, houve no Casteleiro uma «separadora» de minério. Eram uns «fornos» de alta temperatura para o volfrâmio e outros metais recolhidos nas ribeiras e linhas de água no meio das serras.
Nas «Memórias Paroquiais», que já acima referi, o Cura Manuel Pires Leal fala então muitas formas de artesanato, como transcrevo.
Esclareço que um pisão (os tais «pizoins» do Padre Leal) é uma fabriqueta em que o pano era compactado, para ficar mais consistente e tapado. E o tinte era afinal uma tinturaria – no local ainda agora chamado Tinte por essa razão, tinturaria essa que já não existia em 1758.
Mas como se vê o Casteleiro mexia muito. E havia bastantes artes e ofícios e muito quem fizesse outras actividades complementares que não apenas o cultivo agrícola.
Ah! E queijos de toda a espécie: de leite de vaca, cabra, ovelha.
Fresco ou curado.
E requeijão.
E coalhada.
E soro.
Eh, pá. Que delícia…
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes

 Clique para ampliar
Clique para ampliar Clique para visitar a Caracol Real
Clique para visitar a Caracol Real Clique para visitar Vinhos de Belmonte
Clique para visitar Vinhos de Belmonte Clique para ampliar
Clique para ampliar



 Clique para ver o blogue oficial
Clique para ver o blogue oficial


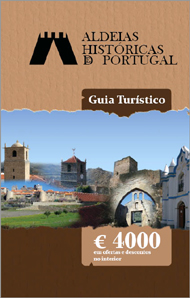


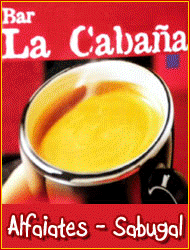
 Clique para ver a página web
Clique para ver a página web
 Clique para visitar
Clique para visitar Clique aqui
Clique aqui Clique para visitar
Clique para visitar Clique para visitar
Clique para visitar
 Clique para ampliar
Clique para ampliar







 Clicar na imagem para aceder
Clicar na imagem para aceder Clicar na imagem para ver
Clicar na imagem para ver Clique para ver o calendário
Clique para ver o calendário
1 comentário
Comments feed for this article
Sexta-feira, 16 Setembro, 2016 às 14:12
M.A.
Pessoas como o Sr. José Carlos, fazem falta no meio da abafadora modernidade onde já ninguém sabe de onde vem, o que penaram os seu pais e avós para hoje estarem no mundo. Alheios a todas as dificuldades de outros tempos, deliciam-se com o comodismo sem nunca se terem preocupado em saber de onde vêm as suas raízes.
Tem portanto uma grande tarefa em mãos, o desenterrar dessas raízes e trazê-las a lume para que não caiam no esquecimento.
A perfeição das moedas atuais é de tal forma elevada que surpreende, mas basta um olhar e pronto. No entanto, olhar um ceitil, cunhado por volta de 1400, do tempo de D. João V, ocupa-me horas a tentar desvendar as legendas. Aquilo que não volta, tem um chamamento muito particular.
Em jeito de sugestão, não se limite a mencionar as situações. Desenvolva-as. Mostre como elas eram. Divulgue-as pois sabe bem.