Nas últimas semanas escrevi sobre questões sérias. Sobre temas históricos da nossa região. Confesso que preciso de mudar de assunto. Preciso de aliviar. É que as matérias históricas obrigam a um rigor e portanto um esforço – primeiro, de investigação, depois de rigor de escrita – que me afecta o descanso… Assim, hoje, trago duas personagens mirabolantes do Casteleiro.

 Eram pai e filho. O pai, o ti Nà’ciso, sobre o qual já escrevi, era de Alfaiates. Arraiano puro. Daqueles que, mesmo que vivesse mil anos, nunca perderia nem o sotaque nem as maneiras. Eu sempre gostei dele (menos quando me arrancava os dentes a frio – possa, como diz o outro!). Era o Sr. Narciso. Barbeiro, médico e enfermeiro da terra. Quando digo médico, não é daqueles que pertencem à Ordem. Não. Era daqueles que curavam as pessoas e sabiam o que receitar para cada caso. E as pessoas acreditavam nele, mesmo mais do que nos médicos, faziam religiosamente o que prescrevia – e as farmácias do Sabugal, de Caria, de Belmonte, aviavam as «receitas» dele, escritas em papel pardo ou em restos de folhas de caderno de escola. O que ele «receitava» era lei: para doentes e família, mas também para as farmácias.
Eram pai e filho. O pai, o ti Nà’ciso, sobre o qual já escrevi, era de Alfaiates. Arraiano puro. Daqueles que, mesmo que vivesse mil anos, nunca perderia nem o sotaque nem as maneiras. Eu sempre gostei dele (menos quando me arrancava os dentes a frio – possa, como diz o outro!). Era o Sr. Narciso. Barbeiro, médico e enfermeiro da terra. Quando digo médico, não é daqueles que pertencem à Ordem. Não. Era daqueles que curavam as pessoas e sabiam o que receitar para cada caso. E as pessoas acreditavam nele, mesmo mais do que nos médicos, faziam religiosamente o que prescrevia – e as farmácias do Sabugal, de Caria, de Belmonte, aviavam as «receitas» dele, escritas em papel pardo ou em restos de folhas de caderno de escola. O que ele «receitava» era lei: para doentes e família, mas também para as farmácias.
Um arraiano puro e bem disposto
O Sr. Narciso tinha vindo de Alfaiates com 20 e poucos anos, arregimentou-se no Casteleiro e por ali ficou para sempre. Tinha de tudo: momentos hilariantes, sempre com um sorriso, zangas monumentais e célebres, cada «turina» de caixão à cova…
Mais tarde, por via do meu casamento, tornei-me seu sobrinho. Para mim, passou a ser o ti Nàciso e pronto. Quando me lembro dele, vejo-o sempre a sorrir.
Como digo, era arraiano 100%.
Não só pelo «génio» arreganhado quando lhe chegava a mostarda ao nariz, mas também pelo modo de falar.
Era respeitado e quase endeusado, pelo bem que fazia como «médico» popular. Naquele tempo, não esquecer, não havia Serviço Nacional de Saúde… não havia transportes para as farmácias, não havia acesso fácil aos cuidados médicos, como há hoje, apesar de estarmos sempre a protestar… mas era bom que a malta soubesse que para trás estava uma grande miséria nestas e noutras matérias.
Tinha expressões únicas.
A malta nova adorava-o. Por muitas razões.
Há histórias do arco-da-velha com ele.
Conto uma porque esta se liga com os modos de falar.
Ele estava quase sempre a jogar às cartas, nos seus tempos livres, que eram muitos. Quando chegava a hora das refeições, a malta interrompia, ninguém mexia nas cartas e daí a meia horita, já comidos, retomava-se a coisa.
Umas situações repetidas com o ti Nàciso é a que segue.
O homem vem a correr rua abaixo, desde o café.
Chega ao meio da praceta, sempre em passo ligeiro, e grita com aquele seu modo de falar meio cantado, para a mulher, uma santa e mãe da paciência:
– Ó Zabeli, o qu’é que se come hoji?
E ela, com toda a calma, bonacheirona, como ela era mesmo, lá da varanda ou da janela:
– Caldo verde.
A resposta dele era sempre a mesma, todas as vezes que havia caldo verde:
– Caldo de queubis?? Còmi-o tu!
Escrevi o som eu de couves, como ele o pronunciava, «em francês», porque é o som mais aproximado que conheço e acho que a maioria dos leitores saberá pronunciar isto em francês…
Ainda hoje, quando se fala disto, toda a gente que o conheceu se ri a bom rir. Tanto mais quanto é certo que era famoso o gosto estranho do ti Nàciso em matéria de caldo verde: para o comer, tinha de lhe pôr açúcar.
«Ma Volvô»!
Os netos do ti’ Nàciso, ele com nove ou dez, ela com apenas seis ou sete anos de idade, vieram a Portugal pela primeira vez conhecer a terra do pai e dos avós. A mãe, cidadã francesa, também.
Uma tarde, o pai (filho, portanto, do ti Nàciso), emigrante há mais de 20 anos em Dijon mas que, como técnico de meios-frio, já tinha estado por essa África fora ao serviço da sua famosa empresa, a Japy, pegou no seu Volvo absolutamente novo e quis dar uma volta pelas ruas da aldeia. Aquele carro era enorme para aquelas ruas. Era parecido com o da foto – imaginem o furor que fez numa terra onde os carros locais iam da 4L (a célebre «càtrele» tão referida pelos emigrantes) até aos Austin, Ford Fiesta, sendo que mesmo os emigrantes não iam além do Peugeot 404 e do Renault 19.
Pois bem. O Balé de boa memória meteu então o luxuoso Volvo por aquelas ruas acima, pela parte antiga da aldeia, as ruelas ainda mais apertadas e às tantas chegou a uma curva onde o Volvo não cabia mesmo. Mas ao Balé nessa altura nada se lhe metia à frente. Sobretudo àquela hora e bem bebido como já estava e chateado. E vai de acelerar a apertar o carro contra as paredes de um lado e do outro. E recuava e o carro «encolhia».
Certo é que o carro novo e belo ficou todo amassado dos lados.
Vem a mulher, os filhos, a família, os vizinhos – todos para ver os efeitos da coisa.
E, por entre os «ah!s», sobressaía a vozita da miúda, horrorizada com a imagem do seu carro (digo em francês, para perceber o que vai seguir-se: «avec l’image de sa voiture». Ou seja, carro em francês diz-se «voiture» e é feminino).
Os gritos da miúda eram lancinantes naquela rua toda:
– Oh, ma Volvo, ma Volvo! Oh, ma Volvo, ma Volvo!
(Para melhor colorido, diga como ela dizia: «volvô», com acento nesse último ô).
Ficou célebre para sempre na família o «Oh, ma Volvo, ma Volvo!» da miúda.
Nota
Provavelmente escapou a muitos leitores o conteúdo dos comentários, alguns bem interessantes das duas últimas peças sobre a minha aldeia. Pode aceder a eles aqui e aqui. Vai gostar, se gosta destas coisas do muito antigamente (algumas de há 4 mil anos, veja lá…).
«A Minha Aldeia», crónica de José Carlos Mendes

 Clique para ampliar
Clique para ampliar Clique para visitar a Caracol Real
Clique para visitar a Caracol Real Clique para visitar Vinhos de Belmonte
Clique para visitar Vinhos de Belmonte Clique para ampliar
Clique para ampliar



 Clique para ver o blogue oficial
Clique para ver o blogue oficial


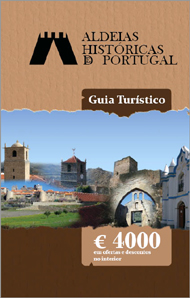


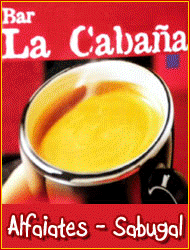
 Clique para ver a página web
Clique para ver a página web
 Clique para visitar
Clique para visitar Clique aqui
Clique aqui Clique para visitar
Clique para visitar Clique para visitar
Clique para visitar
 Clique para ampliar
Clique para ampliar







 Clicar na imagem para aceder
Clicar na imagem para aceder Clicar na imagem para ver
Clicar na imagem para ver Clique para ver o calendário
Clique para ver o calendário
2 comentários
Comments feed for this article
Quarta-feira, 27 Junho, 2012 às 19:45
jose antonio
Cum catanho! «Turina» há’canos não ouvia esta expressão, cáq pela beiralitoral.
Um abraço
Quarta-feira, 27 Junho, 2012 às 23:58
José Carlos Mendes
🙂 🙂
Acompanhando a própria realidade, na minha terra havia várias maneiras de referir o mesmo fenómeno:
– Turina
– Tosga
– Borratchêra
– Bubadêra
– …
E havia gradações:
– Estar contente
– Estar alegre
– Estar quente
– Estar a cair de bêbado
– …
Enfim. Diversificada linguagem…
E aí pela Beira Litoral não era assim????